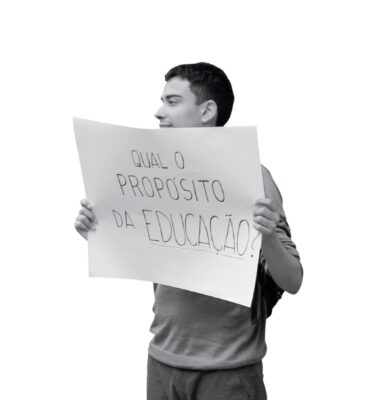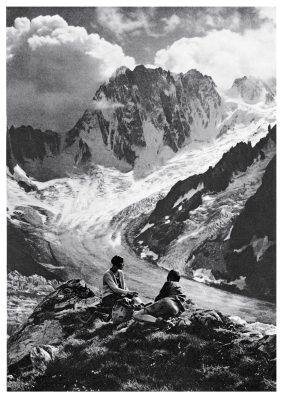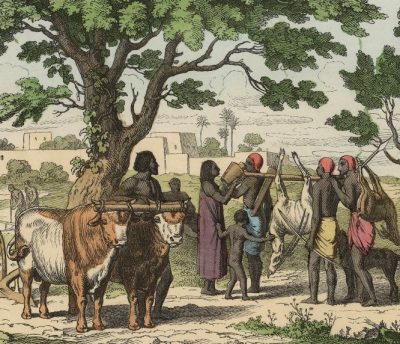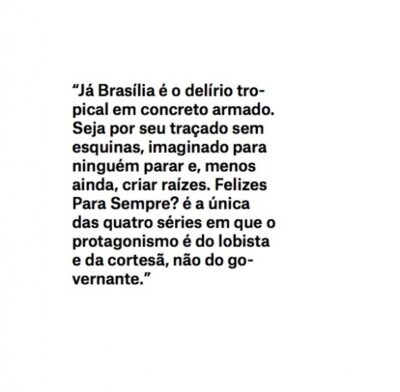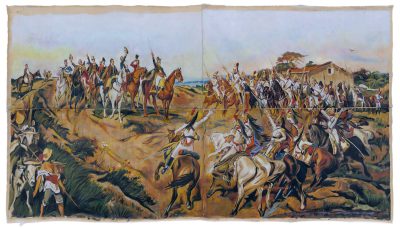Como se deu o encontro do que veio a ser a banda Cisma?
Bartolo: O primeiro contato que a gente teve a respeito de fazer alguma coisa foi quando o Marco e a Luísa me procuraram com umas músicas deles, querendo saber se eu queria produzir o disco. Eu escutei as músicas e gostei muito, achei que dava para fazer um disco ótimo. A ideia era que eu entrasse como produtor, mas não existia uma banda. Eram as músicas do Marco, da Luísa, e algumas com outros parceiros. As músicas existiam assim, eram umas demos que eles tinham feito em casa. Eu vi que ia acabar participando um bocado como instrumentista também, porque não tínhamos muito uma configuração de como tocar as coisas. Ia ser algo criado desde o início mesmo. Começou o processo assim: fizemos uns encontros só para descobrir as músicas, ficar tocando e vendo o que elas poderiam sugerir em termos de arranjo, o que poderíamos fazer, se daria para fazer coisas só nesse núcleo de nós três, se viriam outras pessoas, como viriam e quem seria. Esse início foi até bastante longo, foram pelo menos uns três meses em que ficamos rodando ali as músicas, tocando e vendo o que acontecia. Até dar um clique e começar a caminhar mais num ritmo de gravação mesmo.
Quanto tempo levou do começo da gravação até a finalização?
Luísa: A gente demorou um bocado mesmo no começo, batendo cabeça, porque era tudo abstrato. Nós tínhamos desejos, ideias, mas a maioria estava só na cabeça. Era uma coisa assim: imaginava isso, imaginava aquilo, e não tinha como fazer. Nos primeiros três meses, ficamos muito no tenta ali, tenta aqui. Tem alguns marcos ao longo desse processo, que foram momentos de chegar alguém e gravar algum instrumento e dar um: “Ah, opa! Isso começou a ficar com aquela cara que a gente imaginava”. Ou não a que a gente imaginava, outra, mas uma cara linda. Quando entraram as baterias, do Domênico Lancellotti e do Marcelo Callado, por exemplo, e quando entrou o piano do Marcelo Caldi, acho que esse foi o primeiro momento.
Nós começamos a conversar em março de 2017 e terminamos de gravar instrumentos exatamente dois anos depois. Claro, teve pausa. Eu lembro que teve um momento, logo no primeiro ano, em que paramos totalmente por três meses. Estava todo mundo enlouquecido.
Bartolo: Teve uma peça de teatro em que eu toquei, Lá Dentro Tem Coisa.
Luísa: Eu tive umas viagens de trabalho. Lembro que ficamos, no primeiro ano, três meses parados. Aí voltamos. Acho que o ano de 2018 foi o mais efetivo, em que a gente fez a maior parte das coisas. E terminamos em fevereiro de 2019, mas o Bartolo veio para Portugal e ainda fez uma última gravação aqui, mais ou menos em março do ano passado, e mandou. E teve o processo de mixagem e mais toda a finalização. Acho que o disco está pronto desde julho do ano passado.
Bartolo: É, porque primeiro a gente terminou e, como teve todo esse processo da minha mudança para cá [Portugal] também, a gente não tinha feito uma prospecção. Quando eu vim para cá, em fevereiro do ano passado, estavam praticamente finalizadas as mixagens. Essa gravação que eu fiz aqui foi realmente uma pós-produção, um negocinho que ficou faltando, que eu fiz com o Ricardo Dias Gomes e mandamos de volta. Mas eu acho que o curioso, para mim, é que foi um processo muito atípico de fazer um disco. Acho que hoje em dia a gente está num momento da fonografia que você pode escolher qualquer maneira de fazer um disco – desde as coisas mais à moda antiga que você imaginar, que estão disponíveis e podem ser acessadas dependendo das possibilidades tanto financeiras quanto de infraestrutura de estúdio e tal, até coisas totalmente atuais, o mais home studio possível, e muita coisa no computador. Todo o espectro está disponível. E, para mim, como produtor, minha cabeça fica trabalhando no sentido de como vai ser feito determinado trabalho, desenrolando em cima de uma ideia. Porque isso diz respeito a muita coisa: se vai ter muito ensaio, se vai ter pouco ensaio, se precisa de sala grande, qual infraestrutura você precisa no estúdio, quanto vai gastar. A maneira como você imagina que vai fazer um disco dita muito sobre o processo. E, nesse caso, a gente teve uma coisa que foi excelente – o Moreno [Veloso] deixou a gente usar o estúdio dele sem taxímetro rolando. A gente tinha o tempo que quisesse para ficar lá. Isso foi muito bom, porque deu para testar as músicas. Esses três meses de teste foi uma coisa que nunca aconteceria se não fosse isso de ter o estúdio à disposição.
Marco: Acho que é importante dizer que eu e Luísa não tínhamos experiência nenhuma de estúdio. Nesses três meses de experiência, foi o Bartolo com muita paciência aqui a ver conosco. Só podia ser o Bartolo a fazer isso, porque a gente não sabia nada. Muita, muita paciência da parte dele, e aos poucos nós adquirimos a confiança. É importante, quando a pessoa toca em estúdio, a pessoa estar confiante para fazer alguma coisa minimamente razoável… E foi assim.
Luísa: Não teria sido possível, mesmo, sem o estúdio do Moreno e a paciência do Bartolo. Não só a paciência – a paciência, a guitarra, o baixo, tudo. Mas, realmente, isso foi fundamental, eram condições muito privilegiadas. Teve essa conjunção. O Moreno estava fora e, mesmo morando fora, não precisava fazer isso, mas teve essa generosidade de nos deixar lá, soltos.
Quando vocês gravaram, estava todo mundo no Rio e usando o estúdio do Moreno. Mas muitos dos músicos que estão no disco estão vivendo essa “ponte” Portugal-Brasil, como o Ricardo Dias Gomes e o Domenico. Mas, na época, em 2017, ainda estava todo mundo no Brasil? As músicas foram pensadas aí em Portugal ou aqui no Brasil?
Marco: A gravação do Ricardo Dias Gomes foi aqui em Lisboa, com o Bartolo.
Luísa: O Bartolo já tinha passado um ano e meio em Portugal e tinha voltado. A gente não tinha Portugal na cabeça. O Marco é português, mas ele estava vivendo no Brasil, e todos os músicos participantes também estavam vivendo no Brasil. Imagina, de 2017 para 2019, o tanto de coisa que não aconteceu no entorno e, desde então, não para de acontecer, né? O disco é 100% localizado no Rio, e todos os músicos viviam lá na época. Agora, está acontecendo muito, né, essa conexão com Portugal. E, por acaso, viemos nos encontrar aqui um tempo depois. Quer dizer, um pouco por acaso e um pouco por vontade, ou sorte.
O disco passeia por diversos ritmos e ambiências sonoras. “Só”, por exemplo, começa com um solo de cuíca, que abre o disco. “Fim” tem uma tensão que lembra trilha sonora de filme. “Bilhete” explora ruídos. Como foi pensar os arranjos e as composições?
Luísa: As músicas foram feitas ao longo de muito tempo e em situações completamente díspares, então elas pediam coisas muito diferentes. Elas têm ambiências muito diferentes. Esse foi outro desafio. Pensar: caramba, como é que a gente vai dar uma unidade para esse troço, como é que isso vai virar um disco, qual vai ser a ordem. Porque a gente via cada música separadamente. Depois, a gente foi percebendo quais delas conversavam entre si, e pensava “que tal botar mais essa coisa nessa e juntar?”. Mas foi muito devagarzinho. Fomos percebendo isso ao longo do tempo.
Eu li uma outra entrevista que vocês deram falando que o Marco tinha aprendido a tocar um instrumento árabe…
Luísa: Não era um instrumento, era uma escala.
Marco: Ah, sim. Eu aprendi na flauta transversal com um amigo que toca, Eduardo Sérgio, que o Bartolo também conhece. Ele viaja muito e descobriu essa escala turca em um hotel na Turquia. No almoço do hotel tinha um pianista, e ele pediu para se juntar, subiu ao quarto, buscou o clarinete e começou a tocar com o pianista. Aquilo não funcionou bem, e o pianista, depois, sugeriu uma escala que foi a que usamos para “Sherazade (Canção de Ninar)”. Nós acrescentamos uma nota à escala – ela pedia uma nota extra, não ficou bem a escala certa, mas foi inspirada nessa música lá da Turquia.
E, Luísa, todas as letras são suas?
Luísa: Tem duas que são parcerias. A música “Cisma” tem parceria com o Quito Ribeiro. Fizemos a música nós três, depois eu mandei a letra e o Quito deu sugestões maravilhosas que foram incorporadas. E a letra da “Canção de Empédocles” foi baseada em um poema. Não é uma musicalização de um poema porque não tem nenhum verso do poema, mas tem palavras, imagens, pedacinhos. “Canção de Empédocles” é uma letra em parceria com o Fernando Santoro, que não é músico, mas professor de Filosofia. Ele foi meu orientador de tese e é um parceiro de trabalho constante. E também é poeta. A história dessa música foi assim: ele ouviu a música que depois ficou batizada como “Réquiem”, que também é uma música de inspiração grega, do mito de Pandora – eu mostrei a ele porque comecei a cantarolar e compor essa música numa situação de universidade, num evento. Mostrei para ele, e ele falou, “ah, você podia fazer isso com o poema de Empédocles também”. Ele tinha traduzido os fragmentos do poema de Empédocles, poeta de 2500, 2600 anos atrás, e depois fez o dele também muito livremente inspirado, e aí eu fiz a música também livremente inspirada no poema dele. E, quando mostrei a letra, ele deu sugestões de mudanças que ficaram bem legais.
“Máquina planetária” é uma música que fala de um acontecimento real, uma tragédia que parece que ter sido uma das muitas que viriam, que é o acidente da barragem em Mariana. E ainda veio Brumadinho, o Museu Nacional, o Impeachment, a eleição de 2018, a pandemia, a crise que a gente vive agora. Todas elas têm uma relação com disputas de poder e envolvem “a mão tirana do algoz”, que é um dos versos da canção. Queria saber se vocês consideram que a música e a filosofia se encontram inevitavelmente. Bem como a questão social e política, como isso se expressa na música?
Luísa: Eu não acho que tenha uma relação necessária entre música, filosofia e política. Mas, no meu caso, como eu sou professora de Filosofia – é assim que eu me defino; não sou filósofa, sou professora de Filosofia; professora, especialmente, de História da Filosofia –, são temas com os quais eu lido, que ficam pairando aqui na minha cabeça. Para mim, se torna quase que inevitável isso se materializar nas letras das músicas. E o engraçado é que essa música, por exemplo, eu acho que, se não me engano, foi composta em 2015 – não tinha nem tido golpe ainda. Tem um traço que é muitas vezes a fraqueza da filosofia, mas que também é sua força, que são tendências generalizantes. Tem a menção à Mariana na música, tem um evento específico ali, mas o resto todo é mais genérico. É uma tendência que eu tenho de, muitas vezes, ser, digamos, generalista – que pode ser muito ruim, mas também tem esse lado de várias situações diferentes poderem caber ali. Eu acho engraçado, porque você ouve e, às vezes, parece que é de agora, mas não necessariamente. Na verdade, se você for prestar bastante atenção, tirando a lama, a lama de Mariana, a lama que vai chegando à foz, serve para muitas coisas. Foi essa a sensação que eu tive.
Muitas vezes, tenho uma dificuldade de contar histórias mais específicas nas músicas. Eu vejo isso como um defeito, mas, no caso dessa música, acabou ficando interessante, porque você encaixa: “ih, está falando disso, está falando disso”, ou nem estava falando disso, porque isso nem tinha acontecido ainda, mas também se encaixa.
Bartolo: Tem uma coisa que eu acho curiosa. Do jeito que está a coisa no Brasil e no mundo – eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, achei que estava só na minha cabeça, depois vi que isso é uma coisa coletiva –, há uma sensação de ressignificar as letras, as canções. Tem várias coisas que eu tenho escutado, antigas, que eu não escutava há um tempão, e que parecem estar tomando outros significados. Aquela letra que você já ouve há décadas. E eu acho que é esse turbilhão de coisas que a gente está vivendo que faz a gente entrar nessa viagem de ressignificar. Eu acho que, nesse sentido, esse disco tem letras muito ricas. A parte do disco que eu acho que tem as letras mais pesadas, vamos dizer assim, mais densas, parecem mesmo que foram feitas agora, mas tem esse espectro de tempo em que a coisa aconteceu. E aí eu acho que entra uma outra coisa que é engraçada, que eu gosto muito em arte, de maneira geral, que é o imponderável. Você não doma muito o objeto artístico. Eu acho que isso é uma das grandes riquezas de colocar arte para fora, de se comunicar com as pessoas. É isso que eu vejo no disco: as letras da Luísa soam tão atuais, como se tivessem sido feitas nos últimos seis meses. E, na verdade, é muito mais do que isso. Acaba dizendo respeito a um timing que o disco teve; entrou numa hora em que eu acho que tem muito a ver entrar, e isso é o imponderável, sabe? Se a gente tivesse terminado o disco um tempo atrás, se a gente não tivesse ficado tanto tempo vendo se ia lançar independente ou fazer parcerias com selos, e não sei o quê… Mas aí as coisas acontecem, de uma maneira ou de outra. É o imponderável.
E como foi lançar num momento em que o mundo vive sob o risco e a incerteza de uma pandemia, com quarentena, etc.?
Luísa: Nós temos, todos, outros trabalhos. A falta de trabalho na pandemia possibilitou o esforço final de botar o negócio no ar, porque foi tudo feito por nós, batendo cabeça e aprendendo. O Bartolo ensinando um bocado aqui, até como se registra o fonograma. Essa parte toda de internet foi um enorme esforço. O Marco conseguiu se dedicar muito a isso na pandemia. E foi isso, assim, do jeito que deu. Então, claro, dificulta para o lançamento, mas possibilitou a dedicação final de tempo, que é necessária para colocar online.
Bartolo: Tem uma coisa curiosa nessa pandemia. As pessoas estão em casa e ávidas… porque, se tem uma coisa que ficou óbvia, é que as pessoas não aguentam 72 horas sem arte. No dia a dia, sem pandemia, eu sentia muitas vezes que vários lançamentos de amigos meus, de bandas que eu gostava ou gostaria de escutar, de artistas ou coisas minhas mesmo, as pessoas estavam sabendo, mas num frenesi tão grande que dava para sentir que elas não tinham o momento de parar e escutar. E, agora, por mais que em casa esteja uma loucura – nós que temos criança em casa sabemos muito bem o que é a loucura de tudo isso que está acontecendo confinados –, é uma coisa meio urgente que você pare um pouco e tenha um momento de introspecção. Os privilegiados que podem, né? É urgente que você tenha um tempinho seu, escute um negócio direito, consiga ter um devaneio, uma viagem estética, uma coisa que alguém está te oferecendo, seja um amigo, uma banda ou um artista que você goste. E eu tenho sentido que as pessoas estão mais atentas, assim. Eu tenho recebido feedbacks de pessoas que eu sinto que escutaram mesmo. Isso tem sido excelente. Na verdade, essa é uma coisa que eu não sentia já há algum tempo. E esse é um efeito colateral, é isso que eu estou querendo dizer. No fim das contas, as pessoas agora conseguem parar e escutar um disco, o que não estava acontecendo tanto antes, eu acho. Eu mesmo tenho escutado muito mais coisa com atenção, apesar das dificuldades do dia a dia.
Luísa: É muito difícil generalizar. Para algumas pessoas, sim, há mais possibilidade; outras, com certeza, estão tendo muito menos, tendo que trabalhar tantas horas por dia no teletrabalho. E, com criança, então, tem gente que com certeza não está conseguindo ouvir nem meio CD. Mas, para outras pessoas, teve esse efeito colateral. E a música ainda tem uma vantagem, porque você pode colocar na sua casa enquanto você cozinha, enquanto você faz outra coisa, e consegue prestar atenção, não tem que estar parado na frente do computador. Para ver um filme, para ver uma dança, uma peça, aí você tem que realmente parar tudo e ver, e a música não. Acho que tem essa companhia que a música faz.
Acho que o lance do feedback também tem muito a ver com estar confinado, né? Se você não escrever para a pessoa, não ligar, você não vai falar com ninguém, então tem que criar a comunicação.
Luísa: Boa. Pode ser que não estejam ouvindo mais, mas estejam dando mais notícia.
Bartolo: Ou seja, pode ser que tudo o que eu falei aqui esteja errado (risos).
Acho que são milhões de possibilidades.
Luísa: Acho que, para algumas pessoas, foi isso, mas tem muitas configurações diferentes.
Bartolo: Mas tem acontecido isso. Eu tenho recebido muito feedback por escrito. É isso, as pessoas se comunicando.
Que bom que pelo menos acontece essa comunicação.
Luísa: É muito bom quando alguém dá um retorno assim, né?
Bartolo: É ótimo!
Luísa: Dá muita satisfação.
Bartolo: A sensação que eu tenho é que, quando você coloca uma obra de arte no mundo, é um impulso de comunicação, também. E aí volta um monte de coisa que você jamais tinha pensado, mas fazendo todo o sentido. Você cria uma rede de impressões e sentimentos daquilo que você fez. Isso eu acho que é o grande lance e que acontece mesmo numa situação como essa, em que a gente está. Mesmo em confinamento, a gente tem que manter esse fluxo, esse tipo de comunicação e compartilhar.
Ainda em “Máquina Planetária”, o verso que fecha a música diz: “uma saída avistarás”. Olhando para o Brasil de hoje aí de Portugal, o que vocês têm a dizer sobre um possível futuro para o nosso país?
Luísa: Olha, muito sinceramente, eu não avisto nenhuma saída. Eu sou bastante pessimista, não sou a melhor pessoa para responder a essa pergunta. Porque eu não avisto uma saída para o Brasil e eu também não estou avistando uma saída para o mundo. Porque o mundo acha que não tem nada a ver com o Brasil, mas tem (o mundo europeu, pelo menos, que é onde a gente está agora). Mas é interessante pensar que, por acaso, o final de “Arte da pesca” seja “Oxalá a sorte venha”. Quer dizer, eu não avisto uma saída, mas também a gente torce, né? Tomara que a sorte venha, mas é muito difícil responder isso porque depende se você se atém a um micro, a um tempo pequeno, médio, longo prazo. Qual é o corte que você vai fazer para dizer se alguma coisa melhorou ou piorou? Saída para o quê? Uma saída mínima que é possível talvez a gente possa ter em 2022, mas não vai ser uma saída mesmo, então é difícil falar…
Bartolo: É isso. Tentando fazer um corte, como a Luísa falou, eu acho que, desde o que começou a se circunscrever na época da Copa (ainda um pouco antes, em 2013), e que depois com o golpe e tal, eu acho que o Brasil entrou numa situação geopolítica em que era muito bom que ficasse nessa desorganização, nessa bateção de cabeça, nessa disputa interna, como está, porque eu acho que muita gente tira muito proveito disso. A indústria do petróleo, desde que descobriram o pré-sal até o golpe, você vê que é uma curva muito coincidente com a crise do Brasil. Tem muitos interesses que você consegue mapear e ver. Mas, no meio disso tudo, veio uma pandemia. E aí é novamente o imponderável. É muito difícil de tentar entender, porque parece que o negócio tá meio que regido por um caos, sabe? Tipo estar no meio do caixote. Você pegou uma onda, virou o caixote e, cara, só vai acabar quando acabar. Eu não sei, eu não consigo ver, num curto prazo, uma melhora, não. Mas quantas vezes a gente não viu, no Brasil, esse fluxo de estabilidade e instabilidade? Só que agora está muito temperado, tipo nunca antes visto. Os nossos pais viveram 1964 e foi terrível, e todo mundo sabe quão terrível aquilo foi, mas o que acontece agora não tem paralelo, não dá nem mais para comparar.
Luísa: Algumas várias desilusões acontecendo. Primeiro, achar que algumas mínimas, mínimas coisinhas básicas a gente já tinha conquistado, adquirido, e não. É o “só que não”. E outra coisa também é reconhecer que nunca conseguimos, mesmo nos pequenos bons momentos, assim, nos livrar dos nossos problemas estruturais mais profundos. Não chegamos nem perto disso. A única coisa que eu acho que nós podemos dizer que começou a acontecer é um reconhecimento maior disso por uma pequena parcela da população e… só. Reconhecer os problemas estruturais é o primeiro passo para, talvez, tentar começar a pensar.
É difícil pensar em uma solução para um conjunto enorme de problemas tão entrelaçados, tão complexos, tão antigos. Parece que a gente está em um nó górdio, e os problemas locais são também relacionados aos problemas globais. É tudo tão complexo que é muito difícil avistar uma saída, é muito difícil pensar em uma solução. Mas a gente pode pensar em pequenos recortes no espaço também. Existem algumas iniciativas locais, atualmente, que são muito interessantes, muito criativas, que dão uma sensação de uma lufada de ar fresco, de poder tirar a cabeça para fora d’água e respirar um pouquinho. De repente, a gente vê coletivos de vários tipos, artísticos ou de ativistas, de reivindicações, de… Não sei, modos de vida… Iniciativas tão interessantes, e eu acho que isso é uma coisa importante de ressaltar. Agora, está todo mundo confinado, atuando sempre nesse plano do virtual. Outro dia eu recebi um abaixo-assinado que tinha um título e um texto muito bonitos: “Enquanto houver racismo, não haverá democracia” – e esse é um título que eu acho absolutamente verdadeiro. Não dá para deixar de notar que, no meio dessa pandemia, está havendo uma importante reação antirracista mundo afora. Apesar de ser pelo pior dos motivos, pelo mais horroroso, pelo mais condenável, essa onda espontânea, de alguma maneira, não pode deixar de ser notada, e ela é grande, aparece em vários lugares do mundo. Esses são os nossos “oxalá sorte venha” que a gente ainda pode ver por aí, né?
Vocês chegaram a se apresentar?
Luísa: Não. A gente tinha a ideia de, talvez, fazer uma primeira apresentação de lançamento aqui, já que estamos aqui e tem, como você disse, outros músicos que participaram que estão aqui também e que poderiam se juntar a nós, mas agora não vai dar.
Marco: Quem sabe no futuro?
Luísa: Oxalá!