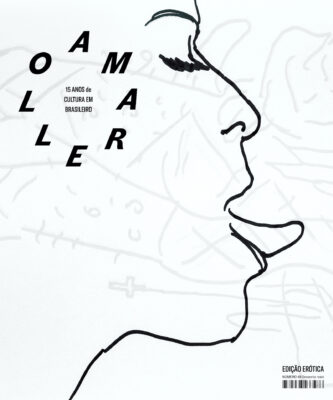O poder da voz
Sou Gean Ramos, cantor, compositor, filho do povo Pankararu. Sou o décimo segundo filho de seu Eronides e Dona Tida, meu pai negro, minha mãe indígena. Mamãe conta que, quando entrou em trabalho de parto, ainda em casa com as parteiras da comunidade, houve uma complicação. Era dia 15 de junho de 1980, mês chuvoso e meio frio no sertão pernambucano. Socorrida por um dos poucos carros que tinha na aldeia na época, fomos levados para Petrolândia (PE), já em trabalho de parto. Chegando no hospital, não foi possíveal sermos internados devido ao comprometimento da nossa saúde. A última opção foi o hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso (BA). Nasci e, felizmente, sobrevivemos. Venci meu primeiro desafio nessa terra.
Eu era uma criança tímida, meio encabulada, sempre silenciada pelos irmãos mais velhos, que brincavam dizendo que eu tinha dois direitos – o primeiro era nenhum, e o segundo, me conformar com o que tinha. Era realmente uma brincadeira que nunca se tornou realidade, mas eu tinha que obedecer a todos os mais velhos. Todos tinham o compromisso de me educar. Sempre fui muito amado e acarinhado, mas essa referência parece que me dizia muito mais coisas do que eu conseguia compreender.
Fui para a escola e, lá, comecei a encontrar outros desafios. Eu era um pouco diferente dos demais parentes. Eu nunca entendi direito; achava que era por causa dos cabelos, ou a cor, ou porque eu morava na aldeia mais próxima aos posseiros. No fim, hoje adulto, acho que entendi o porquê daquela indiferença. Além da minha cor, meus pais eram da Igreja Batista do Bem Querer de Cima, e a igreja recriminava toda e qualquer manifestação da cultura Pankararu. Nós, que éramos naturais dessa comunidade, não podíamos praticar nossa própria cultura. Fomos educados como se fôssemos melhores. Na igreja, diziam que, ao aceitarmos Jesus, estávamos salvos, e aquele povo (nossos próprios parentes) estava condenado ao inferno caso não se arrependesse dos seus pecados e não seguisse o caminho da igreja.
Em meio a tudo isso, a essa alienação toda, tinha algo que era fascinante: a música.
Toquei meus primeiros acordes no violão com oito anos de idade. Meus irmãos mais velhos já faziam parte do coral, e eu ficava sempre vendo os ensaios. Ainda muito pequeno, eu tocava e cantava na igreja, mas ouvia do meu pai que não levava jeito com música. Hoje, prefiro acreditar que ele, me conhecendo, percebeu cedo que eu era do contra e encontrou uma forma de me incentivar. No fim, deu certo.
Todas essas vivências que relatei aqui não são nem a introdução do que já vi e senti ao longo desses quarenta anos, mas vou me ater ao meu propósito de falar sobre a libertação e empoderamento que a música traz aos corpos pretos e indígenas. Falarei na primeira pessoa porque sou os dois e vivo diariamente os benefícios e as dificuldades enfrentadas com garra e amor.
Em 1999, decidi ir embora para Brasília. Eu tinha 19 anos e um sonho: tocar para o mundo inteiro ouvir. Queria estudar música, e me disseram que, chegando lá, poderia pleitear uma vaga no Conservatório de Brasília e morar nas pensões que a Funai dava para os indígenas. Nada feito. Não consegui nada. Decidido a não voltar para a aldeia, comecei a procurar lugares para tocar com a finalidade de ganhar uma grana e me manter ali por mais um tempo.
Nesse primeiro momento, tudo era novo demais, a inocência e a falta de leitura de quase tudo não me permitiam compreender as nuances das coisas. Sempre foi muito difícil encontrar um lugar para tocar. Muitas vezes, saía de casa pronto, usando a melhor roupa que eu tinha, e chegava na frente do restaurante ou bar e não conseguia entrar. Não sei se era por causa das falas do meu pai, ou da sensação de não estar à altura do lugar. E ainda tinha um porém: eu me achava feio. Todos esses fatores me fizeram criar uma capa, uma espécie de defesa que me “protegia” até dos possíveis contratos. Certa vez, tomei coragem e entrei em um lugar chamado Café Contato, um cyber (na época eu nem sabia o que era isso). Ele estava vazio e isso me encorajou. Entrei e pedi para falar com o responsável, me apresentei, e ele me pediu que tocasse um pouco para que visse. Passei a tocar lá todas as quartas. Dessa minha experiência, pude perceber uma coisa: eu me sentia bonito quando tocava. Não era apenas a realização de estar fazendo o que eu gostava, pois geralmente quando eu tocava era cedo e não tinha quase ninguém, mas eu não me importava e cantava, cantava, até me mandarem parar para o outro artista entrar. Meu cantar me proporcionava sentir o gosto da beleza externa; eu me sentia bonito. Concluí que, de fato, nesses vinte anos, cantar me faz ser bonito. Não é uma questão de aprovação de ninguém, nem de paquera; não consigo traduzir essa sensação.
Eu, preto, indígena, miscigenado, brasileiro de baixa renda, nasci tendo a dificuldade como um integrante da família, e isso influenciou muito a construção da minha autoestima, a formação do ser que teria que lutar por direitos iguais. As amarras não aparecem, não estão escritas em nenhum lugar, e nem importam para muita gente. Oportunidade não é algo que está aí para todos, nós sabemos bem.
A força maior do universo e da natureza me proporcionaram chegar a lugares especiais. Mudei o curso de uma trajetória fadada a não acontecer nada diferente. Vivo sempre à espera da próxima música, da próxima vez em que serei bonito e, assim, me sentirei útil, semeando vida, esperança, visibilidade, minha territorialidade, minha origem.
Faz tempo que adquiri uma consciência e um compromisso com o que eu canto. A música só faz sentido para mim se for representatividade, ancestralidade, respeito, amor, se promover a paz. Hoje, eu entendo por que não me senti bonito muitas vezes no palco. Diversas vezes fui tocar e minha alma ficou em casa; minha beleza, meu sorriso estavam longe de mim. Passei a perceber isso quando fui barrado por seguranças ao tentar entrar em lugares onde iria tocar, quando alguns colegas músicos marcavam de tocar comigo, não apareciam e sequer se justificavam, quando toquei por quatro horas seguidas por um cachê de R$ 150,00 e não tinha direito a jantar – da última vez, descobri que a água servida para mim era da torneira.
Demorei anos da minha vida para me locar nesse mundo. Hoje, com 40 anos, morando há 12 na minha aldeia de origem, convivendo com a seca e diversas dificuldades que estão aqui desde antes de mim, sei mais o que quero e preciso, assim como sei o que não quero. Não vivo mais a expectativa projetada em mim; vivo o que minha consciência e meu coração me apontam. Hoje, já consigo me achar bonito realizando outras coisas além de música – quer dizer, vai sempre envolver música.
Fundei o espaço da Aió Conexões, que funciona na antiga igreja evangélica fundada pela Missão Novas Tribos do Brasil e por meu pai, no terreiro de casa. Agora, ela passa por um processo de ressignificação e ocupação, dado que se tornou um vestígio de um processo de aculturação do povo Pankararu. Por meio da realização de ações culturais e de fortalecimento da identidade do meu povo, esse espaço tem ganhado novas camadas simbólicas, estimulando o senso de pertencimento cultural.
A Aió funciona desde 2009 como minha produtora. Ao retornar à minha comunidade, pensei em promover conexões entre a comunidade indígena e o mundo a partir da arte e de boas informações.
Desde o seu início, a Aió Conexões realiza diversas ações, como encontros entre nós mesmos, um aprendizado constante entre os detentores de saberes e a comunidade antes descaracterizada pelos colonizadores espirituais, que deixaram o rastro de preconceito e falta de pertencimento.
O ano de 2020 trouxe um feito significativo para mim, a Mostra Pankararu de Música. Por três dias, me senti bonito que nem quando toco. A Mostra Pankararu de Música é um espaço de intercâmbios e vivências artístico-culturais que, através de ações nas linguagens da música e das artes em geral, traz ao público experiências de autoconhecimento e proporciona aos participantes o contato com saberes culturais do povo Pankararu – e meu povo também aprende com os artistas e pessoas que participam dessa imersão.
Tive da vida sorte, cheguei bem até aqui,
Respirei e segui, chorei, amei e amo muito
Às vezes quero mais ou demais
Parece que tudo foi pouco
A sede de sentir, amar precisa estar aqui
Em mim
Como as águas, o movimento
O ciclo natural das coisas não me conforma
Parece que minha parada é sempre a próxima
Procuro o arrepio, o ar
Num buraco fechado, fachada
Tudo parece tá fora do ar
Descarrilhado e no trilho
Vago por minhas noites
Vampirando meu próprio sangue
Desmembrando os coices da lida
Corro de mim mesmo
Mas a cada esquina estou eu
São tantos caminhos, e não sei em qual encontro o sol
Mesmo que amanheça, falta pernas, acelerador
E a dor me freia
Nesses tempos loucos tô são
Cego vendo tudo de perto
Com a alma presa sem divagar
Nos momentos curtos estou longo
Sem me digerir, não adianta cavar
Estou profundo
Em qual looping ou mantra eu devo entrar
Qual sentença devo me condenar
Nem toda luta se vence pintado
Nem toda pena me põe de pé
Nem todo casto é tão puro
Nem todo puto é pagão
Eu rasgo as malhas mas não sei me vestir
Mas entendi
Quem não morre não renasce
Ainda sou árvore, mesmo sem floresta
Mesmo que me tombem eu sou semente
Eu sou o fogo circular, sou a mãe da terra
O pai dos verões e a curva dos ventos
Sou luz dos olhos do mundo
Raiz dos mares profundos
E vou, sempre vou, voo sempre
Eu, de verdade, tenho torcido muito para que meus irmãos pretos e indígenas também se reconheçam bonitos e importantes. Nossos destinos e belezas foram e são construídos por muitas mãos. Somos cíclicos, continuidade; passamos por aqui sempre abrindo caminhos para os que virão.
Agora, em meio aos sons de grilos, cantos de acauãs, latidos de cachorros bem distantes, escrevo e faço uma inclinação de pensamento. Que você, meu caboquinho, minha caboquinha, negão e negona que estão lendo este texto, saibam e sintam o quanto vocês são bonitos.