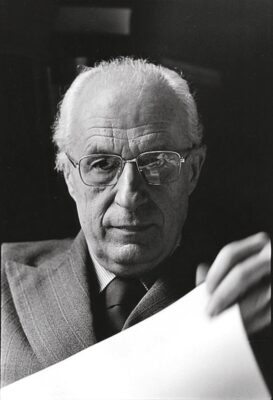Nenhum outro tema ao longo da história inspirou tamanho interesse ou polêmica. O amor pode nos levar a grandes coisas, mas também a atos espantosos. Vivemos por amor e morremos por amor. O amor vem evoluindo desde os primórdios. Hoje, nosso conceito de amor está intimamente ligado a certos rituais românticos: rosas vermelhas, jantares à luz de vela, noivas de vestido branco, luas de mel em destinos distantes. Mas nem sempre foi assim.

O AMOR É SOBREVIVÊNCIA
Quanto mais regredimos no tempo, mais difícil fica descobrir provas arqueológicas que comprovem definitivamente a existência do amor. Porém, cientistas que buscam respostas para como nós, humanos, constituímos — em geral — uma sociedade de pares heterossexuais monógamos (mesmo que em série) vêm encontrando algumas explicações que remetem ao nascer da humanidade. Achados arqueológicos e a biologia comparada indicam que, à medida que evoluímos como hominídeos e que o tamanho de nosso cérebro aumentou, nossa fase de “infância” (ou de dependência) se estendeu, pois passamos a ter mais coisas para aprender antes de nos tornarmos independentes. Para garantir a sobrevivência de crianças vulneráveis, os humanos estabeleceram fortes laços entre pais e filhos, entre parceiros, entre grupos familiares e entre comunidades. Grupos que trabalhavam em conjunto aumentavam suas chances de competir por recursos escassos e, portanto, potencializavam sua sobrevivência. Como parceiros sexuais eram frequentemente escolhidos dentro do próprio grupo, os humanos desenvolveram também genes para formação de vínculos emocionais, cooperação e empatia.
Parece provável que os rituais sexuais entre nossos primeiros antepassados envolvessem machos dominantes, maiores e mais fortes que suas múltiplas parceiras. Já as fêmeas, menores e mais fracas, tornavam-se submissas e obedientes aos desejos do macho. Com o passar dos anos, no entanto, o dimorfismo sexual entre machos e fêmeas diminuiu e as mulheres ganharam um pouco de chão em termos de igualdade e responsabilidade comuns. É mais ou menos ao mesmo tempo que a monogamia em série aparece como comportamento, e vislumbramos o nascer do amor romântico.
Em seu livro Marriage, a History a autora americana Stephanie Coontz argumenta que os primeiros casamentos foram arranjados pelas famílias ou tribos dos noivos para cimentar os laços sociais e contribuir à estabilidade e à viabilidade econômica do grupo. Diferentes tribos, por exemplo, arranjavam casamentos entre si para criar obrigações recíprocas. Esse comportamento se tornou a norma durante milhares de anos.
O AMOR É DOCE
Ninguém sabe dizer ao certo de onde vem a expressão “lua de mel”, mas existem algumas teorias. Em 1546, aparece publicada pela primeira vez, definida como “a ideia de que o primeiro mês de um casamento é o mais doce”. O ritual em si é bem mais antigo, contudo.
“Lua de mel” tem raízes no antigo idioma nórdico e vem da palavra hjunottsmanathr, que significa “escondido”. Entre culturas do norte da Europa era comum “roubar” uma noiva de outra tribo. Muitas vezes isso levava à perseguição do noivo pela família da noiva, determinada a resgatar a moça e se vingar do “sequestrador”. O noivo e seu “prêmio” então se escondiam durante um período, até que os ânimos se acalmassem e o casal pudesse voltar tranquilamente para casa. Ajudados pela família dele, ficavam escondidos, na média, por um mês.
Já outros dizem que “lua de mel” tem sua origem em um antigo costume. Durante o primeiro mês de casamento, o pai da noiva presenteava os recém-casados com todo o mel que quisessem. Esse gesto garantiria a felicidade e a fecundidade do casal.
Ainda outros dizem que “lua de mel” simplesmente descreve o doce começo de um casamento, que, assim como a lua, rapidamente minguará. Em 1552, Richard Huloet definiu a expressão como “um termo comumente usado para descrever aqueles recém-casados, que no início são apaixonados e um ama demasiado ao outro, mas sua paixão inicial diminui, ao que dão o nome vulgar de lua de mel.”
No Ocidente, a “lua de mel” começou a tomar sua forma atual durante a era Vitoriana, quando casais faziam um tour pós-casamento, acompanhados por membros da família, para visitar todos os parentes que não puderam ir ao casamento. Já a Belle Époque viu seus primeiros casais viajando a sós, assim como fazemos hoje, graças ao crescimento do turismo em massa. A Riviera francesa era o destino mais buscado, e continua sendo muito popular até hoje.
O AMOR É POLÍTICO
A figura de Cleópatra concentra um dos maiores símbolos de poder, amor e desejo de todos os tempos. Também representa a ideia de que não só o amor é uma força poderosa, mas política. Em sua recente biografia da rainha, a autora americana Stacy Schiff desmistifica nosso conceito de Cleópatra como uma belíssima sedutora, à la Elizabeth Taylor. Em vez disso, defende que a rainha era uma política brilhante, com uma mente afiada e muito ambiciosa. Sem dúvida alguma, escolheu seus amantes a dedo.
Em 51 a.C., seu pai, Ptolomeu XII, faleceu, deixando o reino para Cleópatra VII e seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. Perante a lei do Egito antigo, Cleópatra foi forçada a casar-se com o irmão, uma vez que uma rainha deveria ter como corregente ou seu filho ou seu irmão. Cleópatra, que tinha apenas dezoito anos na época, casou-se, mas em seguida empurrou o irmão de lado, tirando seu nome de todos os documentos oficiais e se declarando regente única. Durante três anos reinou sozinha, mas os conselheiros de seu irmão, liderados por Potino, conspiravam contra ela. Em 48 a.C., conseguiram tirá-la do trono e exilá-la na Síria.
Mas Cleópatra não era do tipo de entregar os pontos e logo começou a juntar um exército ao longo das fronteiras do Egito. Mesmo assim, sabia que precisaria de um aliado muito forte para ganhar seu trono: precisaria do Império Romano. Então conseguiu engendrar uma reunião como Júlio César — foi contrabandeada para dentro de seus aposentos enrolada num tapete.
Se foi amor à primeira vista, jamais saberemos. Mas, seja lá o que tiver ocorrido, ela logo se tornou sua amante e, mais importante, havia encontrado um aliado no Império Romano. César ajudou a restabelecer Cleópatra ao trono, de onde deu luz a seu filho, Cesário. Porém, sua alegria durou pouco. Júlio César foi assassinado em 44 a.C., durante uma sessão do Senado, e Cleópatra foi forçada a fugir novamente.
Sozinha e vulnerável, tinha de agir rapidamente para defender seu reinado. Em 42 a.C., conheceu Marco Antônio, parte de um triúnviro que governava o Império Romano. Mais uma vez usou seu charme e inteligência para cair nas boas graças de um homem poderoso. Tornou-se amante de Marco Antônio, e logo ele passava a temporada de verão ao seu lado na Alexandria. O Senado romano não aprovou e declarou guerra contra o Egito. As forças de Marco Antônio e Cleópatra sofreram uma derrota retumbante nas mãos dos romanos. Marco Antônio cometeu suicídio a facadas e Cleópatra, após se deixar picar por uma cobra venenosa, logo se juntou a ele.
É o casal de amantes mais famoso e politicamente influente de todos os tempos.
O AMOR É (NEM SEMPRE) PURO
Foi a rainha Vitória, da Inglaterra, personagem que viveu uma das grandes histórias de amor modernas, quem deu início à tradição do vestido de noiva branco. O registro histórico parece sugerir que branco foi uma cor bastante requisitada para vestidos de noiva ao longo da história. Porém, só se tornou praticamente obrigatório após o casamento de Vitória. Se perguntarmos às pessoas hoje por que as noivas usam branco, a maioria dirá que a cor representa a pureza — ou virgindade —– da mulher.
As razões que levaram a rainha Vitória a escolher o branco em uma época onde a norma eram vestidos de cores fortes, como o vermelho e até o preto, permanecem misteriosas. Talvez tenha sido um ato de patriotismo da representante máxima da nação — a revolução industrial estava dizimando os artesões da indústria têxtil, que perdiam sua oficina às máquinas modernas. Talvez Vitória escolhesse seu vestido, coberto por uma delicada renda feita à mão, como forma de mostrar solidariedade. O branco, sem dúvida, seria a melhor cor para evidenciar o trabalho minucioso das rendeiras.
Mas qualquer que tenha sido sua razão para escolher o branco, sua opção iria mudar o conceito de vestido de noiva para sempre.
Explicar por que isso ocorreu também é difícil. Existem talvez algumas razões para tamanha influência. A primeira, digamos, é o fato de que Vitória foi uma das poucas mulheres a se casar já rainha, e não como princesa. Antes mesmo de ter um príncipe consorte, ela já tinha a coroa. Assim, era a mulher mais poderosa da Inglaterra e da Europa, e sua importância como figura influente no curso da história europeia e mundial não pode ser negada. Apesar de ter poucos poderes políticos diretos, seu parentesco e proximidade com outras famílias reais do continente — que mais tarde lhe renderam o apelido de “avó da Europa” — davam-lhe uma medida de influência pessoal sobre regentes como o tzar Nicolas II da Rússia e o kaiser Wilhelm II da Alemanha.
Uma segunda razão seria que ela e seu futuro marido, o príncipe Albert, estavam verdadeiramente apaixonados. Para nós, hoje, isso pode parecer um motivo um tanto tolo e óbvio, mas, na época, a estação elevada de Vitória a condenava a um casamento arranjado e politicamente vantajoso — manter um aliado, esfriar animosidades, fechar um acordo ou tratado. Muitos casamentos reais aconteciam apesar do noivo e da noiva serem pessoas incompatíveis, e muitos acabavam sendo extremamente infelizes. O casamento de Vitória e Albert fazia sentido politicamente, pois ele era o sobrinho do Leopoldo I, rei da Bélgica, e seu pai era irmão da mãe de Vitória, o que os tornava primos. Mas, incrivelmente, Vitória e Albert eram apaixonados também.
Casaram-se em 1840. Ela, em seu lindo vestido branco. Na noite de núpcias, escreveu em seu diário:
Nunca, nunca passei uma noite como essa. Meu querido Albert… seu enorme amor e carinho me fizeram sentir um amor divino e felicidade que nunca ousei sonhar em ter! (….) Oh, este foi o dia mais feliz de minha vida!
Tudo indica que tiveram um casamento feliz. Vitória dependia de Albert e contava com seu conselho para quase tudo, de política e religião a assuntos sociais. Durante o casamento, tiveram nove filhos. Em 1861, Albert morreu de febre tifoide. Vitória ficou arrasada. Tão arrasada que se enfiou de luto e só usou preto pelo resto da vida. Também deixou a vida pública e passou a viver como uma reclusa.
Seu reinado foi o mais longo entre monarcas britânicos: 63 anos no trono. Foi a mãe da Era Vitoriana, cujo rigoroso código moral proibia a mera menção da palavra sexo. E é também lembrada por sua linda história de amor com Albert e seu vestido de noiva branco.
Recentemente, porém, historiadores vêm questionando essa imagem da rainha, descobrindo que havia muito mais sobre Vitória e sua vida amorosa do que antecipávamos. Sua infância e adolescência, controladas por uma mãe sufocante e dominadora, sem dúvida contribuíram ao que mais tarde seria chamado de “moralidade vitoriana”. Sua reclusão voluntária após a morte de Albert colaborou para sua imagem de mulher puritana, uma viúva cuja libido morreu junto com o marido.
Contudo, quando a jovem foi coroada rainha, aos dezoito anos, o governo era liderado pelo primeiro-ministro liberal lorde Melbourne, que logo se tornou uma grande influência sobre a jovem e inexperiente rainha, que dependia de seus conselhos. Melbourne tinha um apartamento disponível dentro do castelo de Windsor e dizem que chegava a passar seis horas por dia com sua majestade. Logo circularam os boatos de um caso entre os dois, e o jornal The Times publicou, indagando: “É a serviço da Rainha — é digno de uma Rainha — faz jus à Rainha — é decente?”
Mas, uma vez que Vitória se casou com Albert, deixou de lado a companhia de Melbourne e os boatos se acalmaram. As fofocas mais interessantes sobre sua vida pessoal, entretanto, só viriam após a morte de Albert. Vitória — isolada e reclusa — carregava sempre consigo um retrato de seu querido marido falecido e, ao mesmo tempo, passava muito tempo com um de seus funcionários, um escocês chamado John Brown, que trabalhava em Balmoral, o lar da família real na Escócia. A amizade entre Vitória e Brown provocou uma onda de preocupação e indignação, e até surgiram boatos de um casamento secreto. A aprovação da rainha caiu drasticamente e a oposição política aproveitou o momento para propor — sem sucesso — o fim da monarquia e o começo da República.
Lorde Melbourne e John Brown não foram os únicos homens rotulados amantes da rainha. Diários de Vitória ressurgiram recentemente com revelações chocantes, detalhando um relacionamento emocional intenso entre sua majestade e Abdul Karim — um jovem empregado indiano que se tornou confidente e conselheiro dela. Karim chegou à Inglaterra quando tinha apenas 24 anos, para servir como garçom durante o jubileu dourado da rainha, em 1887 — quatro anos após a morte de John Brown. Ela tinha 68 anos. Vista a grande diferença de idade entre ambos, é improvável que fossem realmente amantes carnais. Porém, alimentaram os boatos passando uma noite sozinhos na casa onde ela e John Brown se encontravam. Seja como for, a moralidade vitoriana de que a rainha foi fundadora jamais toleraria esse tipo de comportamento.
Décadas se passaram, os boatos se calaram, e hoje lembramos dela como uma noiva “pura” e “virginal”, caminhando até o altar em seu vestido branco para encontrar o verdadeiro amor de sua vida — um sonho que toda noiva compartilha.
O AMOR É UMA DROGA
Ultimamente, pesquisadores têm buscado entender o amor através do cérebro humano, tentando achar respostas a perguntas milenares: por que nos apaixonamos por certas pessoas e não por outras? O amor pode sobreviver ao desgaste do tempo? Por que às vezes é uma droga?
De acordo com a Dra. Helen Fisher, antropologista da Universidade Rutgers e autora de cinco livros sobre o assunto, o amor é, sim, uma droga. Ela pilota um projeto que já foi apelidado de “o cérebro apaixonado”. Com seus colegas, analisa a mente de pessoas apaixonadas usando imagens de ressonâncias magnéticas do cérebro.
Os resultados do projeto comprovam que o amor é responsável pela produção de certas substâncias químicas. Os pesquisadores dividiram os participantes entre pessoas apaixonadas há pouco tempo e aquelas que ainda se dizem apaixonadas após dez, quinze anos casadas. O que descobriram foi extraordinário. O cérebro recém-apaixonado ativa certas células que produzem dopamina, um estimulante natural, e norepinefrina. Essas substâncias, fortes motivadores, fazem parte do sistema de recompensa e são responsáveis por sensações de prazer. Isso tudo acontece distante das funções cognitivas, no centro reptiliano do cérebro, que é associado com desejo, motivação, foco e vontade.
Como diz a própria Dra. Fisher, quando você se apaixona “ativa o mesmo sistema que é ativado quando ingerimos cocaína”, causando uma imensa sensação de euforia. A Dra. Fisher confirma: “O amor é um vício, com todas suas características. Você perde o foco, pensa obsessivamente na pessoa, passa a precisar dela, distorce a realidade, e fica disposto a tomar riscos enormes para conquistá-la.”
Após a primeira fase de paixão, vem o apego dos relacionamentos duradouros, caracterizado por sensações de tranquilidade, segurança, conforto e uma conexão emocional total. São sentimentos associados ao córtex pré-frontal, a parte mais evoluída de nosso cérebro, que abriga as chamadas funções mentais superiores, como a confiança, o respeito e o companheirismo. Podemos entender então que o amor é um vício que evolui, que libera diferentes substâncias químicas em suas diferentes fases.
Mas, entre paixões fulminantes e relacionamentos que duram décadas, todos nós já sofremos por amor algum dia. Mesmo assim, é um vício do qual espero que nunca nos livremos.
Letícia Lima é tradutora e revisora, muito raramente editora.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista