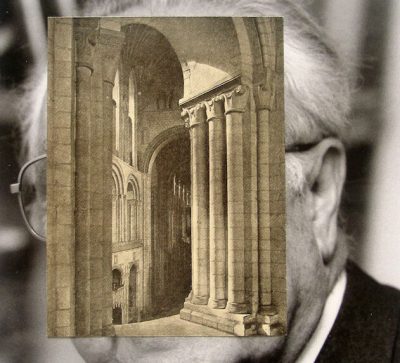Há muita casa branca por aí. Algumas, de branco puído, deixadas por quem veio antes. Outras tantas, de alvura ímpar, mantidas por nós mesmos. Há também a casa de Maria Luiza Jobim.
Em tempos de subir muros, a cantora carioca abre portas. Foi assim com o lançamento de Casa Branca, a música que dará título ao seu primeiro álbum solo, e não seria diferente durante a conversa que tivemos para essa edição. Guiada pela memória e pelo coração, maria conta como adornou o lar em que nasceu, no Jardim Botânico, com a mais bonita das cores: a gratidão. Nas próximas páginas, Maria Luiza recorda um passado rico e colorido. Conta-nos sobre o espaço que a infância ocupa em nós e os desafios da maternidade. Além, claro, de falar sobre música e coragem, as principais forças criadoras que transbordam em sua vida.
Quando falamos em infância, o que vem à sua mente? Qual é a sua primeira lembrança da infância?
Eu tive uma infância muito feliz. Na minha casa tinha muito amor, a gente era uma família muito unida e muito musical. Eu tenho muita sorte, realmente, de ter crescido em um ambiente muito artístico. Os ensaios aconteciam na minha casa, no Jardim Botânico, a “casa branca”, e meu pai sempre falava que os shows eram uma extensão desses ensaios, que eram quase que espontâneos. E as crianças participavam, a gente sempre estava cantando junto e, enfim, figuras icônicas e maravilhosas estavam sempre lá em casa. Tenho muitas memórias [risos].
É basicamente essa memória lúdica e artística que permanece?
Totalmente. Muito, muito. O meu pai – depois que eu fui saber disso, tem essa história com o Marcos Valle, que o Marcos Valle foi lá em casa para terminar uma música, eles estavam fazendo um arranjo, e eu estava por perto. E aí o meu pai falou assim, “olha, a gente vai tocar aqui, e vamos ver, se estiver bom, ela vai chegar perto; se não estiver, ela vai ficar lá quietinha”. E aí parece que eles tocaram e eu cheguei perto, sentei, comecei a cantarolar… Então era muito legal. Acho que nos últimos anos da vida do meu pai, ele se dedicou muito à família e a estar com os filhos, e realmente a coisa do trabalho era muito junto com a família. Minha mãe cantava com ele, minha irmã cantava com ele nos shows…
E era como se você participasse, mesmo pequena, do jeito que podia.
É. Eu acho bonitinho, né?
Maria, nesse processo de amadurecimento que a criança tem, de construir uma identidade a partir da infância, você consegue reconhecer o momento no qual percebeu que o seu pai, o Antônio Carlos Jobim, era também o Tom Jobim? No sentido de perceber que o seu pai era um pai compartilhado?
Eu não digo que tenha um momento, mas tem várias histórias que ilustram essa relação. Por exemplo, eu lembro que, quando pequena, ele me levava no cinema, ele me levou para ver Jurassic Park – eu lembro bem disso –, aí sempre que a gente ia no cinema, ele era reconhecido, e isso me incomodava como criança, como filha. Eu queria ser normal. Por que precisavam dessa coisa de falar com meu pai? Aí eu pedi para ele assim, “pai, tá bom, a gente vai no cinema, mas você pode tirar o seu chapéu, por favor?” Porque eu achava que era por causa do chapéu que as pessoas reconheciam ele [risos], como se a fama dele estivesse no chapéu. E aí ele, bonitinho, tirou o chapéu e a gente foi no cinema.
Uma coisa ótima é o título da música ser um nome composto, “Casa Branca”. Porque casa é uma coisa muito elementar, um símbolo que todo mundo conhece, impessoal, mas quando você fala que a casa é branca, então você se apropria desse espaço como quem diz “essa casa é só minha”. Você quer contar um pouco da sua casa branca?
Quando eu fiz a música, eu queria realmente homenagear esse lugar, esse lugar interno e esse universo que eu vivi. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, com a reação das pessoas, foi que assim, é claro que eu sei que existe toda uma curiosidade, natural, por ser a história do meu pai, mas eu recebi muitas mensagens, muitas mesmo, falando do quanto que as pessoas lembravam da infância delas, do quanto que aquilo levava elas para o lugar interno. Isso me deixou muito feliz, porque na verdade era disso que eu queria falar. Eu queria falar desse lugar comum, que é o fato de que todo mundo tem sua “casa branca”. A música é uma maneira de celebrar essa vida que eu tive, de agradecer. É uma forma de retribuir todo esse amor que eu tive e dividir com o mundo.
Uma passagem linda na música é quando você canta: “Eram paredes / Que as cores conheço de cor”. Você transmite primeiro essa experiência de “de cor”, no sentido dos gregos, como para dentro do coração. Ou seja, seu pai é um imortal no nosso país mas, ao mesmo tempo, como um bom pai ele se torna imortal também. Vemos as figuras públicas e não temos acesso ao que ficou delas nos filhos. É muito generoso que, do mesmo jeito que ele te honrou no “Samba de Maria Luiza”, você faça uma canção homenageando a sua origem. Sempre houve essa relação de gratidão com o seu pai?
É, com a música dele, sim. Porque tem muito uma coisa que eu, na minha análise, sempre pensei: é que eu só sei ser filha do meu pai. Eu não sei como é ter um pai que não é falado pelo mundo. Eu só posso falar da minha experiência, então, assim, desde que eu nasci, isso é o que acontece na minha vida. Eu sempre tive uma vida um pouco mais exposta. Mas a grandeza da obra dele, como as pessoas recebem, receberam a obra dele, é uma coisa que me enche de orgulho e me deixa muito feliz.

nos últimos anos da vida do meu pai, ele se dedicou muito à família e a estar com os filhos, e realmente a coisa do trabalho era muito junto com a família
No seu primeiro projeto musical, o duo Opala, você cantava em inglês. E isso talvez tenha causado um estranhamento. Como você percebe essa escolha por cantar em inglês ou em português?
Realmente, essa coisa do inglês e do português, as pessoas ficaram muito ligadas a isso. Eu entendo, mas é porque sempre foi uma coisa muito natural para mim. Eu cresci lá (Nova York) e aqui (Rio de Janeiro), então essa é a minha história. Tem muito uma coisa das pessoas esperarem que eu faça as coisas de uma certa maneira. Mas, para mim, sempre foi importante entender quem eu era, quem eu sou na música. Foi muito natural cantar em inglês, compor em inglês, começar realmente o meu trabalho na música, na vida adulta, cantando em inglês. Eu queria fazer isso da mesma maneira que agora, também, eu estou escrevendo minhas músicas em português.
O público talvez tenha entendido como uma tentativa de se diferenciar um pouco do seu pai. Afinal, suas referências também são de fora.
É. Tem muito, claro, muito mesmo. Eu sou uma pessoa que, na adolescência, foi muito da música eletrônica, eu era muito desse rolê. E a música eletrônica me salvou em muitos aspectos. A música eletrônica tem uma coisa muito legal da catarse, porque existe uma coisa catártica de você ir dançar e soltar seus bichos, sabe?
E não tem nada a ver com a bailarina clássica, que queriam enquadrar você…
[risos] Mas aí estão sempre tentando colocar a gente em uma caixinha que a gente não é, né? Eu tive perdas, eu tive muitas questões e questionamentos que eu acho que, durante a adolescência, a música eletrônica me salvou nesse sentido, sabe? Essa coisa de botar embaixo do tapete, de esquecer, não funciona. Temos que encarar as sombras e conversar com a gente para conseguir, muitas vezes, ressignificar as coisas. A música eletrônica era uma espécie de terapia para mim, e é um universo muito rico e interessante. Então o meu trabalho, principalmente o Opala, tem muito de música eletrônica. Música eletrônica, na verdade, é muito mais uma maneira de você abordar a música do que a tal da “bate-estaca” que falam. E agora, esse disco, o Casa Branca, tem muitos elementos eletrônicos também. É uma coisa que está presente.
Você quer dar uma ideia de música eletrônica que tem escutado?
Olha, no momento eu não estou escutando nada… No momento eu estou escutando Mundo Bita! [risos]. Não, eu escuto, sempre escutei, sempre vou escutar… Eu ouvia muito Kraftwerk, eu ouvia música eletrônica dançante pesada, tipo breakbeat, drum ‘n’ bass, dos anos 2000, né? Eu peguei muito a época dos festivais. Eu não era das raves, era dos festivais. E, ah, muitas bandas também com influência eletrônica, como a Björk, o Radiohead. Escutei Daft Punk, muito. Depois o Daft Punk ficou muito pop, muito comercialzão – o que eu acho ótimo também. Mas eu gosto do Daft Punk da época lá do Discovery (2001). Mas, realmente, agora, eu precisaria ver no meu iPod o que que eu estou escutando [risos].
É que não adianta, quando nos tornamos mãe, precisamos descer um degrau de quem a gente é para estar sintonizada no filho.
Exatamente. Eu não posso ficar só ouvindo a minha música, lendo meu livro. Desde que a Antônia nasceu, honestamente, eu não consegui ler um livro. Eu descobri que não existe tempo para ler. Porque eu estou tão cansada, chega determinada hora da noite, que eu quero ligar e ver a coisa mais tosca que tiver na televisão.
Qual foi o impacto da maternidade em você e como ela ressignificou a sua infância?
Eu não sei se a maternidade ressignificou a minha infância, mas ela certamente fez eu me conectar com muitas memórias e querer saber mais da minha história. Virar mãe tem uma coisa de dar muita coragem para a mulher. Então eu acho que tem muito essa coisa de ter força para conseguir mexer nas sombras, nas memórias felizes e tristes. A infância tem sempre essa coisa nostálgica dentro da gente, tem uma coisa de sagrado. Eu acho que a maternidade, mais que tudo, me deu a coragem para poder fazer esse trabalho. Nesse sentido, eu nunca havia feito algo em que eu me expusesse tanto, em que eu me mostrasse com muitas alegrias, com muita gratidão, mas também com alguns vazios. Eu acho que eu consegui fazer isso depois de ser mãe.
E entre os desafios da maternidade, qual foi aquele que você pensou: “por que ninguém me alertou disso antes”?
Acho que os hormônios [risos]. Eu acho que é bem louco. Ah, é a experiência mais maluca que a gente pode viver. Eu tive uma gravidez tranquila, eu estava muito feliz, muito plena de estar grávida, mas depois que nasce, primeiro tem essa oscilação dos hormônios, tem o “baby blues” e, enfim, altos e baixos intensos. E é um momento de muita doação, de só doação. Eu acho que é o momento que você… Não é que você deixe de ser filha, mas você deixa um pouco de ser filha para ser mãe, sabe? Ser filha no sentido de “eu quero”, “eu preciso”, as minhas necessidades, as minhas vontades, e aí “não, espera aí, agora não é você, agora é o outro”, o outro está chamando e o outro está com fome, você tem que estar lá. Você está com sono? Tudo bem, vamos lá, vamos com sono. Vamos com sono, mas vamos! [risos]
Nesse sentido, talvez, o clipe teria também essa coisa de fechar uma porta, de fato, da “casa branca”? Agora é hora de construir a tua casa.
É, sim, poder passar da família de origem para a família que eu construí. A mulher tem muito esse desafio. A gente acaba fazendo mais, porque a gente quer trabalhar, a gente quer ser mulher, a gente quer ser mãe. É bastante coisa. Sempre tive muita vontade de ser mãe, então eu achava que isso ia chegar não muito tarde. Veio bem mais tarde do que eu imaginava, mas está ótimo. Sempre tive vontade de construir uma relação familiar, gosto disso. Eu vim disso. Esse é o meu modelo, é o que eu peguei para mim.
E você nunca sentiu preconceito do pessoal da música eletrônica com esse desejo de construir uma família?
Não na música eletrônica. Eu acho que na música, em geral, e nas artes – não exatamente da família, mas a coisa desse estereótipo de ter uma vida mais boêmia… Não sei. Eu sempre achei que dava. Que cabia.
E deu.
É. Eu acho que está dando, né? Eu estou tentando [risos].
Você canta para sua filha dormir?
Ah, eu canto. Canto tudo. Canto Mundo Bita [risos] – não, eu canto tudo. Gosto muito de escutar Gil com ela, tem uma introdução musical aí. A gente escuta muito meu pai, o “Samba de Maria Luiza”, é claro. Eu canto tudo e ela adora ouvir “Casa Branca”. Quando toca ela fica, tipo, “oh!” [risos].
A gente passa muito para os nossos filhos onde a gente andou, as nossas vivências. Será que a sua filha se reconecta com essa linhagem através da música?
Eu acho que sim. A memória, memória mesmo, é uma coisa muito relativa, né? Seletiva. A gente escolhe o que a gente vai lembrar também, e tem muito a ver com as histórias que são contadas para a gente. Eu acho que a minha mãe foi uma pessoa muito chave nesse aspecto para mim, porque eu vivi só sete anos com meu pai. Sete anos muito vividos e muito intensos, a gente era muito ligado, ele era muito disponível, mas foram só sete anos. Eu tinha só sete anos quando ele partiu. Então ela sempre fez muita questão de lembrar e falar o quanto ele era maravilhoso e o quanto ele era presente. Ela me ajudou a construir essas memórias também, entende?
Ela te devolveu o pai.
Ela me devolveu. E ela sempre falou para mim, “o amor do seu pai te salvou”. Ela também perdeu o pai cedo, e falava “o amor do meu pai me salvou”. E claro que ela, como mãe, tinha angústia de eu ter tido pouco tempo com ele, mas eu acho que ela me dava muito com essa fala.
Você vê como é importante. Como casais separados, a importância de tentar preservar a figura do pai. Pode ser uma grande quebra na estrutura psíquica você poupar uma criança dessa vivência, de ela poder ter uma história para contar de um pai também.
Exatamente, é a mesma coisa. A criança tem o direito de ter essa história. É muito importante essa consciência.
Sempre tive muita vontade de ser mãe, então eu achava que isso ia chegar não muito tarde. Veio bem mais tarde do que eu imaginava, mas está ótimo.
Qual música remete a Maria Luiza adulta à infância? O que você coloca para tocar quando quer voltar e relembrar aqueles momentos?
É engraçado. Meu pai, a gente via muito filme da Disney juntos, e ele amava a música da Pequena Sereia, e ele tirava, “under the sea, under the sea”, no piano e a gente cantava [risos]. Isso é uma coisa que me lembra muito. E ele também amava Bob Marley [risos]. Eu lembro que a gente ouvia no carro dele o cassete de “Jamming”, que era uma música que ele achava genial. Isso me lembra ele. Sempre que toca tem um gosto bom.
Uma das passagens mais lindas de “Casa Branca” é a frase: “o coração em miniatura vê dilúvio em gota d’água”
Todo mundo fala dessa frase!
Isso é a experiência infantil, a de que tudo se transforma. Ela aborda tanto a questão do imaginário quanto da intensidade. A experiência da pequenez está nesse “vê dilúvio em gota d’água”.
É, exatamente. Essa frase específica foi meu parceiro que escreveu, o Lucas Vasconcellos. Ele é fantástico. Eu fiz a música toda com ele – é importante também falar isso, tanto a letra quanto a música. “Casa Branca” é muito imagética, muito sensorial.
O que a gente pode esperar do álbum, Maria?
Ah, então. É o meu primeiro trabalho solo, né, e eu acho que é um trabalho que me mostra em muitos aspectos que eu nunca expus. É… Eu acho que está lindo [risos].

Originalmente publicado na edição Infância
Assine e receba a revista Amarello em casa

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista