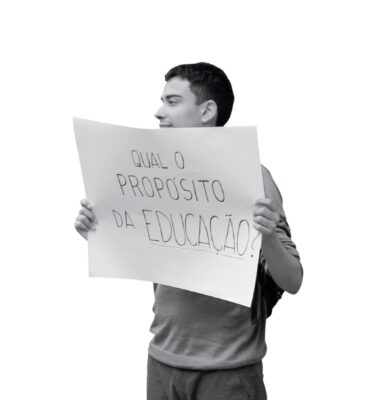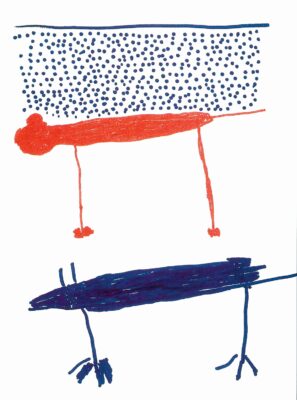Amar e contar com o outro: aprendendo a construir vínculos
por Lilian Junqueira
Num dia você é jovem, produtivo, tem sonhos e projetos de vida na pauta de sua agenda semanal. No outro, descobre, da maneira mais estranha possível, que seus assuntos versam sobre a morte de familiares queridos e pessoas públicas; adoecimentos e tratamentos de saúde; medicações de última