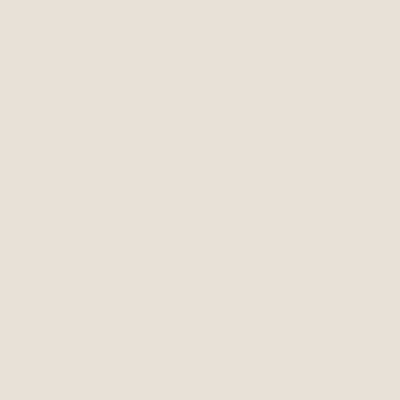Entre a presença do jogo e a distância da tela
O filósofo Christoph Türcke vem diagnosticando, nos últimos trinta anos, um declínio da capacidade de se deter com atenção sobre o mundo. O excesso de excitação retido pelas retinas por meio de estímulos cada vez mais frenéticos levaria a uma dificuldade de lidar com experiências, tornando-as mais pobres, silenciosas. Experiências em que o estímulo explícito é pouco, demandando as delícias do árduo trabalho da imaginação. Esse processo, nos diz Türcke, agudizou-se com o desenvolvimento da técnica, mais especificamente com o aparecimento de uma tecnologia, a “máquina de imagens”: enquanto um pintor, um poeta, um contador de causos, bem como o espectador, o público ouvinte, precisam imaginar aquilo que se apresenta como presença elusiva nessas formas de narrar, a câmera registra em uma tela, de forma não mediada, a imagem explícita. As telas, do cinema ao vídeo, imaginariam por nós.
Türcke está retomando a reflexão de Walter Benjamin acerca do cinema. Para o pensador, o cinema trouxe uma mudança radical no regime de percepção ao permitir que imagens se sobrepusessem de forma abrupta. Esse salto interromperia o fluxo “natural” de pensamento do espectador, obrigando-o a metabolizar aquela virada violenta. A montagem, de lá para cá, tornou-se cotidiana, mais intensa, mais rápida, mostrando muito e completando, por nós, as possíveis lacunas.
Declínio da atenção, declínio da imaginação, apassivamento diante da máquina. Declínio do lúdico? Diante desse suposto empobrecimento, talvez valesse retomar uma prática que sempre precisou da imaginação: o teatro.
O teatro tem muito de festa, misturando agentes e espectadores. Vincula-se aos rituais sagrados e civis que agenciam e organizam a vida em comum. Não estaria distante da liturgia da missa, nesse sentido, em que se entende que, pelo gesto teatral de imposição das mãos e da enunciação da voz, a realidade realmente se transforma durante a performance. Seja atualizando ritos sacros ou profanos, esse teatro se ocupava em tornar presente um evento. Um teatro que presentifica, transforma o espaço, na sua duração, em outra coisa. Curiosamente, um modo em que, por meio de formas de usar do corpo, do gesto, da dança, o espaço cênico adquire características reais daquilo que está imitado. Não se trataria de uma representação, como nós entendemos hoje, mas de uma transformação, ainda que temporária, do real.
O auto, na iminência lúdica da missa, gênero medieval do qual se pode ter a memória de Gil Vicente, seria, assim, uma instanciação da realidade moral. O espaço cênico do auto criaria polos, o céu e o inferno, espaços físicos que, durante a performance, entendiam-se, de fato, como espaços sagrados. O teatro-liturgia-jogo não distinguia, ao menos temporariamente, a realidade encenada e a realidade da representação. A imaginação atuava para trazer um outro mundo para este, neste instante do aqui e agora.
Brincar de criar mundos, portanto.
Entretanto, os mundos criados, no mais das vezes, tenderiam ao um. O auto, a missa, instituem o espaço da participação na presença divina cristã, como entendeu Lee Patterson, negociando os impulsos lúdicos do povo e as preocupações eclesiásticas. Pensemos nos usos que o gênero auto, tributário desse ludismo medieval, teve durante a catequese colonial dos jesuítas. No Auto representado durante a festa de São Lourenço, do século XVI, o padre Anchieta conduziu a brincadeira de envenenar, com tintas diabólicas, práticas atribuídas aos indígenas, da antropofagia ao amassar do cauim.
Justamente ao não separar o mundo da representação do mundo representado, ao magicamente transformar a aldeia em espaço cristão, em sua geografia cósmica de céu e inferno, o auto de Anchieta revela a contraface violenta dos jogos.
O auto propõe uma imaginação, visa produzir uma “alma”, prisão do corpo, para falar com Foucault. É claro que essa primazia da ordenação do corpo abre possibilidades de dissidência. O próprio Anchieta desconfiava que alguns dos indígenas catequizados juntavam as mãos apenas em mimetismo exterior, enquanto o interior imaginava outros mundos.
De todo modo, o lúdico pode ser, e frequentemente é, também um mecanismo eficaz de governo. Um governo que parece incidir diretamente sobre essa materialidade do modo de se estar fisicamente no mundo. Teatro como colonização do imaginário.
Nesse sentido, contra a lógica do auto medieval, ergueu-se uma nova forma: a tela da representação. Parece curioso pensar, mas o teatro moderno, de fins do século XV, não teria proposto a primeira tela? Uma superfície em que ações se representam e estão apartadas do público, ações que não convocam, ao menos, não com a mesma intensidade, a imaginação — como a dos indígenas que tomavam parte ativa nas encenações dos autos de Anchieta. O teatro de Juan del Encina, Lope de Vega e Shakespeare propunha um espaço à parte da realidade, no qual a espetacularização faz ver com os olhos do corpo (e menos com os da mente) aquilo que se representa. Convida o espectador a se sentar confortavelmente, à distância, em uma posição que lhe permita entender de longe o que transcorre na ação sem envolver-se como agente dela. Ancestral da fotografia, do cinema, do vídeo, do reels. O teatro moderno dos corrales espanhóis ou das grandes companhias inglesas é, por definição, menos lúdico.
Mas não haveria aí também certo ganho? Gostaria de encerrar com uma cena. Em Péricles, príncipe de Tiro, tragicomédia tardia atribuída a Shakespeare, a jovem Marina, filha do herói, é sequestrada por piratas e vendida aos donos de um bordel. Para adiar a prostituição de sua virgindade — valor indevassável como virtude cristã —, a moça faz sermões que visam convencer não o público — apartado da cena —, mas os cafetões que desejam agenciá-la. Ali desfila a moralidade cristã e cortesã, quando Marina defende a urbanidade de seus costumes, sua boa educação como fontes mais rentáveis para a exploração de seus talentos. Em termos discursivos, talvez, os valores defendidos por ela não estivessem tão diametralmente distantes daqueles propostos performaticamente pela catequese de Anchieta.
Mas imaginemos, segundo os códigos retóricos do teatro na época de Shakespeare, que a adolescente Marina só poderia ser interpretada por um homem, montado com peruca, maquiagem e indumentária, defendendo eloquentemente seus valores cortesãos. Nesse jogo lúdico, o que a distância propicia, talvez, é um riso, um riso equívoco que pode vir a revelar o lado perverso — a misoginia — que estrutura as brincadeiras em cena. Efeito gerado pelo que se mostra, e não pelo que se imagina.
Por um lado, o teatro-ritual propõe suas potentes linhas de fuga e formas de resistência — o inventar de mundos outros, de outros jogos. Por outro, a tela, do teatro moderno ao reels, criou uma distância como forma de resistir: a possibilidade de não tomar parte, mas atentar às regras do jogo e brincar contra elas.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista