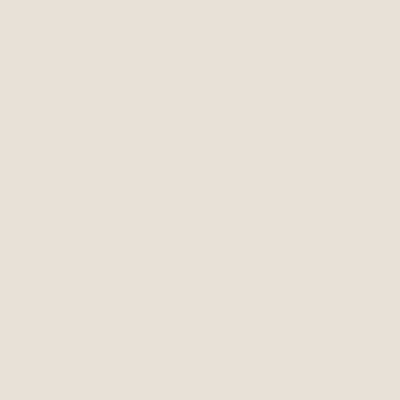No prefácio à edição inglesa do enciclopédico Les Lieux de Mémoire, o historiador e organizador do volume Pierre Nora define um lieu de mémoire como “qualquer entidade significativa, seja de natureza material ou imaterial, que por força da vontade humana ou da obra do tempo tornou-se um elemento simbólico da herança memorial de qualquer comunidade”. É possível que exista algo de único na expressão francesa, traduzida para o inglês como “realms of memory”, e que em português ganhou versão literal mesmo. É certo, no entanto, que a obra de Marcel Proust (1871-1922), Em Busca do Tempo Perdido, é um exemplar par excellence desses “lugares de memória”.
E não apenas para a comunidade francesa. Se em 1908 encontramos um Proust inseguro, que se perguntava “se era um romancista”, já em 1913, com a publicação do primeiro volume de sua obra, No Caminho de Swann, começava o autor a entrar na grande corrente de circulação do imaginário literário de toda a cultura ocidental. A despeito das dificuldades iniciais para o lançamento do livro – a reiterada recusa das editoras, o custeio da primeira edição pelo próprio autor, a recepção negativa da crítica e o público inicialmente escasso –, ali estava um trabalho cujo potencial simbólico era tal que viria a ser sinônimo das proezas literárias francesas e das significações mais profundas da força da memória e do poder do tempo. Mais de um século depois do início de sua publicação – que somente seria concluída postumamente, em 1927 –, Em busca do tempo perdido é parte dessa “herança memorial” de toda a humanidade letrada.
Se isso é a verdade da obra como um todo, vista como um patrimônio cultural e existencial, não é menos a verdade de seu interior, à medida que vamos penetrando nos meandros da arquitetura romanesca mais íntima do trabalho proustiano. Não é por acaso que somos introduzidos, desde as primeiras linhas desse romance de mais de 3 mil páginas, a um universo que tem o tempo e a memória como suas pedras angulares: “Longtemps, je me suis couché de bonne heure” (“Durante muito tempo, costumava deitar-me cedo”), lemos na primeira sentença dessa verdadeira catedral gótica que Proust erigiu (e que Mário Quintana traduziu lindamente ao português). Uma frase que nos faz de pronto encarar o tempo e sua passagem, aquilo mesmo que, pelo seu simples fluir, torna nossos interesses mais genuínos episódicos; nossas paixões mais vivas, contingentes; nossa própria existência, efêmera, fugidia. Com essa frase, ingressamos na catedral proustiana e encaramos o tempo como quem, mirando o alto da construção, vislumbra o infinito e a eternidade.
Somente a memória poderá oferecer o devido contrapeso aos avassaladores efeitos do tempo sobre nossas precárias, frágeis vidas. É ela, a memória, que permite ao narrador registrar os decisivos episódios de sua infância na casa de seus avós em Combray, a dependência quase doentia em relação à mãe, as inquietações antes de adormecer; é ela que lhe garante reviver os dramas de Charles Swann e seu singular calvário erótico-ciumento; que o conduz a narrar o diletantismo afetado do barão de Charlus. Somente a memória nos franqueia ingresso no “edifício imenso da recordação”, como dirá Proust, “quando mais nada subsiste de um passado remoto, após a morte das criaturas e a destruição das coisas”.
Certo, esse pretérito dos seres e das coisas pode ser como que revivido por nós, subjetivamente, por meio dos mais elementares expedientes, qual o narrador que, ao provar a madalena com chá, vê de “súbito” a lembrança da infância em Combray lhe aparecer. O acesso mais valioso ao mais recôndito dessa catedral gótica da memória, contudo, é outro: o veículo que nos conduz em nossa jornada pelo já experimentado; a luz que ilumina os corredores semiobscurecidos do já vivido – esta é tarefa que somente a arte, que Proust elevará à condição de verdadeira teoria da memória, pode desempenhar. Somente a arte tem o poder humano e sobre-humano de recuperar o tempo.
“É apenas um truque”, como diria um notável personagem do cinema italiano recente. Mas é tudo o que temos.
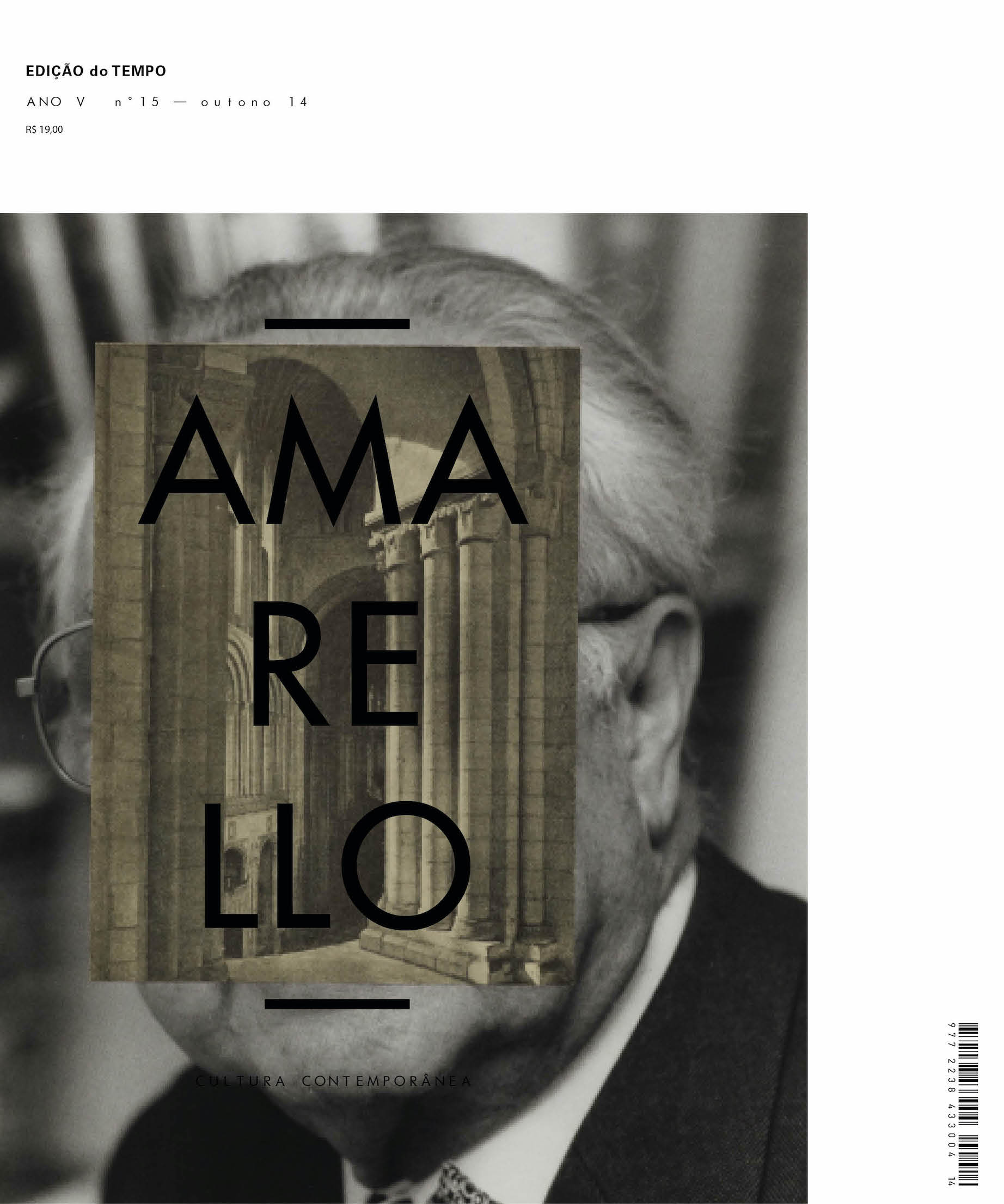
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista