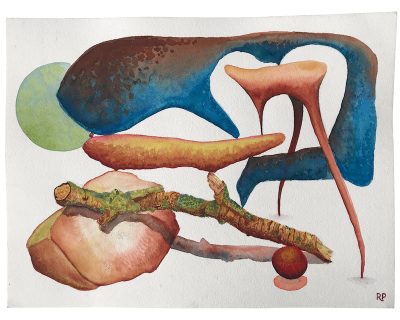Eu tenho medo de chuva: desastre natural ou racismo ambiental?
por Pâmela Carvalho
Eu tinha uns doze anos. Estava passando uma novela de que eu gostava muito, não me esqueço. Estávamos eu, meu irmão e minha irmã – ela, três anos mais velha que eu e ele, com uns cinco anos de idade. Nossos pais estavam retornando do trabalho.