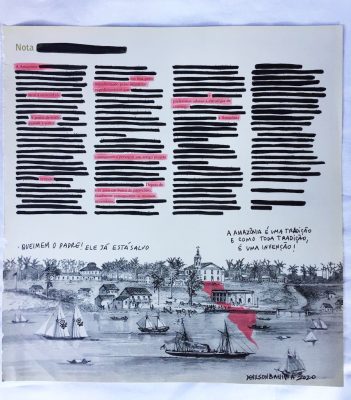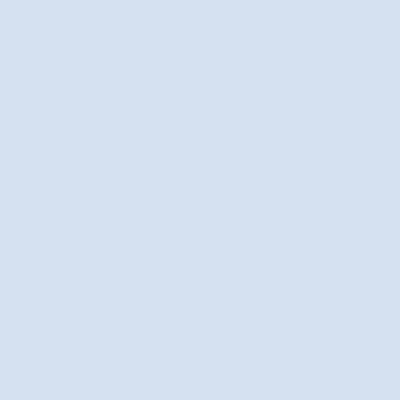Todas as vezes em que me preparo para visitar o Recife, angustiam-me as mudanças que encontrarei por todos os lados, a começar pelas “farmácias vinte e quatro horas” que se multiplicam pelos bairros residenciais, desfigurando as fachadas das casas: na mesma estética do salvacionismo mercantil das igrejas neopentecostais.
Isso tudo faz-me lembrar de uma entrevista de Tom Jobim ao programa Roda Viva, ocasião em que o maestro Júlio Medaglia perguntou a ele se suas músicas de trinta anos atrás poderiam ter sido compostas no Rio de Janeiro da década de noventa, já com a cidade assolada pela violência e escândalos de corrupção a frustrar a população que mantinha um estilo de vida que, durante muito tempo, parecia estar acima do bem e do mal.
Sem dissimular melancolia, entre uma e outra baforada, como a convidar os circunstantes a sorver da deliciosa fragrância amadeirada do charuto, Jobim protestou: “O que acontece, por exemplo, comigo, é que o Rio que eu conheci não existe mais”.
Em seguida, em meio a uma troca de reminiscências entre os músicos, a fazerem troça da vida contemporânea – com todos encerrados em cubículos com vista para o paredão de concreto dos empreendimentos imobiliários, como se, para além dos condomínios, existisse apenas uma farmácia –, a jornalista Rosângela Petta tomou da palavra: “Tom, em relação a esse cenário, você sente saudades ou sente indignação ao ver o Rio desse jeito?”
Ele acertadamente retrucou em sotaque marcadamente carioca: “Não adianta indignação. Quer dizer, todo esse período em que nós ficarmos indignados já está mais ou menos desfeito!”
Por fim, tal um oráculo, ele recitou os misteriosos versos elegíacos do poeta Carlos Drummond de Andrade:
“(…) eis que assisto
a meu desmonte palmo a palmo e já não me aflijo
de me tornar planície em que já pisam
servos e bois e militares a serviço
da sombra, e uma criança
que o tempo novo me anuncia e nega.”
Pois bem, todos esses anos fora do Brasil ensinaram-me que viver não passa de um longo processo de despedida, no qual somos intimados a confrontar o pânico de reconhecer a lenta e inevitável ruína do mundo ao qual pertencemos. Não sei quando ou como tal sentimento instalou-se nos corações de Tom Jobim e Carlos Drummond de Andrade. Porém, desde cedo, carrego a certeza de que jamais poderemos volver o estado natural das coisas.
Há quem não suporte esta marcha, ao exemplo do escritor Stefan Zweig, que optou por retirar-se da vida ao ver-se diante da desaparição de um ideal de civilização diante da guerra. Assim, ao escrever a autobiografia O Mundo de Ontem, ele desabafa: “Fuja, refugie-se na sua interioridade mais íntima, no seu trabalho, naquilo em que você é apenas o seu eu a respirar, em que você não é cidadão, não é objeto desse jogo infernal; onde apenas o pouco de razão que lhe resta pode ser sensato em um mundo enlouquecido”.
Outros conseguem administrar as próprias perdas e seguem adiante, auxiliados por um elemento primordial capaz de amortecer o impacto dos conflitos e de lhes assegurar uma sensação de continuidade. Para a filósofa Hannah Arendt, tal elemento era a nossa primeira língua. Assim, prestes a lançar-se ao exílio, ela combate a insistência do amigo Karl Jaspers para que não se precipite em abandonar sua própria terra: “Para mim a Alemanha é a língua materna, a filosofia e a poesia. Eu posso e devo defender tudo isso”.
Compartilho dessa ideia de que a língua pátria seja a nossa primeira morada, a nos permitir refazer os nossos laços com o mundo, não importa onde estivermos. Isto posto, soa-me falso anunciar aos meus amigos na Irlanda que estou me preparando para visitar meu torrão natal.
Ora, a única terra que a mim cabe nesta vida está a mover-se sob os meus pés como areia movediça. Não é que o Recife tenha deixado de existir de uma hora para outra, como se a cidade houvesse sido suprimida pelas farmácias! Deste modo, cheguei à conclusão de que minha terra se evidencia quando eu estou em casa: na minha língua.
Exemplo disto é o que eu sinto todas as vezes em que me expresso em português, na tentativa de compartilhar com meus patrícios um pouco da minha jornada. Nesses momentos, é como se o Recife da minha juventude ressurgisse diante de mim. Por um instante, as casas da minha rua retomam suas feições. Assim, pois, comungo com Fernando Pessoa: “Não tenho sentimento nenhum político ou social.
Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa”.
Juliana de Albuquerque é doutoranda em Literatura e Filosofia alemã pela University College Cork, da Irlanda.