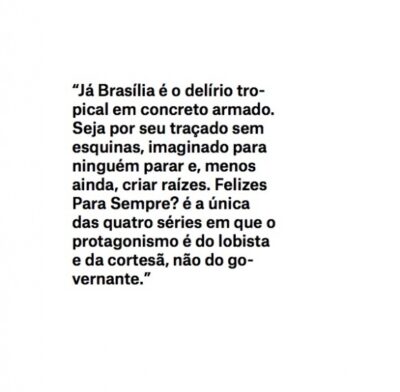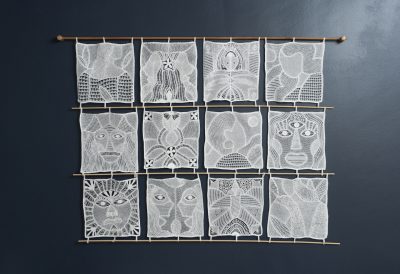Dela disseram ter organizado a orgia —
em livros como a Antologia da poesia erótica brasileira; duas coletâneas que cobrem um século e meio (de 1852 a 2022) de contos eróticos brasileiros, O corpo descoberto e O corpo desvelado; além da Seleta erótica de Mário de Andrade.
Mas também chafurdou-se nela —
em ensaios que desnudam com faro crítico o imaginário erótico da literatura de Machado de Assis, Sade, Manuel Bandeira, Roberto Piva, Hilda Hilst, entre muitos outros; grande parte deles reunido em A parte maldita brasileira. Mas também em livros: O corpo impossível, Lições de Sade e Perversos, amantes e outros trágicos.
Mais: é curadora da coleção Sete chaves, da editora Carambaia, que publica alguns bons exemplos de autores brasileiros e estrangeiros que escreveram sobre amor, sexo, erotismo e afins, alguns inéditos em português. Por enquanto, foram lançados Rosa mística, da uruguaia Marosa di Giorgio, e Cinema Orly, de Luís Capucho.
Nossa conversa aconteceu numa manhã de março, eu de Maastricht, na Holanda, Eliane Robert Moraes de São Paulo. Durou mais ou menos 1h30 e precisamos desligar. Muito ficou por dizer. Ela é um instantâneo desse momento, com todas suas aparições; da minha janela, os botões intumescidos das cerejeiras prestes a.
Eliane — Tá gravando?
Bruno — Eu acabei de ler, agora de manhã, sua entrevista para os Cahiers Bataille no. 6 com o dossiê sobre “Georges Bataille e a América Latina”. Está maravilhosa.
E — Você gostou?
B — Adorei. Você fala de maneira muito clara sobre questões difíceis. Porque esse tema é muito intrincado. Trata de uma parte obscura do mundo, da gente mesmo. Então, dar clareza a isso, ainda mais tendo que se confrontar com certa moralidade que está sempre querendo oprimir qualquer manifestação desse tipo…
E — Que bom, pra mim é importante te ouvir, porque é uma entrevista longa, que foi feita aos poucos, teve uma primeira leva, depois uma segunda… Tive sorte de ter como entrevistadores a Monika Markzuk, editora dos Cahiers, que é uma graça, e o Marcelo Jacques de Moraes, uma pessoa que conhece o meu trabalho, com quem tenho muita afinidade e de quem gosto muito. Fiquei muito grata.
B — Eliane, também vou fazer perguntas mais pessoais. Por exemplo, onde você nasceu, onde você cresceu, como você era quando menina, enfim, sobre a sua infância. Te pergunto isso porque todo meu interesse no erotismo, pelo menos no meu caso, remeto às experiências que tive na infância, e acho que essas coisas se conectam de alguma maneira. Lembro agora da entrevista do Bataille falando de A literatura e o mal, em que ele relaciona o mal à infância. Então eu acho que a infância e o mal intrínseco ao tema do erotismo estão ligados, daí meu interesse, daí minha pergunta, também.
E — Sim, o celeiro é a infância. Vou tentar ser breve. Primeiro, como tenho bastante idade, tem muitas camadas. Mas você está direcionando um pouquinho a pergunta, e isso é bom. Eu nasci no dia 21 de julho de 1951, em São Paulo, e muito nova fui pra Minas Gerais. Meus pais se mudaram para Poços de Caldas, cidade que já é uma pontuação na minha infância, onde vivi de 1952 até 1961. Uma cidade pequena, super agradável. A primeira expressão que me vem quando eu lembro de Poços é: águas sulfurosas. Eu nunca fui ao dicionário pra tentar entender a palavra, o som, e essa ideia de que as águas poderiam ser qualificadas para além de quentes, frias ou geladas. As águas sulfurosas significam muito para mim. Só de falar agora, já vem um montão de coisas na minha cabeça. Então, Poços me fez conviver com palavras que estão fora de uma vidinha normal: bauxita, águas sulfurosas, termas, cassino… Em Poços havia um cassino! Então, tem coisas muito próprias da cidade que me formaram. A gente morava perto de um jardim, e ali tinha um lugar chamado Fonte dos Macacos, e era lá que a gente ia se molhar com as águas sulfurosas, quentes, chamando atenção ao corpo. Essas palavras para mim são ouro. A gente morava a uma quadra das termas, e eventualmente a gente ia lá tomar um banho. Então, essa cidade para mim é pontuada pela água. Mas além das águas — eu não sei se tem alguma verdade nisso, mas era o que se dizia e o que ecoava na minha cabeça de criança —, Poços era a cratera de um vulcão, obviamente extinto. Porque Poços é uma cidade rodeada de montanhas. Isso qualifica um pouco um espaço fechado, um espaço ali único. Penso um pouco no universo do Guimarães Rosa até, aquela coisa de “A menina de lá”, de “Famigerado”, a montanha, a Serra de São Ão, o que se esconde atrás da serra, pra lá ou pra cá da montanha, em Minas, região montanhosa e misteriosa.
Em 1961, quando a família volta para São Paulo, aquilo tudo já estava impresso na minha vida. Aí já estou com dez, onze anos de idade, já saí da infância. A gente deixou Poços de Caldas porque a família estava em crise. Aí entra a figura do meu pai, e que tem tudo a ver com as coisas que eu estudo, porque meu pai era um boêmio, era um dândi baiano que de repente se casa e tem que dar conta de uma família, de um orçamento, de tudo isso, e a coisa não dá muito certo. A minha mãe era uma mulher de São Paulo, uma self made woman, uma mulher extraordinária, com enorme capacidade de trabalho, que se casa com um boêmio que, na juventude, deixa a Bahia e vem pro sul.
Ele contava que, vivendo no Rio, na sua juventude, ele ia toda noite ao Cassino da Urca, onde havia um pianista que, quando ele entrava no Cassino, ia para o piano e tocava as primeiras linhas de uma canção que eu amo de paixão até hoje, que é The man I love — “Someday he’ll come along / The man I love”. Isso é uma fantasia minha, porque ele me contou, mas eu nunca entrei no Cassino da Urca, eu só conhecia o cassino de Poços, e mesmo assim, só do lado de fora… Cassino era um lugar absolutamente glamuroso, para reis e rainhas, para gente especial, que deslocava a gente de uma familiazinha de classe média, ali naquela luta do dia a dia, de uma mãe trabalhadora, que foi tudo que você pode imaginar — gerente de loja, sacoleira, fazia tudo que podia para sustentar os filhos —, porque não era o boêmio que dava conta disso.
Então, a gente sai de Poços de Caldas porque meu pai passa noites fora, joga, bebe — o que depois se tornou um alcoolismo brabo, difícil e sofrido. E, quando chegamos em São Paulo, vamos morar com minha tia e minha avó num apartamento de dois quartos em Santa Cecília: meu pai, minha mãe e três filhos (uma irmã que é um ano mais velha e um irmão que, infelizmente, já faleceu, mais novo que eu, que também foi professor da USP, um geógrafo muito talentoso). Então tudo muda, e eu entro nessa vida já adulta, mais dura, numa cidade mais dura, a família em crise, tudo complicado. Mas meu pai, sendo essa figura do boêmio, voltado à “alma encantada das ruas”, aos bares, ele era um cara culto. Vinha de uma família de classe mais alta na Bahia, que perdeu tudo — será por isso que eu falo tanto em perda? Era o mais velho de nove filhos e tinha uma vida de moço rico lá: ele dizia que, em Salvador, quando ele era moço, ia comprar uma gravata no centro e não carregava o pacote — aquela canção, “não carrega embrulho”, aquela pose de doutor… E aí ele chega em São Paulo em meados dos anos 1940 e cai na farra até os 36 anos, quando se casa com a minha mãe, que tinha dez anos a menos.
Depois que meu pai morreu, fiquei sabendo que ele mantinha a vida boêmia, teve amantes, frequentava bordéis. Aí entra o erotismo, claro, porque isso era tudo erotizado, e meu pai foi a pessoa a partir da qual eu soube que existia sexo. Não por nenhum abuso ou assédio conosco, mas pelo que a gente fantasiava da vida dele. E também, quando minha irmã e eu nos tornamos adolescentes, houve uma sexualização meio às avessas, aquela noia dos pais de que algum tarado podia pegar a gente e fazer qualquer coisa. Aquilo exalava uma erotização muito forte que a gente não podia saber, mas que obviamente a curiosidade infantil levava a interrogar. Essa história é multifacetada, mas eu já pensei que fui trabalhar com erotismo, libertinagem e tal porque havia no ar uma pergunta sobre a figura paterna, sobre a vida do pai fora da família, a vida dele antes da gente ter nascido e a vida oculta dele depois que a gente nasceu.
Uma imagem que eu tenho do meu pai — isso eu já mocinha, enquanto vivia com a família na Avenida Angélica, aqui em São Paulo, no 7º andar de um prédio — é ele na janela do apartamento olhando para o infinito, horas e horas. Horas e horas. Isso colocava o que essa pessoa estava pensando, o que estava se passando dentro dela… Hoje vejo que ele era o tipo melancólico. Quando fui ler sobre as teorias dos temperamentos, pois sempre me interessou muito esse tema dos caracteres, dos temperamentos, quando eu fui ler sobre a melancolia — Teofrasto, Bacon, Susan Sontag —, pensei: “nossa, a descrição do meu pai: melancólico”. Tive que montar um quebra-cabeça para entender: sensual, melancólico e muito pensativo também. Isso é um fio que não termina, e acho melhor parar por aqui.
B — Quando você fala que seu pai era uma pessoa aderente à vida e de um momento para o outro tem que constituir uma família, lidar com boleto, isso é um baque, uma crise. E essa imagem dele na janela é muito bonita. Como se estivesse mirando aquilo de que é impossível se ter o tempo inteiro, que é essa gratuidade, porque existe uma vida prática que assalta a gente. Mas amei as águas sulfurosas e você não querer procurar o significado no dicionário. Você vê que é uma memória dos significantes, dos sons que guardam segredos, e por isso — porque despertam nossa imaginação — fazem promessas.
E — Termas, termal, térmico…
B — Muita memória sensual, do corpo que vai na água quente. E a palavra sulfurosa é realmente muito sugestiva, enigmática. Enfim, remete também ao fato de você trabalhar com literatura, com os significantes e seus mistérios. Adorei essa história das águas sulfurosas.
E — Essas águas se devem ao fato — bem, essa é a explicação que eu tinha — daquilo originariamente ser um vulcão. Por acaso, hoje, neste momento da vida, estou lendo muito sobre vulcões para um livro que estou escrevendo, e a lava é uma matéria que me interessa muito para falar de sexo. E em Poços tinha essa história, uma lava adormecida, que eu ligo ao meu pai e à minha infância. Mas o meu pai também era colérico em alguns momentos: como você sabe, em qualquer momento um vulcão pode entrar em erupção!
B — Eliane, por que você foi estudar Marquês de Sade? Você foi estudá-lo com tesão? O que te moveu? E eu te pergunto isso porque eu sei o que me move para a erótica, o que me move é uma pergunta que não pode ser respondida — é um absoluto, uma energia, um mistério. E aí, claro, tudo vai se misturar tanto depois. É Deus, é o sagrado, o que é insondável vai acabar dando aí. Mas continua sendo uma pergunta sem resposta, daí a importância de fazê-la e de repeti-la sob diferentes formas. Então, queria saber: por que você foi estudar Sade, o que te perturbou?
E — Puxa, essa é uma pergunta que te faz ficar rodando em volta dela, pois ela não tem centro, não tem mesmo. Quer dizer, tem essa coisa longínqua da infância, que eu contei, mas fui me interessar pela erótica, do ponto de vista intelectual, já bem mais velha. Tive uma vida errante na juventude, bem afinada com a minha geração, tentei fazer várias faculdades, nada encaixava muito, eu não achava graça, fui bem errante. Passado muito tempo, me tornei uma pessoa completamente focada, voltada para um tema, uma questão. Eu acho interessante quando as pessoas escrevem “especialista em erotismo”. Eu falo: “gente, o que será que é isso, mesmo?”.
Nos estudos, eu comecei com o Direito, depois Pedagogia, depois Publicidade, e não terminei nenhum deles até que, enfim, entrei nas Ciências Sociais — foi a graduação que completei. Depois eu fui fazer pós-graduação em Filosofia. Sempre gostei de ler, mas pra chegar na literatura foi um caminho tortuoso. Só passei a dar aula de literatura há doze, treze anos, quando entrei na USP; até então, quando eu estava na PUC, eu dei aula nos cursos de Jornalismo e de Filosofia. O erotismo e a literatura erótica aparecem pra mim no final da minha graduação nas ciências sociais; até então eu me interessava muito por antropologia. Fiz graduação um pouco mais velha, beirando os 30 anos, porque, como boa espécime da geração 68, achava que tinha que experimentar de tudo, sair de casa cedo, com mochila nas costas, essa coisa toda. Sou muito grata de ter sido uma mulher dessa geração, que se recusou em casar com um mocinho lindo, etc. e tal.
Então, aos 29 anos de idade, fui fazer uma viagem para a África, África do oeste, fui conhecer o Senegal, o Mali, a Costa do Marfim, uma loucura, dois, quase três meses viajando com a minha irmã. E aquela viagem transtornou a minha paisagem mental, e aí eu falei: “eu quero estudar antropologia”, e fui fazer graduação em ciências sociais. Embora até hoje eu ame antropologia, na época comecei a me interessar pela filosofia. Foi quando conheci o Renato Janine Ribeiro, que viria a ser meu orientador no mestrado e no doutorado; por volta de 1984, ele estava defendendo o doutorado e ministrava cursos incríveis sobre As mil e uma noites, sobre Stendhal, e sobre literatura dos séculos XVIII, XIX.
Paralelamente, nesse momento, eu passei a integrar o movimento feminista aqui em São Paulo, num grupo chamado Nós Mulheres, que era muito legal. E uma das coisas que a gente fazia como atividade era ler literatura, a começar por Madame Bovary. Estava então estudando antropologia na USP, participando do feminismo, que já chamava para essas questões do sexo (a palavra gênero a gente não usava na época) e assistindo aos cursos do Renato na Filosofia. Foi nesse momento que conheci o Caio Graco Prado, da editora Brasiliense, que estava começando a coleção Primeiros Passos e me convidou pra escrever um livrinho chamado O que é pornografia.
Escrevi o livro com a Sandra Lapeiz, uma amiga querida, e com isso eu estava dando não só meus primeiros passos como também um grande passo, que iria definir minha vida intelectual. Isso porque continuo estudando a erótica literária até hoje, e até hoje eu quero saber o que é a pornografia… É o que o Henry Miller diz: “falar de obscenidade é tão difícil quanto falar de Deus, e a entrada nesse universo é também uma espécie de conversão”, ou seja, não é algo racional, você se converte. Você, Bruno, é um convertido, e isso eu entendi quando li a sua tese sobre o erotismo na obra de Vinícius de Morais.
Ora, no meu caso, foi justamente quando eu estava escrevendo O que é pornografia que bato com Sade. Não tem como estudar erotismo sem encontrar Sade no seu caminho. Eu lembro que arranjei um professor de francês que lia Sade comigo, ele morria de vergonha, e eu estava aprendendo tudo quanto é palavra obscena em francês… Aí foi aquela surpresa, aí eu me pergunto: “o que é isso?”. Quando terminei a graduação, fui procurar o Renato Janine Ribeiro e me tornei a primeira orientanda dele, estudando Sade, um autor quase desconhecido no Brasil. Isso coincidiu com um movimento internacional de interesse em Sade, quando se começou a publicar, estudar e traduzir a obra sadiana. Eu entendi que Sade era fundamental, e para mim é fundamental até hoje.
Então, você vê, minha trajetória passou pelo feminismo, pela filosofia (também por pensar a literatura pela filosofia), passou pela África, e tudo isso num momento em que tive uma filha, talvez o evento mais importante de todos. Foram vários eventos que me orientaram a um lugar… Enfim, o meu pensamento pousou num lugar absolutamente importante e turbulento, bem no meio de uma cratera de vulcão. Nessa altura, eu falei: “deixa eu conhecer então a matéria da lava”, que até hoje é a matéria que eu estudo.
B — O erotismo, do Bataille, é um dos livros da minha vida. Me fez pensar muita coisa, e uma delas — porque me acho uma pessoa muito religiosa, no sentido, digamos, secular até, ou desinstitucionalizado, porque não tenho nenhuma relação com instituições religiosas — é a relação que ele faz do sexo com o sagrado. O que disse o Henry Miller é também isso. O erotismo, o sexo, é o próprio mistério da vida, porque é também do sexo que nasce a gente. Queria saber qual foi o seu espanto com o Bataille.
E — Eu fui ler o Bataille quando comecei a trabalhar com Sade, ou seja, Bataille como intérprete de Sade. Logo, pela importância dele, pelas ideias, pelo impacto, eu li O erotismo, que teve sobre a minha pessoa um impacto imenso, e tem até hoje. Eu tenho uma relação com Bataille muito forte, às vezes eu brigo um pouco com o pensamento dele, acho que ele tem uma espécie de morbidez com a qual não me identifico — talvez eu seja uma pessoa mais solar do que ele, mas também é interessante que eu me fascine tanto por uma pessoa tão noturna. Então, tem ali algo que fica me convocando e a que eu resisto. Agora, conversando com você, eu acho que esse algo talvez seja a espiritualidade mesmo, porque esse campo é o meu recalcado, sabia? O recalcado é sempre difícil de se mexer.
B — Lendo sua entrevista no Cahiers, em algum momento você fala que existe um vínculo entre a necessidade carnal e a vida do espírito.
E — Eu acho assim: quando a gente fala da vida do espírito, da vida espiritual, eu acho que imediatamente a gente vai pensar num sentido religioso, seja ou não institucional, mas num sentido religioso ou em Deus. Mas a coisa que eu cultivo é a vida espiritual identificada com a vida intelectual, esse espaço que não é o da matéria e é muito misterioso. A matéria, para um ateu ou uma ateia como eu, é o que sustenta isso, mas isso não é matéria, entende? Então não posso admitir que só os religiosos reivindiquem a vida espiritual, eu reivindico também, eu vivo da vida espiritual. E ela é misteriosa. Quer dizer, eu acompanho até certo momento, mas eu não creio em Deus, em nenhum deus.
Eu não creio em Deus, mas eu tenho um montão de patuás, adoro, enfim, eu me identifico muito com rituais, isso é uma coisa muito batailliana também. Ontem mesmo um amigo meu escreveu dizendo que estava mal, eu já indiquei um banho de água com arruda, depois pipoca branca, e aí por diante. Inclusive, sou uma frequentadora bissexta do candomblé e adoro, porque com aquilo tudo vem a matéria, tem a comida, tem a pipoca, a água, a água sulfurosa, tem isso tudo com que eu me sinto bem; não só me sinto bem como eu sou uma pessoa que tendo a ficar transtornada com ritual. Eu já dei umas desmaiadas em ritual de candomblé e eu falo “mas será que…”. Agora, se você pedir pra eu preencher o formulário, eu vou botar que eu sou ateia, entendeu?
O Hans Bellmer, o artista plástico da geração surrealista, dizia: “o que me incomoda em Bataille é esse Deus morto”. Eu acho incrível essa frase. Quer dizer, Bataille tem esse deus, ele nomeia, ele traz o significante, e, nesse momento, eu chego junto com a transcendência, mas Deus, eu tenho dificuldade. Até, talvez, pela banalização de Deus nos dias de hoje.
B — Eu posso dizer com convicção que sou religioso, mas nunca pensei isso de forma monoteísta, em Deus, eu penso sempre a partir da imanência, do que existe e que a gente pode pegar, daí que eu gosto tanto do Bataille, adoro aquela coisa do baixo materialismo… Mas deixa eu te perguntar. Eu li recentemente A história de O, e tem uma coisa que me inquietou no livro. Até conversei com você sobre isso rapidamente quando nos encontramos no Rio. É o seguinte: existe uma espécie de servidão sexual voluntária de O, que, enquanto ela experimentava, entre as paredes do confinamento, a submissão e a humilhação, quando não estava ali, mas de volta à sua vida cotidiana, ela me passava, sobretudo em relação à outra personagem mulher, que era neófita naquele ritual, ela me passava uma sensação de soberania, uma espécie de integridade, justamente porque tinha se submetido sexualmente ao capricho daqueles homens. É como se, pelo fato dela ter vivido, de forma desassombrada, experiências sexuais radicais a que frequentemente a maioria das pessoas é privada, pois recalcam ou sublimam seus desejos, isto é, não os vivem efetivamente, é como se ela tivesse alcançado uma sublime indiferença, um bem-estar psíquico a que estou chamando de soberania. O que é perturbador para mim nesse livro é o fato dessa soberania advir justamente de uma submissão voluntária.
E — Eu acho essa questão bem perturbadora também. Sempre penso que, quando a gente está falando de sexo, não sei se isso vale pra tudo na vida, mas quando a gente está falando de sexo, o vivido e o psíquico estão absolutamente juntos, eles são inseparáveis. Enquanto experiência individual, entende? Claro que é diferente você ler um livro sobre sexo e ter a sua vida sexual. Mas a tua vivência, tua experiência do sexo, que é totalmente corporal, é sempre uma vivência psíquica também, no ato. Até porque eu acho que não existe uma vivência sexual que não compreenda uma fantasia, ou várias. A mais reles, a mais chula, a mais imediata, sempre tem algo de fantasia, de psíquico, já ali.
Eu acho que a importância da sexualidade é essa. Para os dois grandes formuladores modernos da vida sexual, que são Freud e Sade, é isso que os dois dizem. Não por acaso, eles são contemporâneos. Digo isso porque a obra do Sade também é descoberta no século XX, quando Freud está escrevendo; então, para mim, são os dois grandes formuladores ali juntos.
A situação da personagem O é uma situação extrema de despossessão. Ela é mesmo, na literatura, a personagem que chega a um limite de despossessão e de indiferença, que é a palavra que você usou. É uma ascese que passa pelo corpo. É como se ela fosse completamente despossuída também desse campo psíquico, mas, na verdade, aquilo é a fantasia dela também. Ela está o tempo inteiro vivendo a fantasia desses outros que vão, digamos assim, possuindo o seu corpo. Essa fantasia de ser violentado pelo outro, pelo corpo do outro — que demanda cuidado quando a gente fala, porque não é um elogio à violência, é um outro plano, até porque estamos aqui no domínio da arte, da literatura.
É importante a gente pensar esses casos extremos — como o da História de O, da literatura inteira de Sade, da História do olho, de Bataille, d’O caderno rosa de Lori Lamby, da Hilda Hilst — esse feixe de questões que a gente está abordando até onde dá, e esse “até onde dá” é justamente o que coincide com a coisa que te inquieta, e a mim também, que é um mistério. Aí você está na escuridão, aí é onde chega a escuridão. E aí é o que importa à Clarice Lispector: é “a escuridão na escuridão”.
O pensador iluminista da Enciclopédia de Diderot, que Sade cita, assim define o filósofo: “il marche la nuit, mais il est précédé d’un flambeau” [“ele caminha à noite, mas é precedido por uma tocha”]. Mas tem um momento em que a tocha apaga. E quando a tocha apaga, você entra no universo da Clarice Lispector, que é essa escuridão que você só pode conhecer na própria escuridão; dentro dela, não há esclarecimento, não há iluminismo possível.