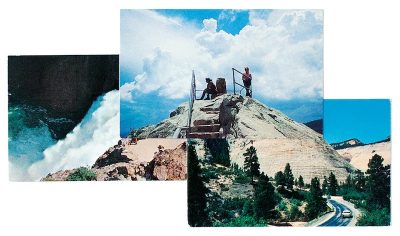editor de artes plásticas da Amarello Infância
“O autêntico poeta está no
mundo como uma criança:
pode (…) como a criança, gozar
de um inegável bom senso, mas
o governo dos negócios não
poderia lhe ser confiado.”
Georges Bataille
em A literatura e o mal

Pode parecer inusitada a escolha, num texto sobre a infância, da epígrafe de um autor que dedicou grande parte de sua obra a estudar a vida dos malditos como o Marquês de Sade, William Blake e Friedrich Nietzsche, e as associações entre o erotismo, a morte e a religião. Mas essa escolha não é infundada – crianças não são seres imaculados, crianças podem não ser o messias. Se observarmos a história da arte do século XX e XXI, veremos como a figura da criança inspirou de maneiras distintas as obras de uma infinidade de artistas, podendo assumir as facetas de selvagens, líricas, oníricas, perversas, eróticas, assassinas, consumistas, diabólicas e transgêneros.
Quando fui convidado por Tomás para editar a seção de arte desta edição da Amarello e fui apresentado ao tema, a primeira pessoa que me veio em mente, entretanto, não foi Bataille, mas outro francês – o pintor e escultor Jean Dubuffet. Este foi uma figura fundamental para outro artista, atualmente uma celebridade mundial póstuma, Jean-Michel Basquiat, que, de Dubuffet, herdou justamente o desrespeito às regras, às convenções, evocando uma espécie de criança interior que vomita no mundo toda a sua aspereza, toda a sua materialidade, todas as suas convulsões.
Não é à toa que Dubuffet detectou o que chamaria de Art Brut no modo de representar o mundo “artisticamente” de outsiders como loucos, presidiários e, em meio a essas figuras impopulares, as crianças. Esses modos de ver o mundo aparentemente nus e crus teriam muito a agregar à arte do pós-guerra, à necessidade de expurgar os traumas, os constrangimentos com relação à falência da sociedade industrial. A linguagem humana não foi vista como algo límpido e cristalino por Dubuffet, mas sujo, terroso, lamacento, corrompido, tal qual uma mistura de cores feita por uma criança descuidada. As hierarquias precisavam ser quebradas. Na fase matérica desse artista, fica nítida essa ausência de pureza, fazendo com que algumas de suas obras fossem inclusive agredidas fisicamente pelo público ultrajado. Não é admissível que um adulto se comporte como uma criança – diziam os homens sérios com os quais Dubuffet buscava romper de maneira provocadora.
De forma semelhante a Dubuffet, Paul Klee se encaminhou na direção de um fazer pictórico ligado à ancestralidade da técnica, ambíguo e pré-histórico – período que, justamente, pode ser visto como a primeira infância de toda a humanidade, antes do aprendizado da escrita, quando nos comunicávamos por marcas simbólicas universais e espirituais. Essa era misteriosa serviu como modelo de expressividade para a pintura e o desenho. Klee gostava de dizer que desenhar era como “levar uma linha para passear” – nada mais doce, infantil e espertamente displicente. Eis como definir um conceito da melhor maneira sem necessariamente defini-lo nos limites da racionalidade. O humor de Klee pode ser associado ao gosto pelo teatro de bonecos, tendo o artista inclusive fabricado alguns deles artesanalmente, reforçando sempre o valor da dimensão lúdica de sua arte. Seus objetos sempre serviram tanto para expressar verdades profundas quanto para ensinar de maneira didática, rápida e imediata sobre cor, luz e movimento – tendo-os empregado em seus anos de atuação como professor, inclusive da Bauhaus.
Escapando da tradição da superfície e dos materiais da pintura, Brassaï, nos anos 1960, buscou revelar as portas do inconsciente nas paredes do espaço urbano. Em sua série de fotografias, documenta os grafites arranhados nos muros de Paris. São trabalhos anônimos de pessoas que, possivelmente, não tiveram formação artística, o que justamente faz com que as formas visuais de suas ranhuras não sejam tão distantes das desenhadas por uma criança em um papel. As fotos de Brassaï sugerem a cidade como um parque de diversões ou escola de magia perversa; sem regras, um campo aberto ao protesto e à selvageria, ao crime e a símbolos arquetípicos que remetem às vanitas e aos cultos mágicos e/ou satânicos. Quando pedimos para uma criança que foi física ou psicologicamente abusada ou que passou por algum outro trauma que desenhe sua família, algo de aterrorizante poderá surgir. Nesse sentido, a cidade de Brassaï surge como o caderno de esboços dilacerante dos filhos das revoluções industriais, violentados pelas grandes guerras, envergonhados pelos crimes de seus pais.
Em sintonia com Dubuffet, os membros do Grupo CoBrA evocaram as figuras rabiscadas aparentemente de maneira impulsiva pelas crianças, vistas como criadoras de formas nobremente desajeitadas, mas vitais e sinceras. O desequilíbrio plástico dos loucos, figuras violentamente excluídas do bom gosto e das boas maneiras da tradição europeia, também eram louvadas pelo grupo. Surgiram obras coletivas, feitas a quatro, seis ou oito mãos, e alguns murais multicoloridos que parecem ter sido encomendados para decorar um jardim de infância ou pintados pelas próprias crianças. O artista do CoBrA foge como pode da erudição, mas sabe que isso é uma utopia. Sabe que ser criança é o seu paraíso perdido, que essas portas estão eternamente fechadas por Deus, que só resta a barbárie dos adultos, reflexo dos tempos de guerra.
Aqui no Brasil, Alfredo Volpi, inspirado pelos afrescos renascentistas italianos, passando por artistas como Dufy e Utrillo e chegando às raízes populares e sagradas brasileiras, converte a pintura num espaço de inocência e extrema delicadeza. Há algo da simplicidade e do instinto das crianças na ausência de perspectiva e afetividade abençoadamente risível e festiva de suas bandeiras. A infância servia de modelo para inserir a arte brasileira finalmente na vanguarda abstracionista internacional, mesmo que tardiamente. Anos depois, Lygia Pape criaria um mar vivo de crianças – negras e mestiças, em sua maioria. Um tecido metafórico, utópico, espaço ativo da experimentação; um dos momentos mais marcantes da arte sensorial dos anos 1960-1970. Nessa obra, chamada de “Divisor”, a artista evoca o tom celebratório do carnaval, dos desfiles de escola de samba; torna-o enxuto, fazendo-o mais clean para criar uma interlocução com a abstração geométrica internacional. “The Geometry of Hope” (“A Geometria da Esperança”), assim será descrita a arte latino-americana na qual fomos inseridos pela crítica e historiografia internacional.
Crianças e jovens foram tema dos desenhos com insinuações eróticas de Egon Schiele. Sua sexualidade foi explorada pelas linhas sinuosas do desenho expressionista que, por alguns, ainda é tido como meramente machista e criminoso e, por outros, é visto como um valioso precursor das associações entre psicologia e arte. Schiele chegou a ser preso sob acusação de expor pornografia a menores, algo até hoje discutido entre os historiadores. Outras jovens serviriam de modelo para os impulsos eróticos de um artista adulto, Balthus, em suas singulares pinturas, desenhos e fotografias que descrevem cenas de interiores. Meninas, com corpos ainda pouco amadurecidos, são representadas em cenas sugestivas, narcisistas, perversas, por vezes mostrando suas roupas íntimas ou mesmo sua genitália. O artista não tem medo ou vergonha de andar na corda bamba da proibição ao nos apresentar suas fantasias sexuais interditas – ou, melhor, talvez não tenha medo de provocar em nós fantasias sádicas e criminosas. Talvez ele pudesse ter sido mais explícito em sua narrativa artística, mas, para alguns, talvez já tenha sido suficientemente cruel e abusivo no mundo real.
A importância do brincar foi evocada na Pop Art de Claes Oldenburg através da humanização dos produtos de consumo de massa. Vasos sanitários moles que parecem de pele, logotipos da Pepsi derretidos – aos objetos rígidos, é conferida uma cômica e surreal organicidade. Há também a absurda monumentalização de hambúrgueres, colheres, sorvetes – convertidos em esculturas gigantes, muitas delas obras de arte públicas, divertidas e satíricas. Entrar em uma exposição da Pop é como entrar em um grande baú de brinquedos – caros e valiosos para a história da arte. Mais tarde, Jeff Koons elevaria essa estratégia a níveis ainda mais intensos no sistema de valores da arte contemporânea com seus Popeyes, Balões, Embrulhos enormes e brilhosos que assumem o papel de arquétipos extraídos da cultura de massa. A estética da infância tem invadido há algumas décadas o mercado de arte, ajudando artistas, galeristas, colecionadores, curadores e outros personagens a atingirem os preços recordes almejados nas casas de leilão.
Já na fotografia underground de Diane Arbus, a criança expressa sua feiúra desavergonhada ao afirmar-se como uma figura não idealizada, distante dos cânones de beleza dos pôsteres que rechearam o sonho americano e que modelaram não apenas padrões de beleza nos EUA, mas ao redor do globo. Em “Child with Toy Hand Grenade in Central Park” (“Criança com Granada de Mão de Brinquedo no Central Parque”), a artista captura uma série de elementos simbólicos em uma poética da colisão: expõe a ludicidade do brinquedo assimilada à necessidade de fabricar armas e de matar que moverá perpetuamente as engrenagens da potência norte-americana. É importante introjetar na criança, desde a infância, um carinho pelas armas. A vontade de brincar deve se fundir à vontade de matar. A imagem de Arbus dá formas plásticas à lógica do funcionamento da cultura de guerra dos EUA.
“The Radiant Child” (“A Criança Radiante”) foi o artigo assinado por Rene Ricard na revista Artforum para analisar e enaltecer a então novíssima cena artística de Nova York no início dos anos 1980. Keith Haring e Basquiat se apoiavam justamente na tradição de nomes do modernismo que se valeram da arte infantil, como Pierre Alechinsky, Jean Dubuffet e Pablo Picasso, para impulsionar o neoexpressionismo e o graffiti dos EUA daquele momento. De maneira imprudente, malcriada, Haring rabiscava com giz os quadros pretos de aviso e publicidade nos metrôs de Nova York. A criança desrespeitara a lei. Ao ser presa, ria orgulhosa de seu feito. Inundava as paredes e objetos de consumo com seu bebê engatinhando, que virou marca registrada e que estampa até hoje camisetas de lojas multimarcas. O “bebê radioativo” de Haring era o novo paradigma, engatinhando pelo submundo da metrópole em busca da fama. Substituía o modelo apolíneo dos gregos, o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci e o Satã de Milton elencado pelos românticos. Era o esplendor da infância, contaminada pelas cores flúor, mas também pela AIDS.
Seguindo o legado dos artistas nova-iorquinos dos anos 1960 e 1980 e sua própria tradição japonesa, Takashi Murakami e Yoshitomo Nara mergulham no universo consumista da toy art para novamente evocarem a sexualidade e a perversidade infantis que Schiele e Balthus haviam explorado. Crianças fumantes, vampirescas, assassinas, cuja sexualidade precoce foi produtificada pela indústria dos mangás japoneses, ganham as galerias de arte e, depois, retornam ao panorama do consumo de onde se originaram para dar forma às colaborações de Murakami com a marca de luxo Louis Vuitton. Desse modo, a infantilização serve ao consumo, ao luxo, à distinção das classes, do erudito e do popular. Ter uma bolsa de couro original by Murakami não é o mesmo que ter um item qualquer by Romero Britto. Este é, justamente, outro artista que se valeu de intenso e celebratório colorismo, personagens infantis e algumas doses de polêmica para que suas ilustrações invadissem o mundo do consumo do design de massa. Uma infantilização da arte e do design impossível de ser negada ou apagada, ao menos da história recente.
Em um momento de crise política e de imensa desumanidade no nosso país, é apressado comparar alguns de nossos cruéis e preconceituosos governantes aos loucos ou às crianças, já que essas figuras foram suicidadas, segregadas, ou seus conhecimentos e ensinamentos banalizados por inúmeras sociedades. Nunca o governo dos negócios foi confiado a um “suicidado pela sociedade”, como um Van Gogh ou Artaud, ou a uma “criança radiante”, como Basquiat e Haring. Nos julgamos sábios e sãos por não darmos a faixa presidencial a uma criança esquizofrênica. Somos presunçosos e tolos, pois as imagens de sua imensidão não merecem os negócios escusos de nossa reles nação.