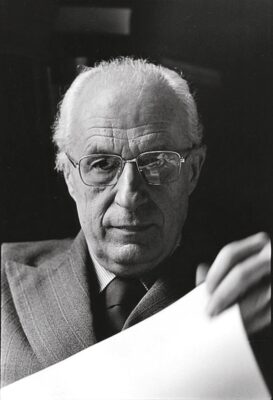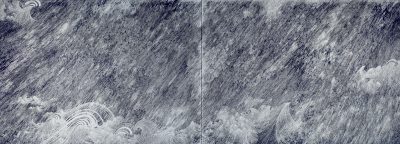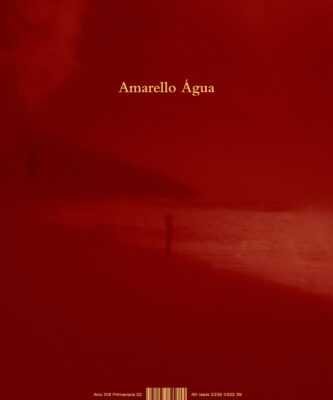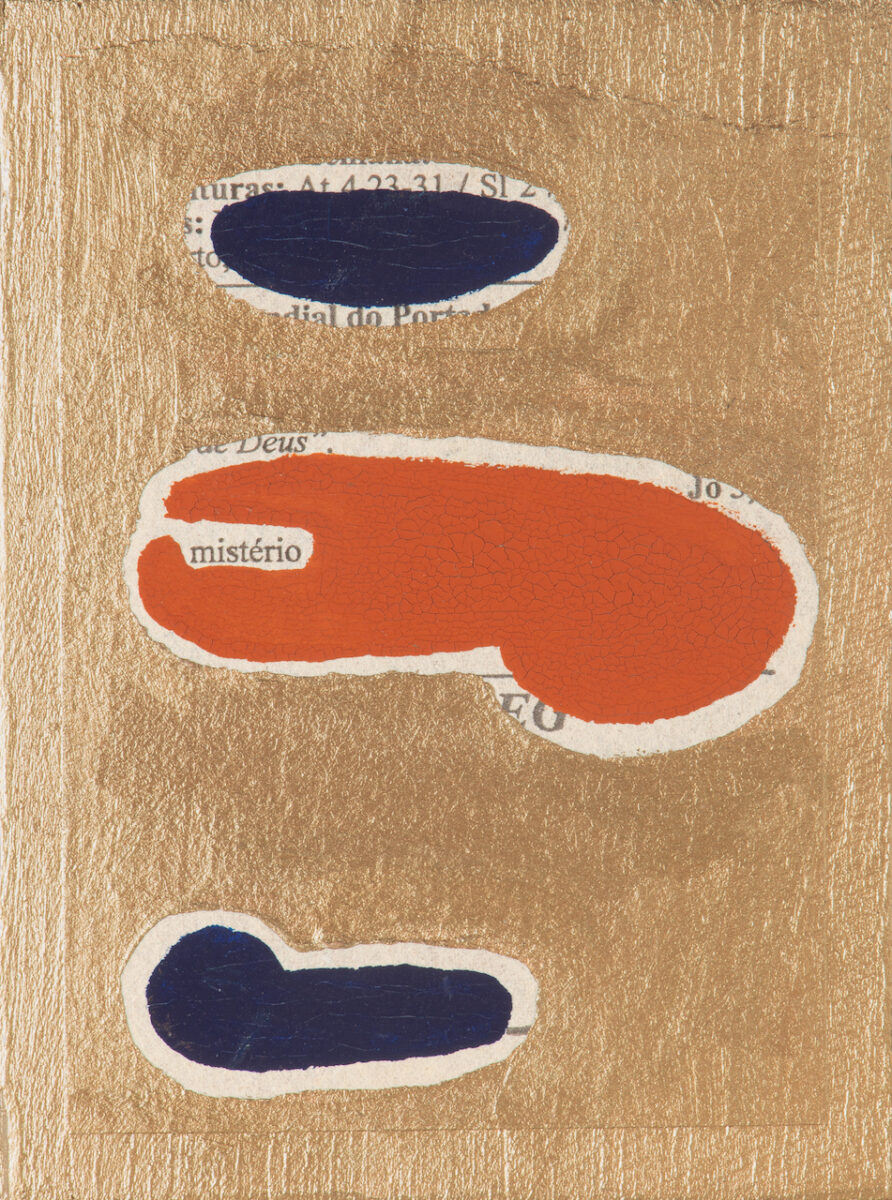
Meus tios se beijam no rosto: famílias negras no Brasil
Meus tios se beijam no rosto e sempre achei isso a coisa mais linda do mundo. Sou fruto de uma família completamente negra, em que, por parte de pai, tenho quatro tios: Alberto Carlos, Carlos Alberto, José Carlos e Carlos José. Além de minhas tias Célia Regina e Regina Célia. Para além da comicidade dos nomes invertidos, algo sempre me chamou atenção em meus tios: o hábito de se beijarem no rosto e demonstrarem carinho entre si fisicamente em público.
Ora, numa sociedade machista, assistir cinco homens — contando com meu pai — expressarem seu amor de forma pública é algo não tão comum. Ouvimos muito que “homem não chora”, que “homem de verdade” não dá beijo, apenas aperta a mão, entre outros jargões carregados de preconceito. Porém, mesmo sem me desgarrar completamente da possibilidade de reproduzir machismo em algumas esferas, observei que, para meus tios, havia uma outra forma de se relacionar e de construir afeto dentro de uma família negra.
Esta construção afetiva desafia paradigmas impostos e dialoga com processos de afeto, proposições relacionais e irmandade — sanguínea ou não — que permeiam a história de famílias negras no Brasil.
Considerada o primeiro grupo de socialização, a família é profundamente influenciada pela dimensão política e também é vista como um espaço para o exercício da cidadania. É dentro dela que se inicia a compreensão dos direitos e deveres, o que envolve o desenvolvimento de práticas como a tolerância, a divisão de responsabilidades, a busca coletiva por estratégias de sobrevivência, a construção de laços de solidariedade e a assimilação de valores culturais, entre outros.
Aqui, a família é entendida a partir da perspectiva da historiografia moderna, ou seja, como uma instituição social fundamental, que evolui tanto no tempo quanto no espaço. Dessa forma, rejeita-se a ideia de um único modelo de organização familiar. Mesmo que as duas famílias aqui consideradas sejam compostas por pai, mãe e filhos, essa estrutura não foi o resultado de uma escolha deliberada.
A trajetória de socialização de uma pessoa abrange os diversos contextos nos quais ela está inserida: família, escola, grupos de iguais, vizinhança e a sociedade em geral. A história sociocultural brasileira influenciou os modos de vida e a formação das famílias negras, gerando muitas descontinuidades, como sobrecarga, perdas, mortes e traumas. Nos últimos tempos, tem ocorrido um resgate historiográfico que examina a evolução da família negra, desde o período da escravidão até os dias atuais, com o objetivo de, por meio dessa perspectiva histórica, entender as consonâncias e continuidades desse grupo.
No entanto, como ocorre com várias categorias sociais, há um processo de hegemonização do conceito de família. Quando nos referimos a essa instituição de maneira geral, tomamos como modelo a família nuclear euro-americana, que é privilegiada em detrimento de outras formas de organização familiar. Assim, pensaremos o conceito de família desde outras perspectivas, em especial aquelas que emergem do continente africano e atravessam as práticas culturais e sociais de povos negros.
A herança africana, sem dúvida, foi uma parte integral da experiência vivida pelos cativos em sua condição de escravizados. Transportados de suas terras de origem e compartilhando o mesmo navio negreiro que os levava ao novo destino, começavam ali — ou até mesmo antes — a se formar os traços culturais que uniriam grupos previamente “dispersos” e estabeleceriam as bases das comunidades africana e afro-brasileira.
Seja mantendo seus costumes culturais ou recriando em solo brasileiro os elementos que lhes permitiam se identificar como africanos, não há dúvidas de que a vivência dos cativos africanos, junto com seu legado cultural, exerceu uma profunda influência nas comunidades escravas. Isso se manifestou tanto nas áreas rurais quanto urbanas, no nordeste e no sudeste do Brasil. Os traços da herança africana, constantemente revitalizados pelo tráfico de escravos, estavam presentes diariamente entre os cativos. Essa influência se expressava por meio do casamento, das práticas de nomeação e apadrinhamento de seus filhos, na religiosidade, nas resistências contra a opressão dos senhores e em muitas outras ações que buscavam conquistar algum grau de autonomia, mesmo que limitado, dentro do sistema escravista.
As “raízes” africanas não eram definidas por um lugar geográfico específico, mas sim pelos laços de parentesco, pelos ancestrais e por uma memória genealógica compartilhada, pois “os africanos carregam seus ancestrais consigo quando mudam de lugar, independentemente de onde eles estejam enterrados”.
A “família escrava” — para usar um termo de época — teve um papel fundamental na vida cotidiana dos cativos, oferecendo-lhes a chance de preservar e redefinir suas raízes africanas. A família também serviu como uma instituição poderosa que lhes proporcionava ganhos sociais, econômicos e políticos, além de criar espaços de sociabilidade e solidariedade. Aqui, referimo-nos a famílias escravas que iam além dos “núcleos primários”; ou seja, famílias intergeracionais e ampliadas, fundamentadas tanto no parentesco consanguíneo quanto nos laços rituais, estendendo-se muito além dos limites de qualquer unidade familiar ou laços de sangue. Essas famílias podiam atravessar os limites legais da escravidão, envolvendo relações entre cativos e pessoas livres ou libertas.
A historiografia recente tem feito progressos notáveis na discussão sobre as vivências dos africanos e seus descendentes nas Américas. Desde os anos 1970 e 1980, as pesquisas sobre a família negra durante o período da escravidão, especialmente no sudeste escravista, têm atraído a atenção dos estudiosos.
Entre os diversos mecanismos, o casamento se destacava como um capital social que ajudava na integração ao novo ambiente. Esse ato proporcionava um senso de pertencimento, especialmente quando realizado segundo os ritos católicos, pois criava laços na sociedade.
A Igreja Católica não apenas dominava a vida religiosa, mas também estabelecia normas sociais e morais de conduta. A rotina das pessoas era pautada por eventos religiosos, como procissões, missas e vigílias, e celebrações da vida, como batismos e casamentos, assim como da morte, através dos rituais fúnebres. Ao menos uma vez na vida, todos recorriam à Igreja para participar de um dos sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordenação e matrimônio. Os párocos eram responsáveis por realizar e registrar esses rituais em livros específicos, que eram mantidos nas igrejas. Devido ao padroado régio, os documentos gerados pelos sacerdotes possuíam tanto valor religioso quanto civil.
Os sacramentos, considerados na época como o caminho para a salvação da alma, também funcionavam como uma forma de reconhecimento social. Para os negros livres, que eram frequentemente percebidos como escravos pela sociedade, um registro de batismo, por exemplo, era essencial para comprovar sua condição legal em caso de questionamento. Da mesma forma, a inscrição de um casamento garantia ao cônjuge sobrevivente o direito de herdar e administrar os bens da família. O sacramento do matrimônio criava um vínculo permanente e indissolúvel entre homem e mulher, fundamental para a formação de uma família.
De acordo com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, o casamento tinha três objetivos principais: o primeiro era a procriação, destinada a honrar e servir a Deus; o segundo, a fidelidade mútua que marido e mulher deveriam manter entre si; e o terceiro, a indissolubilidade do vínculo conjugal, simbolizando a união entre Cristo e a Igreja Católica. Além desses propósitos, o casamento também era visto como um “remédio para a concupiscência”, conforme aconselhado por São Paulo àqueles que não conseguiam conter seus desejos.
Contudo, para os africanos libertos, o casamento assumia outras dimensões. Conforme apontado por Maria Inês C. de Oliveira, a união conjugal significava um acordo de apoio mútuo, visando à melhoria das condições de vida de ambos os parceiros. Tanto homens quanto mulheres eram responsáveis pelo patrimônio e pela manutenção do casal, desde que houvesse trocas de benefícios e garantias. A mulher poderia assumir a gestão da casa e dos afazeres domésticos na ausência de escravos, enquanto o homem desempenhava o papel de provedor, oferecendo à companheira o suporte masculino necessário em uma sociedade patriarcal. Além disso, uma característica notável entre os ex-escravos era a tendência de se unirem a pessoas de condição social semelhante, aumentando as chances de seus descendentes se afastarem do cativeiro. Em suma, para os africanos em liberdade, o casamento tinha propósitos concretos e específicos para sua realidade social.
Distante do ideal burguês de romantismo e das normas impostas pela Igreja, o que realmente importava para esses casais era a camaradagem, a confiança mútua, os projetos comuns, o apoio recíproco e a garantia da legalização da transmissão de bens.
Além das trocas de benefícios materiais, o casamento realizado na Igreja também conferia status. Para os africanos, frequentemente marginalizados socialmente, formalizar a união pelo rito católico era uma maneira de acessar os espaços privilegiados dos nascidos livres.
Os esforços dos libertos para arcar com as taxas elevadas cobradas pela Igreja refletem sua busca por respeitabilidade no mundo dos brancos. Essa busca pode ser evidenciada pela escolha das testemunhas do matrimônio. As testemunhas escolhidas conferiam credibilidade à união, especialmente quando eram pessoas de boas condições financeiras e já casadas, o que aumentava a legitimidade dos noivos. No entanto, em uma sociedade onde a cor da pele determinava o status social, ter pessoas brancas como testemunhas de cerimônias importantes, como o matrimônio, já era um sinal da ascensão social do liberto.
Analisar as relações conjugais e a estrutura familiar entre africanos e crioulos, sejam eles escravizados ou libertos, também exige considerar as estratégias empregadas por eles para conquistar a liberdade.
A família e os laços de parentesco, assim como outras formas de interação social, foram fundamentais no processo de obtenção da alforria. Amantes se libertavam mutuamente; mães juntavam recursos para libertar seus filhos; pais resgatavam seus filhos, fossem eles legítimos ou não; irmãos trabalhavam para assegurar a liberdade uns dos outros; filhos manumitiam seus pais; padrinhos e madrinhas negociavam o valor para libertar seus afilhados. Além disso, companheiros de cativeiro e parentes da mesma origem étnica se apoiavam mutuamente na aquisição de suas cartas de liberdade.
Tornar-se forro e formalizar a criação de uma família foi um aspecto central na vida dos africanos e crioulos. Isso não apenas representava um avanço em direção à autonomia, mas também possibilitava o rompimento com as redes de controle dos senhores, principalmente quando toda a família — filhos e outros parentes ainda escravizados — conseguia a liberdade.
De certa maneira, a alforria era mais acessível para aqueles que estavam legalmente casados, em união estável, ou tinham algum grau de parentesco. Entretanto, embora os laços familiares ou de parentesco facilitassem as negociações para a alforria, isso não eliminava as possíveis divergências e tensões entre os indivíduos, especialmente após conquistarem a liberdade.
Na diáspora, instituições como o parentesco — seja por afinidade (como cunhados, sogros, genros/noras) ou espiritual (padrinhos e afilhados, compadres/comadres) — não apenas permitiram que os africanos reorganizassem suas famílias durante as experiências da escravidão e da liberdade, mas também os transformaram de meros aglomerados de pessoas em membros de comunidades específicas, como irmandades, espaços de trabalho e vizinhanças, onde teceram redes de solidariedade.
As relações de compadrio e apadrinhamento, como já discutimos, iam além dos limites da Igreja. Esses vínculos reforçavam laços familiares existentes, solidificavam relações sociais entre indivíduos de status semelhante e estabeleciam conexões entre pessoas de diferentes grupos sociais. Por essa razão, ao selar tais relações, as pessoas geralmente escolhiam indivíduos da mesma posição social ou de status superior, como observa Stuart Schwartz na obra Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial:
“[…] no ato ritual do batismo e no parentesco religiosamente sancionado do compadrio, que acompanha esse sacramento, temos uma oportunidade de ver a definição mais ampla de parentesco no contexto dessa sociedade católica escravocrata e de testemunhar as estratégias de escravos e senhores dentro das fronteiras culturais determinadas por esse relacionamento espiritual.”
O batismo cristão tornou-se uma instituição poderosa e valorizada por todas as camadas da sociedade brasileira, incluindo os cativos. Esses indivíduos buscavam esse sacramento e, através dele, construíam redes de solidariedade e reciprocidade, que se materializavam por meio do compadrio (parentesco espiritual). Além do significado católico, os laços que os cativos estabeleciam com seus padrinhos iam além do espaço religioso e se manifestavam em toda a sociedade.
Esses vínculos também possuíam uma dimensão social fora da estrutura da Igreja. Podiam ser usados para fortalecer laços familiares já existentes, solidificar relações com pessoas de status social semelhante ou criar conexões entre indivíduos de diferentes classes sociais. Iniciado na Igreja e estendido ao convívio social, “o compadrio representava, acima de tudo, a formação de uma aliança que unia, à beira da pia batismal, os pais de uma criança e seus padrinhos”.
Pais frequentemente selecionavam como padrinhos e madrinhas de seus filhos pessoas respeitadas na comunidade ou em outros círculos da cidade, uma vez que essas alianças familiares criavam redes sociais valiosas para todos os envolvidos, onde se cultivavam relações de clientelismo, que incluíam concessões de favores de cima para baixo, bem como promessas recíprocas de serviços, obediência, deferência e lealdade.
O livro A Cor do Amor, da socióloga americana Elizabeth Hordge-Freeman, explora caminhos que nos ajudam a refletir sobre famílias negras em contexto moderno e/ou contemporâneo, uma vez que a autora examina a dimensão emocional das relações raciais, com foco em como o processo de racialização se manifesta através da linguagem e das interações familiares. Ao contrário do mito de que o amor supera tudo, Hordge-Freeman argumenta que o afeto pode ser distribuído de forma desigual, dependendo das características raciais dos indivíduos.
A partir dessa premissa, o livro destaca que as análises dos processos de socialização racial não podem ignorar as dinâmicas afetivas, especialmente no contexto familiar. Como a autora afirma, “o lar é onde o sofrimento está”, mas também é um espaço onde a dominação racial pode ser desafiada e desfeita. Sem recorrer a simplificações, a obra explora as formas criativas e contraditórias pelas quais as famílias afro-brasileiras negociam as hierarquias raciais e se envolvem nos processos de socialização racial: seja resistindo a elas, seja reproduzindo ideologias raciais ou seja, em alguns casos, fazendo ambos simultaneamente.
Ao refletir sobre o papel das mulheres nas famílias negras, a autora observa que um dos efeitos mais nocivos das hierarquias raciais e de gênero é que o trabalho emocional realizado pelas mulheres inclui tanto a vigilância de seus próprios corpos quanto a responsabilidade de transmitir as normas e rituais raciais. Essas práticas são consideradas necessárias para que os membros da família aprendam a lidar com as opressões racistas. A autora, assim, sublinha que:
“Elas [as mães] se encontram dilaceradas pelas barganhas raciais generificadas que devem atacar enquanto lutam para preparar seus filhos para um mundo exterior que os trata como sub-humanos, enquanto também tentam preservar e até mesmo apreciar a humanidade deles. No centro desse trabalho está a evidência de que as trocas afetivas, a linguagem e as práticas concretas de socialização racial devem ser contextualizadas como respostas a uma sociedade absurda e perversa na qual simplesmente existir enquanto negro é considerado ofensa.”
Ainda numa perspectiva interseccional entre raça e gênero, alguns autores apontam que a fragmentação da família africana foi uma das consequências da escravidão. A participação da mulher negra no ciclo reprodutivo da família branca dificultou, para os escravos, a formação de um espaço próprio para a reprodução. Dessa forma, as relações entre os escravizados eram instáveis e temporárias, muitas vezes acontecendo sem o consentimento dos próprios envolvidos. Os interesses dos senhores prevaleciam, já que eles estavam mais focados em garantir a reprodução de sua força de trabalho. A legislação escravista priorizava a unidade “mãe-filhos”, preocupando-se mais com a separação dos filhos da mãe do que do pai, além de desconsiderar a separação entre os cônjuges. Esta fragmentação deixa consequências até os dias de hoje, sem impedir que famílias negras se reorganizem e reinventem diante das opressões de raça e de gênero.
Em Socialização e relações raciais, Irene Maria Barbosa investigou a socialização em famílias negras na cidade de Campinas e observou que os pais fornecem aos filhos “elementos ambíguos no processo de socialização”. Em outras palavras, não há uma orientação clara por parte dos pais sobre como enfrentar as questões raciais, e, ao mesmo tempo, as situações de racismo que os filhos enfrentam os levam a questionar a educação que receberam.
Para a autora, no processo de socialização, é essencial reconhecer que “todos os indivíduos que participam da vida social são influenciados, em maior ou menor grau, pelas forças socializadoras, o que os torna mais ou menos alinhados aos padrões da sociedade em que vivem”. Barbosa ressalta esse ponto para destacar que a socialização é uma das funções mais importantes da família em geral, e da família negra em particular.
A partir desta breve reflexão sobre a socialização e a construção de afeto nas famílias negras no Brasil, podemos perceber como essas dinâmicas desafiam os modelos hegemônicos de família e revelam a complexidade das relações dentro do contexto racial e histórico. As experiências vividas por essas famílias, como a dos meus tios que expressam seu afeto publicamente, ilustram a resistência às normatividades impostas por uma sociedade racista e machista. Mesmo com as marcas deixadas pela escravidão — como a fragmentação das famílias africanas —, os laços de solidariedade, carinho e resistência continuam a se reinventar, formando um contraponto poderoso às forças que tentam suprimir as identidades e tradições negras. Dessa forma, as famílias negras no Brasil não apenas sobrevivem às opressões, mas também criam novos espaços de afeto, cidadania e identidade, que continuam a influenciar profundamente a sociedade como um todo.