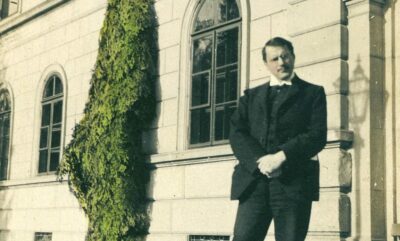“A arte existe porque a vida não basta”
Ferreira Gullar
Não confunda gambiarra com jeitinho brasileiro. Longe disso. A gambiarra pode ser vista como uma metáfora que representa um dos talentos mais pulsantes da nossa cultura: a elástica capacidade de inventividade. Embora seja popularmente usada como adjetivo para definir improvisações e soluções, nem sempre ideais ou às vezes até precárias, a palavra ganha nova conotação para traduzir um processo criativo de extrema originalidade que percorre de maneira profunda diversas manifestações culturais no Brasil.
O termo ganhou novo significado este ano ao ser usado para definir a limitação de recursos e o (por que não?) surpreendente sucesso da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, que misturou linhas de Niemeyer a Gisele Bündchen, apresentou escolas de samba com fantasias monocromáticas e desfilou bicicletinhas com penduricalhos comprados no mercado popular.
Um jornal britânico declarou que os brasileiros fizeram a festa com um décimo do orçamento de Londres, nas Olimpíadas anteriores, e que mesmo assim foram capazes de produzir uma das mais bonitas e impactantes cerimônias da história dos Jogos. Se faltou verba, sobrou inventividade para sobrepor a criação à escassez de recursos tradicionais. Alternativas e soluções pensadas para impressionar o mundo tendo como fornecedores lojistas do Saara, a região do Centro do Rio conhecida pelos preços e produtos populares, que renderam ao espetáculo a seguinte definição, publicada pelo New York Times: “deslumbrante e sem ostentação”.
Com a sensibilidade de quem escreveu o livro Cidade partida (1994), que traduziu o diálogo e a tensão entre morro e asfalto no Rio de Janeiro, o jornalista Zuenir Ventura, após ver jornais de todo o mundo positivamente surpresos com a festa que aqui foi produzida, ressignificou a palavra ao criar a expressão “estética da gambiarra”. Numa crônica publicada em agosto de 2016, escreveu: “Fernando Meirelles, Daniela Thomas, Andrucha Waddington e Deborah Colker, à frente de um time de ouro, apresentaram no Maracanã a sua ‘estética da gambiarra’, que, a exemplo do Cinema Novo, impactou o mundo”.
“Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. Cinema independente para todos os criadores, por necessidade, por fome existencial. Em 1965, Glauber Rocha pegou um avião de Los Angeles a Milão para participar do congresso Terzo Mondo e Comunità Mondiale, em Gênova, e escreveu, durante o voo, o manifesto-tese “Estétyka da Fome”.
O crítico Ismail Xavier descreve a tese do diretor como: “Um estilo que procura redefinir a relação do cineasta com a carência de recursos, invertendo posições diante das exigências materiais e as convenções de linguagem próprias ao modelo industrial dominante. A carência deixa de ser obstáculo e passa a ser assumida como fator constituinte da obra, elemento que informa a sua estrutura e do qual se extrai a força da expressão, num estratagema capaz de evitar a simples constatação passiva (‘somos subdesenvolvidos’) ou o mascaramento promovido pela imitação do modelo imposto”.
A motivação a partir do que parece elemento limitador encontra impulso e força criativa no próprio obstáculo, tornando-o maleável e não apenas transponível, mas, principalmente, inspirador do processo criativo e de conceituação, transformando tudo (escassez, questões técnicas, limitações materiais e de recursos) em linguagem, conteúdo, significado, questionando a realidade árida a partir da sua ressignificação.
O fato é que a criação no Brasil muitas vezes não apenas ganha contornos originais porque não tem os recursos tradicionais ou ideais para realizar uma obra como ascende e se motiva exatamente por esta questão: a escassez que impulsiona a sobrevivência artística e determina sua originalidade. Cria-se porque a vida não é suficiente, ainda (ou exatamente por que) não se têm as medidas ideais de recursos financeiros e materiais para a criação artística.
A gambiarra é, aqui, não o tema ou objeto do qual tratamos. Ela se instala no ponto de partida do processo criativo. Sua estética é de tal modo intrínseca em nossa cultura que a limitação de recursos ideais deixa de ser mola propulsora (ou castradora), porque em alguns casos inexiste, para ser uma ideologia em que materiais menos óbvios ou nobres são ressignificados a partir do filtro da criação. Inúmeros designers e artistas brasileiros poderiam representar esta proposta ética e estética. Os cineastas brasileiros e os produtores de teatro não esperam a estrutura de Hollywood para botar suas obras de pé.
Na moda, a estilista Isabela Capeto, que trabalha com tecidos e mão de obra 100% nacionais, procura em mercados populares, como o Saara, materiais e objetos para bordar em seus vestidos, numa metáfora dos ateliês de alta-costura, que usam acabamentos, tecidos e bordados exclusivos. Transforma flores de plástico compradas em lojas de decoração popular em bordado de um delicado vestido de tule. Usa ráfia para criar franjas e formas novas para vestidos. Reaproveita tecidos e aviamentos recriando seu repertório pré-existente.
A inclinação para o uso de materiais mais rotineiros ou descartados dialoga com esta premissa, quando já não mais importa se a estrutura econômica ou técnica impõe limites. Nas artes plásticas, nomes como Nelson Leirner e Vik Muniz, numa arqueologia que desvenda e revela camadas de significados das coisas, mostram que o processo criativo individual – e absolutamente diverso um do outro – passa pela ressignificação de objetos cotidianos.
“O espanto e o fascínio pelas coisas levaram-no (Leirner), desde muito tempo, a colecioná-las. Leirner coleciona tudo, especialmente (…) as coisas mais simples”, descreve Agnaldo Farias no livro A arte do avesso. Adesivos e figurinhas infan tis deslocados do universo infanto-juvenil ganham ideologia sócio-política na série Assim É Se lhe Parece (2010), que povoa mapas mundi.
Vik Muniz, ao deslocar sucatas, restos de lixões e até mesmo alimentos para o centro de seus retratos, acrescenta camadas sensoriais e políticas à obra, como mostrou o documentário “Lixo extraordinário” (2010), com catadores do aterro sanitário de Gramacho.
Na televisão, o diretor Luiz Fernando Carvalho também pode ser incluído neste grupo de criadores que preferem o desconforto de novos materiais ou mesmo matéria-prima residual, como se pôde assistir na novela “Meu pedacinho de chão” (2014), com uma cidade cenográfica inteira construída com vinte toneladas de latões de tinta numa instalação criada pelo artista plástico Raimundo Rodriguez.
A estética da gambiarra não ganhou tese ainda, apenas a crônica de Zuenir e mais um punhado de reportagens sobre a abertura dos Jogos Olímpicos. Não serviu de bandeira para movimentos culturais, mas dialoga com o antropofagismo oswaldiano do final dos anos de 1920 e costura diversas manifestações.
Cabe lembrar ainda que gambiarra é uma extensão com lâmpadas, muito usada em festas populares para envolver e iluminar pequenas praças. Ela compõe de maneira epidérmica o repertório cenográfico da cultura popular e a arte que prescinde de público. Um objeto que traz luz e ilumina, por assim dizer, a nossa capacidade de dar novos significados às coisas e transformar em arte original do Brasil.
MELINA DALBONI é jornalista, trabalhou no jornal O Globo, e hoje integra o time de colaboradores do diretor de TV e cinema Luiz Fernando Carvalho.