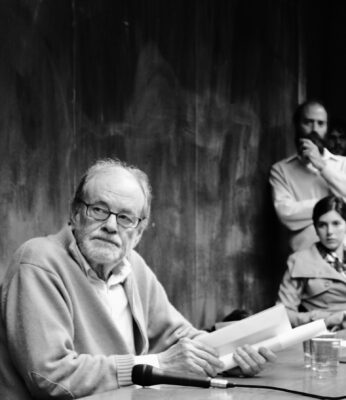Tensões entre cor e amor: construções sociais nas relações de afeto
“A pessoa pode amar a pessoa preta, ser apaixonada por ela e ser racista” — uma conversa com Lia Vainer Schucman.
O livro Famílias inter-raciais: tensões entre cor e amor, de Lia Vainer Schucman, mergulha nas complexidades de relações familiares brasileiras marcadas pela diversidade étnico-racial, em que o amor e a consanguinidade podem ser tão reais quanto a violência e a repressão motivadas pelos preconceitos raciais. O estudo é feito a partir dos depoimentos de membros de cinco famílias, que dão relatos surpreendentes e instigantes, demonstrando não só a sofreguidão proveniente do racismo estrutural que se embrenha explícita ou implicitamente no seio familiar, mas também os lampejos embrionários de uma consciência racial ativa e coletiva. A cada página somos apresentados a uma nova tessitura que ajuda a compreender como o espaço familiar pode ser um lugar que, a um só tempo, enfrenta e perpetua a violência racial:
“… como um país com decantada e constatável mistura racial pode, ao mesmo tempo, perpetuar os maiores índices do racismo mundial? (…) Diante disso, e partindo de um ponto de vista de um branco não marcado racialmente — não raro a dicção naturalizada da ciência —, é incontornável escapar da observação de que no Brasil é possível: 1) ser contra o racismo, 2) achar que o racismo é um mal que todos devem combater, 3) casar com negros e, ao mesmo tempo, 4) ser racista.”
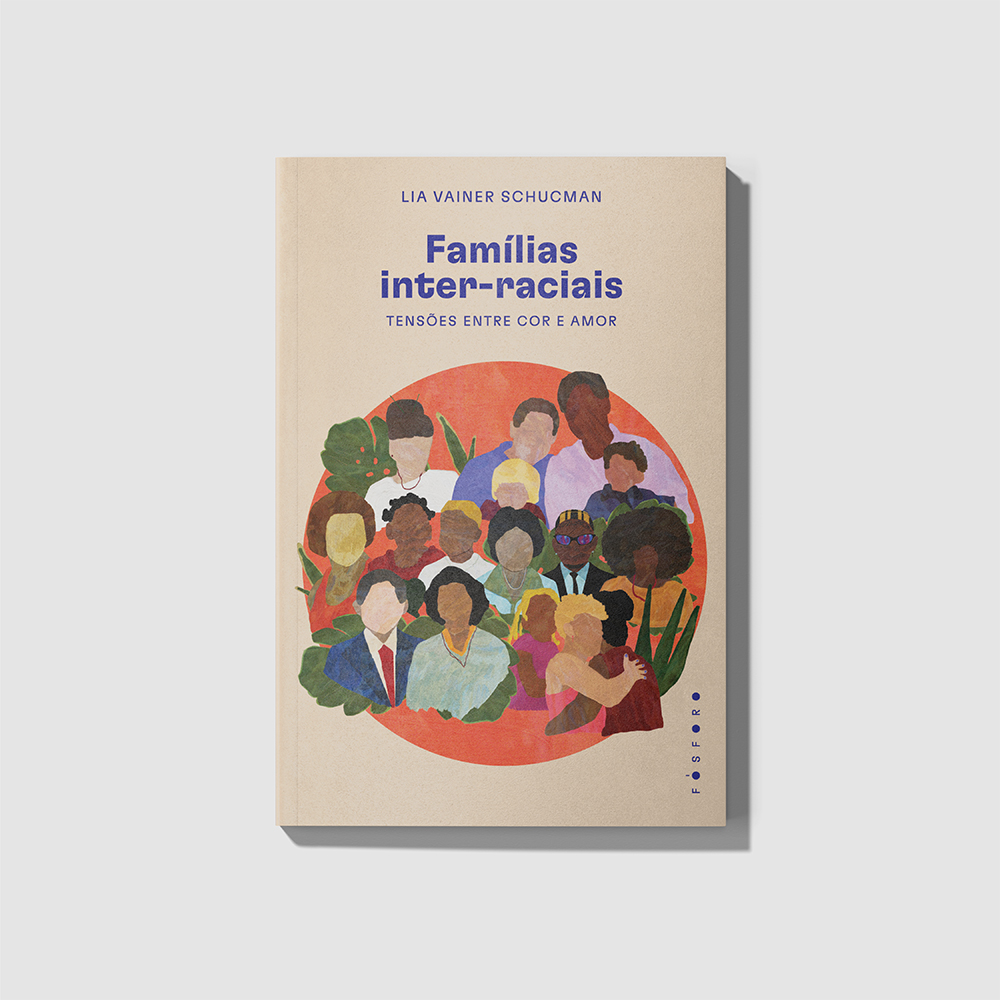
Partindo da perspicaz hipótese de que a intimidade inter-racial seria um lugar privilegiado para contribuir na compreensão qualitativa das relações raciais brasileiras, Schucman apresenta um elucidativo conjunto de amostragens sociais, sem nunca deixar de lembrar de seu papel analítico enquanto pesquisadora e do peso de sua interferência na coleta de dados e em suas respectivas aferições. O extenso e denso material gerado pelas muitas entrevistas é o que justifica a escolha, dentre as tantas feitas nos anos de pesquisa, dessas cinco famílias que tão bem compõem um corpo representativo. Além do que, como explica a autora, muitos modelos internos de discursos raciais se repetem — ou seja, para que a apreensão não fosse dificultada por relatos similares que, embora pudessem aprofundar alguma discussão com uma ou outra especificidade, também deixariam a leitura menos sedutora e direta, a seleção dos casos mais eloquentes e significativos era simplesmente necessária.
Se tivermos em mente que a sociedade brasileira vive submersa no mito da democracia racial, de tão expressivas, as entrevistas chegam a ecoar com ainda mais dor. Diante de uma abordagem psicossocial que não tem medo das tensões e contradições, vislumbra-se a face podre das falácias que teimam em acreditar na igualdade como um charme brasileiro, deixando de lado o impacto da ideologia do embranquecimento — que não é de hoje, mas é, sempre, de agora — na vida das pessoas.
Poderiam, então, os vínculos afetivos em famílias inter-raciais amenizar ou desconstruir o ideário racista nos indivíduos? Schucman observa que a raça não atua apenas como elemento organizador, mas também como geradora de dinâmicas, discursos, conflitos e hierarquias intrafamiliares. Porque, como escreve no prefácio o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio de Almeida, “se o amor é construção social, ele também é político.”
E, assim, Famílias inter-raciais: tensões entre cor e amor — lançado originalmente em 2018 e agora relançado pela editora Fósforo — nos convida a refletir sobre os desafios e dilemas enfrentados por famílias inter-raciais brasileiras, fazendo com que, a partir daí, pensemos no corpo social do Brasil, e de tantas outras terras, como um todo. É como a própria autora escreve: para que uma sensibilidade antirracista possa ser aflorada, é preciso “acreditar na raça e desacreditar em seguida”. O poder transformador desse movimento paradoxal se equipara ao abalo da leitura dessas páginas: baquear para levantar engrandecido; enxergar para tornar-se cego.
Confira nossa conversa com Lia Vainer Schucman.
O amor, me parece, é o ponto de partida para o tema da sua pesquisa, é o que a torna tão original quanto impactante. Pensando que, normalmente, tomamos o racismo como antítese de amor, qual foi o estalo que te fez buscar por essa intersecção inesperada entre afeto e racismo, algo que, como vemos no livro, pode ser tão eloquente?
Lia Vainer Schucman: Minha pesquisa de doutorado foi sobre branquitude e, na época, as pessoas achavam que eu era uma alienígena, isso em 2008 na universidade. Lembro de procurar no Google há 15 anos e achar somente três citações para o termo branquitude no Brasil. Imagina que faz muito pouco tempo e, hoje, todo mundo fala de branquitude. Depois, quando eu comecei a apresentar a tese em congresso e em outros espaços, um monte de gente que tinha lido o que eu tinha escrito vinha me contar de racismo na família, mesmo que eu ainda não escrevesse sobre isso. Mas as pessoas, não sei por quê, vinham até mim com esse assunto na ponta da língua, talvez por acharem que eu tinha um lugar para essa escuta. E foi então que eu entrei em contato com uma pesquisa de uma antropóloga afro-estadunidense [France Winddance Twine] que tinha feito um trabalho na Inglaterra, em que ela cunhou um termo que hoje muita gente usa: racial literacy, que, na minha tese, eu traduzi para letramento racial.
Essas famílias do estudo dela eram inter-raciais. E ela falava que na Inglaterra, de cada família, uma das duas pessoas brancas que conviviam ou tinham relações afetivas com pessoas negras adquiriam esse letramento racial. E aí pensei: “Nossa, mas por que estou escutando tanto sobre isso? Acho que eu tenho que pesquisar.” E, para minha surpresa, não tinha pesquisa no Brasil sobre isso. Achei bizarro, porque, se a gente pensar que gênero produz dinâmicas familiares, que classe produz dinâmicas familiares, é óbvio que a raça faz o mesmo. Mas, por incrível que pareça, não tinha nada na área da psicologia.
Eu tinha esperança que o amor e que o afeto, nessas relações íntimas, fossem um lugar que pudesse desconstruir, ou deixar de identificar, a branquitude na pessoa branca. Na minha pesquisa de doutorado, os brancos que se relacionavam com pessoas negras de uma forma não-hierárquica pareciam reconhecer mais o ideário racista, a ponto de refutar. Então, me perguntei: “Será que nas famílias inter-raciais a hierarquia se desloca para o afeto e o amor pode ser um lugar para a condução de uma desidentificação?” Infelizmente, a minha pesquisa diz que não. O que é muito interessante é que a negação do racismo como forma de amor tem dois aspectos muito importantes: ele pode desconstruir o racismo, mas também perpetuá-lo, uma vez que a negação do outro como negro, a negação da própria existência do racismo, é a condição para que esse amor exista. É muito ambíguo. Essa é uma linha muito tênue entre o afeto poder ser um lugar de desconstrução ou ser aquele que legitima e nega as hierarquias. Cheguei à conclusão que no Brasil a pessoa pode amar a pessoa preta, ser apaixonada por ela, ter tesão por ela e, ainda assim, ser racista.
Pensar no amor também como uma construção social, política, é chegar à conclusão que pessoas negras são colocadas num lugar em que elas têm menos direito ao amor.
LVS: E, realmente, se você pensar que o amor parte da condição do reconhecimento e que, na sociedade ocidental, o reconhecimento da humanidade do negro tem sido historicamente interditado e que o amor é uma faceta do reconhecimento do outro, então exatamente a falta do reconhecimento de humanidade desloca essa possibilidade do amor. É muito triste, se você parar para pensar.
Falando um pouco sobre o processo de pesquisa. Quanto tempo ela durou? Com quantas famílias você conversou e por que cinco foram selecionadas para formar o conjunto da análise?
LVS: É interessante, porque eu fui pesquisando famílias e as coisas iam se repetindo. Mas eu tinha uma orientadora do pós-doc [Belinda Mandelbaum, que escreve a apresentação do livro] que achava que a etnografia era o melhor método para uma pesquisa como essa. Bom, eu tentei a etnografia, mas não fazia muito sentido, porque você vai entrar nessa casa e ficar sentado, só observando a família, sendo que nem todo mundo morava junto. Alguns dos filhos já não moravam mais com os pais, por exemplo. Logo desisti. E aí eu pensei que a melhor solução seria fazer entrevistas com a família como um todo. Esse tipo de entrevista é muito diferente de uma entrevista individual, como as que eu tinha feito no doutorado. Na entrevista com a família, você entende a dinâmica da relação familiar na própria entrevista. Você entende quem corta quem, quem fala mais, quem dita as respostas. Você vê a dinâmica racial acontecendo na própria entrevista. Houve um caso em que um pai foi ao banheiro e, no que ele saiu, a filha e a mãe disseram: “Não escreve isso que ele tá falando.” Ou seja, elas claramente não concordavam, mas, na frente dele, elas não podiam deixar isso claro. Assim você já entendia que ele tinha uma autoridade ali. Na família do “Minha mãe pintou meu pai de branco” [primeiro capítulo do livro], a mãe não deixava ninguém se autoclassificar racialmente. Ela que classificava. Ela negava a própria autoclassificação dos filhos na frente das pessoas. Então, as entrevistas produziram uma ideia de dinâmica muito interessante. E há certos aspectos que não estão no livro, mas que eram muito interessantes de se pensar. Por exemplo: como a maioria das entrevistas foram nas casas das pessoas, você via a hierarquia acontecendo nas fotos da família branca expostas na sala sem nenhuma foto da pessoa negra.
Para mim era importante devolver as entrevistas para as pessoas, sentir se elas estavam confortáveis com aquilo. Tiveram até casos que eu acabei tirando do livro, por serem muito violentos e por talvez fazer mal àquelas pessoas ter aquela dinâmica relatada ali. A seleção das cinco é uma mistura disso com um filtro do que seria mais interessante apresentar. Mas, com esse processo de manter contato, aconteceram coisas muito bonitas. Uma das entrevistas mais chocantes é a da Mariana [da quarta família que aparece no livro] e depois que eu mandei a entrevista para ela, ela me escreveu uma mensagem tocante sobre o impacto da pesquisa na vida dela, dizendo que era “incrível como ler nos dá a percepção mais real do que falamos”. O que eu sinto é que o livro nomeia coisas que as pessoas sentiram a vida toda e não conseguiram dar nome.
Muitas vezes, não é a cor que se nega, mas o significado real do que é ser uma pessoa negra. Como se o psíquico tentasse bloquear o social. Você vê isso mais como um mecanismo de defesa pessoal ou como uma certa resistência em ver a sociedade como ela é e ter que lidar com isso em termos práticos? Em que medida é possível transformar o mundo exterior a partir do mundo interior?
LVS: Eu acho que a consciência racial traz uma dor muito grande. Não é fácil ter consciência racial. Como mãe de crianças negras, a consciência racial me dá um frio na espinha. Pode ser que a polícia ache que meu filho é um trombadinha e, daí para frente, vai saber o que pode acontecer. Eu acho que tem uma função psíquica de preservação, uma negação no próprio sujeito. Uma função psíquica de poder ver o mundo com mais alegria.
O interessante do conceito de negação para a psicanálise é que só é possível negar aquilo que se sabe. Ninguém nega algo que não conhece. Agora, quando você nega, é algo que você, pelo menos em algum nível, conhece. Freud dá um exemplo ótimo: um paciente lhe relata um sonho e ele pergunta “Quem era no seu sonho?”, aí o paciente responde “Não a minha mãe”. Ninguém perguntou se era a mãe, certo? Quando o paciente responde um “não”, a lógica é a de retirada, de só ficar com aquilo que é considerado positivo e descartar o que é negativo. É diferente do processo de denegação, que é aquilo que você não consegue nem saber da existência. Então, o que eu acho? As pessoas sabem. Óbvio que sabem. Os brancos sabem que têm privilégio, os negros sabem da sua condição. Agora, a negação é um processo psíquico de se resguardar, tanto no sujeito negro quanto no sujeito branco. É um processo psíquico de não se responsabilizar, porque, se você tem uma consciência racial como pessoa branca, a dívida é impagável. Como grupo social, não cada sujeito, a dívida é realmente impagável.
Algo que vem à tona é a insuficiência das categorizações do IBGE, por estas não responderem às demandas identificatórias. Considerando o contexto histórico e o ideal de branqueamento que influenciou a política e a intelectualidade brasileira no século 19, a ancestralidade fica subjugada frente à ênfase na aparência fenotípica como fator determinante da classificação racial. De que maneira a influência da cor sob a lente psicossocial e histórica na autoclassificação pode ser compreendida e abordada de maneira mais sensível?
LVS: A verdade é a seguinte: a raça é uma invenção completamente arbitrária que, infelizmente, deu certo. Mas a cor da pele e o fenótipo da pessoa são arbitrariedades iguais ao tamanho do pé. Essa é uma arbitrariedade inventada que sobrepõe as identificações dos sujeitos, porque as identificações dos sujeitos são variáveis. Eu tenho total consciência que eu sou branca no Brasil, porque a questão racial é uma imposição para brancos, para negros, para todo mundo, porque é assim que foi construído socialmente e historicamente. Só que ela não alcança as demandas identificatórias do sujeito. Se a pessoa nasce branca de um pai negro e se identifica, de fato, com a cultura negra, e aí? Não tem solução, porque a raça é uma violência. Ela impõe ao sujeito de pele mais clara que tem identificação com a cultura negra que ele tem que ser branco, o que é uma violência. E também seria se fosse ao contrário, apesar de que, nesse caso, acaba sendo mais fácil, porque a nossa cultura é inteira para se identificar com a branquitude.
A política pública tem que servir quem está sofrendo racismo, que é o sujeito no mundo público. De como as pessoas passam por processos identificatórios porque tem uma sobreposição da sociologia para aquilo que é o psiquismo. Uma coisa é saber qual é o lugar desse sujeito no mundo, na estrutura social: quanto mais preto, mais sofre racismo. A gente sabe como funciona essa estrutura social. Agora, falar que “quanto mais preto for uma pessoa, mais ela sofreu” é uma violência, porque tem gente de pele muito clara que sofre muito. É como uma mulher que eu entrevistei, de uma família de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, filha de uma mãe negra e um pai branco, que, depois da morte da mãe e da ausência do pai, acabou virando a empregada da própria família. Seus avós eram de descendência alemã e falavam que ela tinha que entrar pela porta de trás, enquanto os primos brancos entravam pela da frente. Ela só vai conseguir sair daquele lugar com uns 23 anos e vai para Porto Alegre fazer assistência social na UFRGS e, quando procura o movimento negro, alguém fala para ela: “Você não é negra”. Bom, para que essa história? Tem uma outra entrevistada, de outra pesquisa minha, que é uma pessoa de pele muito escura. Só que ela nasceu na Bahia, numa família do movimento negro. Ouvindo Ilê Ayê, ouvindo “Branco, se você soubesse o poder que o preto tem”, sabe? Vivendo a negritude inteira positivada. Para as duas, é muito diferente. Faz sentido dizer que “quanto mais negro, mais sofre”? Não, porque ninguém sofre pela melanina da pele. As pessoas sofrem pelo encontro com o racismo. O encontro com o racismo na primeira infância dessa menina que tem a pele quase branca foi radical, e o dessa da família da Bahia e do movimento negro não. Isso não quer dizer que a de pele clara, na estrutura social, não vá ter mais chances de mercado. Só que os efeitos psicossociais dela são fortes e negativos, ela é depressiva, sofre demais com ansiedade, e isso enquanto outra está super bem. O que não quer dizer que a polícia não pare mais ela ou que ela seja menos perseguida no mercado.
Essa passagem direta da sociologia para o aparelho psíquico que tem sido feita no discurso das redes sociais eu acho muito violenta. Não é a melanina na pele que faz a pessoa sofrer. É o encontro com o racismo.
Diante da associação direta entre “ser negro” e o sofrimento advindo do racismo, e a percepção de que “ser branco” está associado a uma vida de privilégios, nas famílias observadas em que filhos se encontram num lugar de ambiguidade racial, qual é a relação deles com isso?
LVS: No caso de Amanda [da terceira família que aparece no livro], dá para ver que ela vive a dificuldade de sentir que não pode se definir como negra por não sofrer racismo, especialmente pela influência do pai, mas vive também a melancolia por ter vínculos ancestrais com a cultura negra. Tem aí todo o tipo de armadilhas empíricas, sociológicas e psicológicas. A possibilidade de ser negra foi interditada a ela.
Nessa dinâmica familiar, o pai tem um grande poder de fala e chega a um nível de até definir a identidade da filha, de falar que ela não é negra por não sofrer racismo. E você, enquanto pesquisadora, tem que ficar ali e observar. Isso é interessante, porque você começa a pesquisa com uma hipótese, mas de nada adianta fazer com que a situação valide essa sua hipótese. Você tem que responder ao que está acontecendo diante dos seus olhos.
LVS: Eu sou uma pesquisadora com bastante cuidado, cuidado para não colocar a minha interpretação a priori, sabe?
Aproveitando o gancho da pesquisa acadêmica, como você enxerga o papel da pesquisa acadêmica e da divulgação dessas questões na promoção de uma maior consciência sobre o tema do racismo e suas manifestações na sociedade brasileira?
LVS: As pesquisas que têm grande influência são de pesquisadores de fato ligados com os movimentos. Pouquíssimos eram realmente implicados com os movimentos sociais. A gente vê uma grande diferença no impacto das pesquisas quando os pesquisadores negros de movimentos sociais entram na universidade. Sabe aquela ideia de um pesquisador sem implicação com a justiça social? Isso não tem impacto, porque a gente tem aí uma história da sociologia de pessoas que estavam lá falando do negro como um objeto-ameba. Então, eu acho que tem uma diferenciação bem grande. Dá para ver a diferença depois das cotas raciais.
Os depoimentos de Mariana, da família Oliveira [quarta a aparecer no livro], explicitam uma característica que parece ser maioria: os filhos são mais abertos a falar sobre o assunto e, consequentemente, apresentam mais desenvoltura quando o assunto é o mecanismo racista da sociedade brasileira. Mariana chega a dizer que “quer fazer diferente” de sua mãe, que era racista, apesar de casada com um homem negro. Caso essa pesquisa fosse feita daqui a 20 ou 30 anos, você acredita que os dados coletados seriam totalmente distintos? As novas gerações têm esse poder da transformação na manga?
LVS: O que eu vejo nas minhas pesquisas é que as pessoas de consciência racial, de classe, que não são da bolha, todas chegaram aí pelo rap. Gente, o Mano Brown é o maior intelectual orgânico desse país. Na minha primeira pesquisa de branquitude, os brancos com consciência racial eram pessoas da periferia que ouviam o Mano Brown. Todo mundo, sem exceção. Eu não sei dizer o tamanho do Mano Brown nesse país. Os meus orientandos brancos de classe pobre todos sabem cantar todas as músicas do Racionais. Então, por essas e outras, o que eu vejo agora é o seguinte: tem uma periferia com muita consciência racial, e isso vem dos movimentos estéticos e culturais da periferia. Tem uma mudança bastante grande e as pessoas falam “Eu sou preto” hoje em dia, o que não diminui a violência racial policial do nosso país. A gente não diminui os dados de violência. Há uma consciência racial, mas não ao ponto de que isso mude a violência policial e o aparelho judiciário, que talvez seja o lugar que mais precisa de mudanças. Os julgamentos são bizarros. A gente tem 40% de população negra encarcerada, sem julgamento.
A pergunta que se deve fazer é: de que forma pode acontecer uma mudança dentro desse aparelho policial que a gente tem? E eu realmente acho que, no capitalismo, nesse neoliberalismo em que a gente está, não se consegue colocar muitos negros em posições de decisão, porque cabe pouca gente assim. Então a gente tem um antirracismo que pode mudar uma tal condição de auto classificação, de reconhecimento. Agora, eu não sei se dentro da estrutura social desse capitalismo bizarro neoliberal que a gente está, muda as condições materiais das pessoas.
Pensando em produtos culturais, fala-se mais sobre o racismo em filmes populares, não só racismo como outras pautas sociais, mas os efeitos práticos não se veem, porque, no final, quem está ganhando dinheiro com isso também, né?
LVS: Os dez livros mais vendidos no ano passado talvez tenham sido de população racializada, como Krenak e Djamila, mas quem é que ganha dinheiro com isso? Nesse meu livro eu pesquiso famílias inter-raciais, mas eu estudo supremacia branca e junto supremacia branca global com o capitalismo. Eu vejo pouquíssima saída dentro dessa estrutura. Óbvio que um reconhecimento simbólico dá um conforto maior no sujeito e a gente pode ver algumas mudanças por aí, mas, nesse estado das coisas, não sei… Sou meio pessimista.
Mas há motivos para comemorar: seu livro chegou à França e foi bem recebido.
LVS: Pois é! Eu fui para Paris esse ano para o lançamento e tinham 300 pessoas. E ele já está na segunda impressão por lá, mesmo tendo sido publicado no começo do ano. E algo que me pegou de surpresa foram os depoimentos que chegaram em mim, todos de uma radicalidade gigante. Um que me marcou muito foi o de uma menina que contou que a mãe dela tinha transado com um homem da Martinica, por um fetiche sexual mesmo, mas, quando viu que tinha engravidado sem querer, ela, a mãe, entregou o pai para a imigração, porque ele estava lá ilegalmente e ela tinha medo que a filha crescesse perto dele e não aprendesse modos franceses. Tinha medo que ela fosse virar uma pessoa selvagem.
O nível dos depoimentos das famílias inter-raciais francesas me chocou muito. Lá, entre a pessoa da França e o imigrante, seja da Martinica seja de Senegal, eram encontros coloniais mesmo, com todas as hierarquias que caracterizam isso historicamente. É muita radicalidade. Ou seja, eu achava que meu livro era sobre o Brasil. Mas não é. É sobre o racismo no Ocidente. Eu fiquei em um choque tão grande no dia do lançamento, porque formou até fila para falarem comigo depois, para me contar esses tipos de história, que mais parecem um conto colonial de 1500. Então, eu acho que é um livro que fala de Brasil, mas, ao fazer isso, ele fala também desse mau encontro colonial.