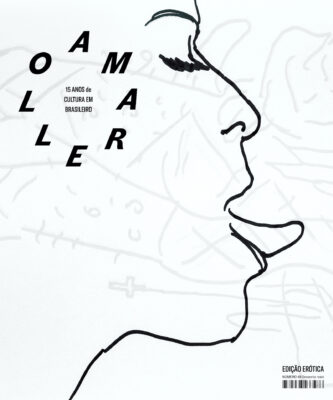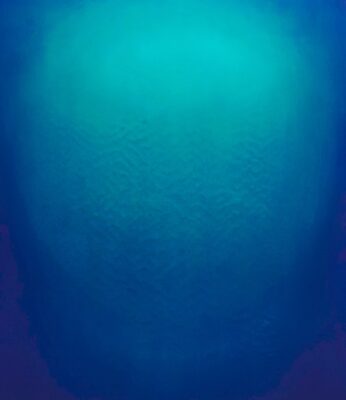A jornalista Jane Jacobs, na Nova Iorque dos anos 1960, foi pioneira ao defender o bairro, a rua, a calçada como elementos regeneradores da vida na urbe, modernizada a todo custo pelo capital.
Na contramão do momento futebolístico que passou, quando patriotismo e igualdades fictícias aproximam milhões de brasileiros, a experiência urbana brasileira cada vez mais é sinônimo de afastamento, diferença, desigualdade e medo.
A urbanista Raquel Rolnik, em entrevista recente a uma revista de grande circulação, disse estarem as cidades brasileiras condenadas ao fracasso: elas sobrevivem dentro de uma ética da cidade-limite.
O que seria essa experiência?
Com um pouco de cuidado, todos nós podemos listar práticas diárias que nos tiram do sonhado caminho que conduz à cidadania, esta palavra cuja origem fala dos direitos relativos ao cidadão – o ser da cidade ativo e participante dos negócios e das decisões políticas.
Porém, no espaço metropolitano, é cada vez mais raro encontrar personagens desse tipo. Pelo menos se falarmos não só de negócios mas também de política, esta entendida como debate amplo do conjunto de ações, em suas idas e vindas, dos cidadãos no espaço que se quer cidade.
Então você deve estar pensando: tudo é política? Sim, assim como tudo é negócio. Mas vale lembrar que existem políticas e negócios bons para a cidade.
A jornalista Jane Jacobs, na Nova Iorque dos anos 1960, foi pioneira ao defender o bairro, a rua, a calçada (sem desníveis, por favor!) como elemento regenerador da vida na urbe modernizada a todo custo pelo capital. Com Morte e Vida de Grandes Cidades (1961), Jane se tornou uma referência no campo das micro-políticas urbanas ao defender que o grau de urbanidade de uma cidade depende da vitalidade ali presente.
Mesmo sabendo que é difícil definir que tipo de vida queremos para nossas cidades, devemos concordar que elas não podem ser sinônimo de medo. Jane defendeu a vitalidade das relações humanas acontecendo em um espaço concreto e palpável de trocas que vão além dos câmbios monetários.
Em O Declínio do Homem Público (1977), o sociólogo e historiador Richard Sennett descreveu uma história da vida urbana moderna tratando-a como um percurso caminhante no sentido do completo esvaziamento do seu sentido público em favor de uma cada vez maior supervalorização do mundo privado e individual dos homens isolados em suas casas e grupos sociais fechados. As consequências espaciais desse trajeto da humanidade estariam visíveis em alguns elementos da forma-cidade contemporânea: centros degradados, condomínios de luxo fechados periféricos e favelas unem-se pelos laços da segregação social, atiçada pelo descaso e apatia de algumas elites. Já as sequelas psicológicas estariam estampadas na forma-homem globalizada: exércitos de narcisos que perambulam pela cidade sitiada e incivil sem qualquer envolvimento coletivo em termos de memória ou comunidade.
Medo é uma palavra constante em Cidade de Muros: Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo (2000), de Teresa Caldeira. Baseada em depoimentos de moradores de bairros diferentes da cidade, colhidos entre 1989 e 1991, a autora analisa suas visões em relação à criminalidade, à polícia, às instituições democráticas e aos direitos civis tendo como fio condutor o conjunto da cidade emergida de uma noção de espaço público vigiado, fragmentado e socialmente segregado. A fala da senhora de classe média, imigrante da Itália, que se refere a outros migrantes mais recentes, os nordestinos, como responsáveis pelo aumento da criminalidade no seu bairro, é um bom exemplo dessa dinâmica de criação de distanciamentos e que se repete, também, nos depoimentos dos habitantes pobres da periferia em relação a outras classes de renda mais alta.
Os habitantes dessa cidade valorizam a cultura de violência das instituições policiais (notar a popularidade dos programas policiais da tv aberta), os shopping centers e os condomínios fechados, estes dois últimos verdadeiros “enclaves fortificados”, que a autora define com “propriedade privada para uso coletivo, que enfatiza o valor do que é privado e restrito ao mesmo tempo que desvaloriza o que é público e aberto na cidade. São fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e não em direção à rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. São controlados por guardas armados e sistemas de segurança”.
Na passagem do século XIX para o XX, antes das campanhas estatais e privadas direcionadas a fazer com que os operários realizassem o negócio da casa própria periférica, esses grupos moravam nas áreas centrais das cidades, usufruindo da proximidade com o trabalho e do conjunto de infraestruturas que esse setor da cidade oferecia à época. Muitas das revoltas populares que aconteceram no Rio de Janeiro na primeira década do século XX tinham como objetivo esse desejo de cidade. A população queria se manter no Centro, mas os setores dominantes percebiam o poder de luta política desses estratos quando eles se aglutinavam em áreas próximas aos locais de decisão, como costumeiramente eram os centros das cidades.
A casa periférica que foi proposta como modelo de felicidade do povo resolvia várias questões: enriquecia os novos concessionários de transporte (trem e ônibus) e serviços como luz, os donos de terra e especuladores em geral, além dos construtores, é claro, ao mesmo tempo em que desintegrava politicamente os movimentos populares.
O morador da periferia pouco cobraria do Estado. Não lhe pediria metrô, calçadas alinhadas, boa luz pública, água, esgoto e afins. Consolado pela ideia de morar no que é seu, por pior que sejam as condições dessa moradia, a periferia, em sua origem, calou o cidadão instigado.
É desse sujeito social que nossas cidades do medo precisam.