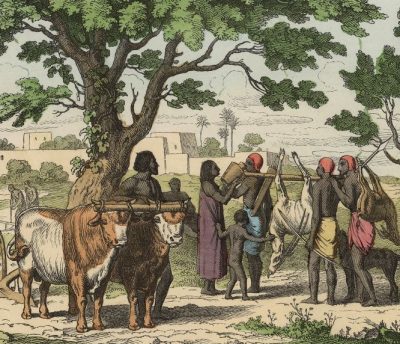Quando nasci, herdei o tempo daquele dia. Em 1983, mulheres divorciadas já faziam parte da sociedade. A pílula existia. A TV tinha cores. A música andava em walkmans. Compras eram feitas por mês. Os preços mudavam todos os dias. A ditadura estava perto do fim. Lennon já tinha morrido. A Apple já tinha sido fundada.
Quando minha mãe nasceu, em 1956, Silvio Santos ainda não era apresentador de TV. Brasília estava em construção. Mulheres começavam a usar biquíni. O divórcio era proibido. O rock ‘n’ roll começava a sacudir mentes e quadris. A Garota de Ipanema ainda não vinha nem passava. Mulheres não podiam transar antes do casamento.
Quando minha avó nasceu, a bolsa de valores dos Estados Unidos quebrou. Em 1929, mulheres não votavam e não podiam usar calças. Novelas eram transmitidas por rádio. Os casamentos eram arranjados e muitas noivas só descobriam o que era sexo na noite de núpcias. Em colégios internos, só se tomava banho usando camisolas. Cartas conectavam pessoas distantes. A juventude ainda não tinha sido inventada.
Herdeiras de três tempos tão distintos convivem e se influenciam. Para minha avó, a neta solteira de trinta anos é, de certa forma, fracassada. Minha mãe, que trocou a faculdade pelo casamento e nove anos depois se separou, vê com orgulho meu sucesso profissional. Sou apaixonada por Beatles, ídolos da adolescência de minha mãe. Posso transar sem estar casada, mas sei que, se eu casar, será com a veste branca que um dia minha avó usou. Em 2014, vivem juntos 1983, 1956 e 1929. Minha avó como espectadora, minha mãe entre plateia e palco, e eu no centro da cena.
O passar do tempo transforma a pele, a força do corpo e a cor do cabelo. Revoltadas com o que parece injustiça, cada vez mais nos esforçamos para impedir que o tempo seja visível. Mas, se pensarmos bem, talvez as rugas no rosto sejam uma forma de a natureza nos lembrar, constantemente, que cada um de nós é de um tempo.
Volta e meia minha mãe me pergunta se estou sabendo algo sobre o tal banco prestes a quebrar. Impaciente, sem compreender o motivo do medo, respondo pedindo que ela pare de criar paranoias. Ela não me escuta e diz: “quantos bancos você já viu quebrar?” Olhando para mim enquanto eu toco uma tela de vidro iluminada, minha avó não consegue imaginar que converso com ela, mas também falo com minha amiga que, naquele mesmo momento, está comendo hambúrguer com batata frita em uma praça de Nova York. Estranho é pensar que ela está aqui em 2014, vivendo este tempo comigo, mas que este não é seu tempo.
Quando ouço histórias do passado contadas por minha avó, reparo em uma certa capacidade que não tenho. Ela consegue conectar cada fato de sua vida a um determinado ano: “Em 1949, mudei para a roça para lecionar; foi só em 54 que reformei a cozinha desta casa.” Sério! Quando alguém me pergunta qualquer data, tenho que parar para pensar quando foi que me formei no colégio e contar a partir dali quando seria o ano do acontecimento em questão. Minha avó não só é de outro tempo, como o vivia de outra forma. Ela percebia o tempo andar, sentia as horas e os minutos indo embora. A cada dezembro, sinto que não vi janeiro passar.
Acredito que, por ter nascido nos últimos respiros do século XX, faço parte de uma geração que teme estar em um tempo que não é seu. Conheci a vida sem celulares e sem internet, mas senti na pele a rapidez das mudanças do mundo a partir da chegada dessas inovações. Dizem os mais loucos que já não somos mais capazes de contabilizar a velocidade das transformações do mundo e, por isso, ansiosos, tratamos “atualizações” como água, nos apavorando com possíveis secas. Imaginando o futuro, já posso ver nas prateleiras dos supermercados, ao lado dos potes de antirrugas, elixires que impedirão o envelhecimento da mente. Serei cliente? Talvez não. Afinal, no meu tempo…
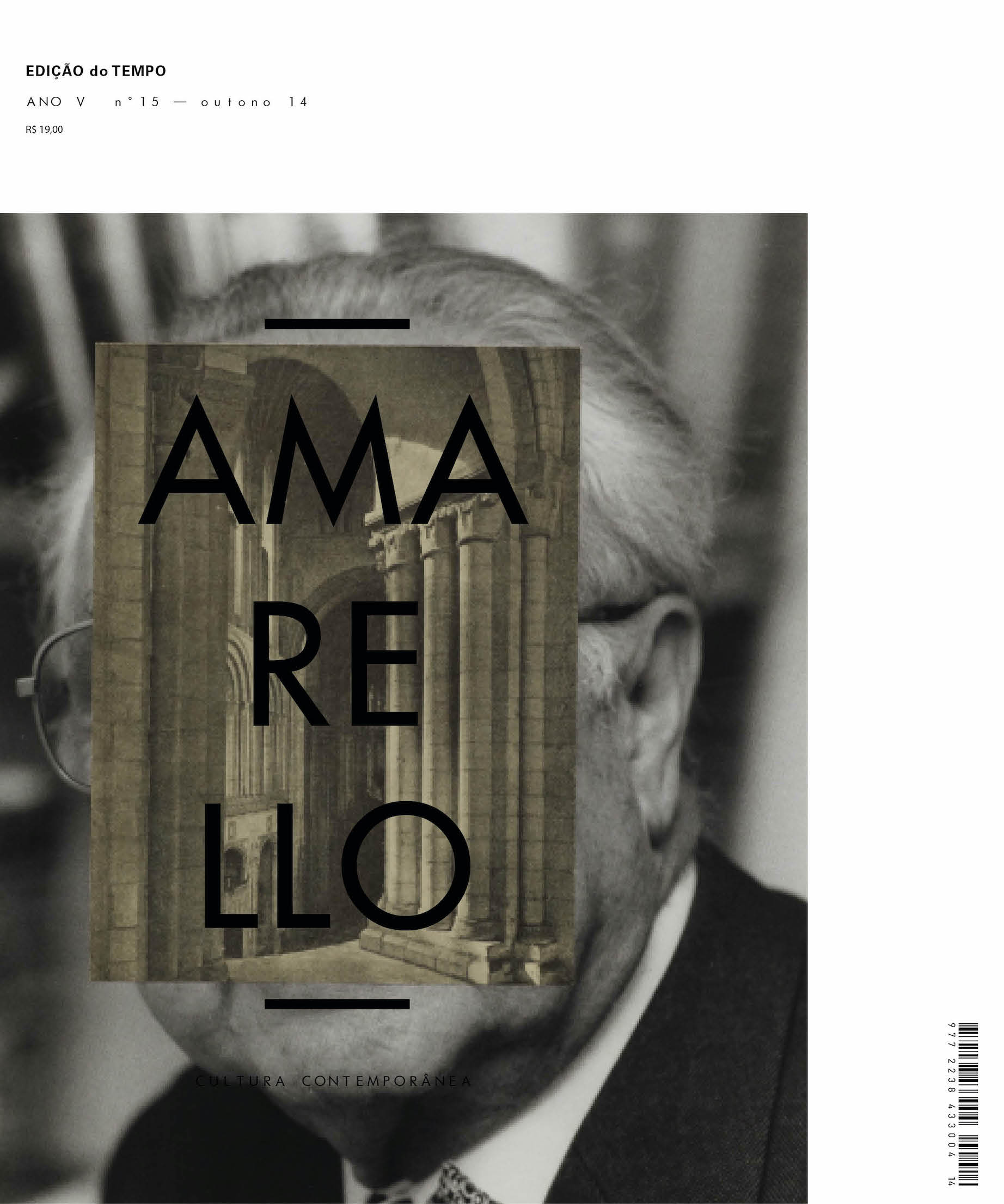
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista