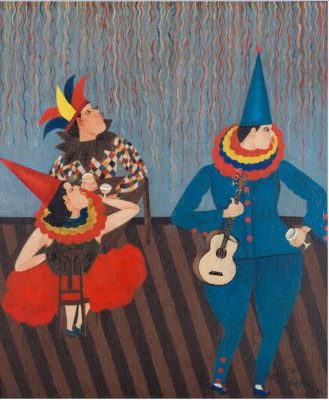Café, água e bolacha: Marcelo Jeneci
Amarello: Nos conte um pouco do seu “background” e de como você se interessou por música.
Marcelo Jeneci: Me lembro bem de uma situação. Tinha cinco anos de idade e estava voltando do hospital no colo do meu pai. Eu assoviava uma música que tinha escutado uns dias antes, na ida pra lá. Me lembro muito de assoviar, e do meu pai ficar espantado, e falar da memória musical que eu tinha. Logo cedo ele percebeu essa vocação, e a partir daí começou a me incentivar a tocar um instrumento. Acho que, durante sua adolescência, ele guardou o desejo de ser músico. Existe a coisa dele realizar uma vontade própria em mim. Ele tocava violão em um boteco perto da casa dele, se não me engano, mas nada a sério. Isso tudo lá em Guaianazes, na COHAB Juscelino, no fundão da zona leste, e de lá pra cá são várias estações e vários pit-stops.
Está ligado diretamente ao seu pai?
Com certeza está, mas existe uma maneira minha de agarrar isso, ter a minha leitura e separar. Isso é meu, não dele. Tudo bem ele se alimentar disso, mas é um desdobramento. Como se ele fosse o artilheiro do time e me passasse a bola, deixasse comigo.
Como acontece seu processo de criação?
É bem desordenado e maneiro como acontece, nunca do mesmo jeito. Por exemplo, ontem estava falando com o (Luiz) Tatit, de uma música que eu havia mandado pra ele uns dias antes, e que gravei como a gente está gravando essa entrevista, voltando pra casa, dirigindo o Opala. Com os quatro vidros abertos, e o maior barulho, improvisei uma melodia, uma métrica de uma canção com começo, meio e fim. Mesmo com o barulho do carro (um Opala 1973), a inspiração veio. Sair cantando do nada é uma maneira de compor, sem nenhum instrumento. Componho bastante na farra também, com amigos queridos, pessoas que eu amo, me divertindo. Alguém pega o violão, e simplesmente compomos, sem pensar. Eu e o Arnaldo Antunes sempre marcamos de nos encontrar pra compor… E assim é com vários outros parceiros.
Você considera toda sua casa seu espaço de trabalho?
Trabalho na casa inteira. Na sala, na laje, no “chuveirão”, às vezes na cozinha. Quando a balada está acabando, sempre tem a hora da musiquinha, das madrugadas adentro, e lá no estúdio. Tenho certeza que, quanto mais relaxado, melhor você faz o que tem pra fazer.
De que maneira ela influencia seu trabalho?
Minha casa é um retrato da maneira que tento me expressar e da maneira que trabalho. Estamos na cidade de São Paulo, no alto da Lapa, e, daqui da sala, não dá pra ver nenhum prédio, não dá pra ver muitas casas. Tem árvores, plantas, palmeiras. É meio Piracaia, Piracainha, minha futura Piracaia! E isso foi uma escolha romântica. Escolher um lugarzinho que traga esse romance no escolher, no observar. Eu acho que é mais do que influência, está tudo diretamente ligado. Essas escolhas, de aproximações de belezas, de singelezas, são bem parecidas com o disco Feito pra acabar, que nasceu todo aqui.
Tudo nasceu nesse exato cantinho em que estamos. Toquei com Laura pela primeira vez aqui. O pai dela me recebeu muito bem, quando cheguei de Guaianazes, aos 19 anos. Ele foi um excelente cantor, multi-instrumentista. Tocava violão, pandeiro, cantava que nem o Chet Baker, essa linha de voz plena, raro de ouvir, sabe? Quando mudei para a Pompéia, comecei a conviver com ele, ensaiando um show em homenagem ao Baker, e ele me apresentou São Paulo toda. Aí Ariano descobriu que estava doente, passou dois anos se cuidando e faleceu no dia do aniversário dele, dia 6 de abril, um dia antes do meu. Depois de um tempo, Laura apareceu cantando em sua homenagem. Eu não sabia que ela cantava. Eu a via na casa dele, quando ia ensaiar lá, muito jovem, com calça de moletom. Ela cantou com os óculos que ele usava. Ela é muito parecida com ele fisicamente, o rosto. O timbre, inclusive, acho que também veio do desenho do nariz, do crânio, isso tudo influencia muito a voz. E ela cantou “Across the universe”. Nessa época, eu tocava com o Cidadão Instigado, e ela era muito fã do Rodrigo Amarante, que ia participar do show. Ela pediu pra mãe dela entrar em contato comigo, pra levá-la no camarim, na passagem de som, pra conhecê-lo. Foi quando eu a chamei pra passar uma tarde aqui em casa, isso foi em 2006. Nesse dia falei “poxa, em vez de seguir com músicas que já existem, vamos compor um negócio nosso!”. A primeira que compus para ela cantar foi “Amado”, e o álbum nasceu. A mãe dela, ao descobrir que ela havia passado a tarde aqui, me escreveu, dizendo que passou a adolescência nessa casa, pois era amiga das donas. Tudo tem romance, existe uma opção de olhar por esse lado real e belo! Eu dou mais foco nele. Combina com esse lugar.

Acha que existe algum trabalho seu, ou projeto, no qual você se sinta mais realizado?
Gosto muito de uma música da gravação do DVD do Arnaldo Antunes, chamada “Luzes”, do Paulo Leminski. Eu toco sanfona, o Betão toca violão, e o Arnaldo canta. Além do DVD ser lindo esteticamente, todo preto e branco, com uma luz expressionista bem forte, de baixo pra cima, gosto dele porque foi num momento um pouco antes de começar a labuta da carreira solo. Um momento em que estava ali transbordando, querendo mudar de posição, sabe? Toda vez que eu vejo e ouço essa gravação sou levado a esse momento. O momento do Big Bang. Foi a mudança de instrumentista para compositor. Como se as notas já não dessem mais conta, quando comecei a desejar “Vou gravar um disco”.
Quem você citaria como maiores fontes de inspiração?
As pessoas verdadeiras. Percepções da vida e maneiras de lidar com ela, com isso, com aquilo, algumas com mais dificuldade, outras com menos. Também tenho uns artistas que, estética e artisticamente, são meus pilares. Mas vêm depois das pessoas verdadeiras. Kevin Parker, do Tame Impala, por exemplo. Ele tem uma coisa de dominar harmonicamente o instrumento, que tem a ver com Toninho Horta. Gosto muito também do Clube da Esquina. Eles têm uma junção muito boa de melodias lúdicas com movimentos femininos e letras com aquela voz de sereia do Milton, que faz ainda mais sentido quando você está naquele trajeto doido de Minas Gerais. Musicalmente, eu olho mais pra essa órbita do que para aquelas que têm o discurso filosófico mais importante. Erasmo Carlos, Arnaldo Antunes, Wisnik. Acho bonita a maneira que Vanessa da Mata leva sua carreira; cada vez com mais perfeição ao lapidar um disco pop. Muito segura, bonito de ver. E é claro, meus amigos que tocam comigo: Régis Damaceno, João, Prado, Riff, DeLauro.

O que você gostaria de fazer que você não fez?
Tenho muita vontade de fazer uma trilha pra cinema, com um orçamento legal (risos), e gravar um disco de música pra pista, um disco totalmente Disco, com uns refrãos bons. Vivo fazendo isso, já tenho todas, só falta encarar, e encontrar um parceiro pra fazer uma batida legal.
Na canção “Alento”, você fala de encontrar aconchego em suas próprias memórias e pensamentos. É possível falar de romance sem ser “para alguém” ou “de alguém”?
Acho que sim, se falarmos mais das relações verdadeiras que temos, com tudo que não sejam os homens. Com as flores, é um bom exemplo. Falar de conexão, de elo, de beleza. Acho que incentiva a gente a olhar isso ao nosso redor. A indústria televisiva optou por focar somente as brutalidades da humanidade, e não no que estamos falando aqui, sensibilidade, profundidade, respeito, admiração. Tudo é somente focando justamente onde o ser humano deu “chabu”, e isso é chato, torna o viver mais pesaroso.
O que é um final feliz?
É ter vivido com intensidade todas as etapas da vida: infância, adolescência, fase adulta, ser pai, avô. E aí sim, vou estar satisfeito, proto para a próxima viagem, quero saber qual vai ser a próxima fase. É assim que eu vou tentar fazer!
Seu trabalho tem um tom leve e livre, você acha que é possível falar de amor e de liberdade?
Sim. Fiz uma música que se chama “Gravitacional” e que fala justamente sobre isso. Fiquei muito feliz quando Elba Ramalho, uma pessoa muito bonita, me pediu uma música nova e eu dei pra ela. Ficou linda na voz dela. (Marcelo toca a música):
A saudade tá batendo muito forte
Nem parece que eu te vi antes de ontem
Você foi e me deixou o mundo inteiro
Mas agora o meu mundo é um cinzeiro
Que gira em torno de um sistema solar
Tal qual a terra com o sol e o luar
Assim sou eu com essa mão no meu isqueiro
Com a outra no cinzeiro eu faço o mundo flutuar
Com o meu pulmão respiro o ar celestial
Com pés no chão me sinto gravitacional
Na solidão procuro a minha outra metade
Que apesar da gravidade pode ouvir o meu sinal
Pois o universo é como um homem abandonado
Estrelas cadentes são e-mails e recados
Que vão correndo para dizer a quem já foi
Que a liberdade é boa e pode ser vivida a dois
Que a liberdade é boa e pode ser vivida a dois
Que a liberdade é boa e pode ser vivida a dois
Quando se fala de amor, se fala em liberdade no final das contas. É assim que eu tento amar. Amar a outra pessoa dentro da existência dela, do espaço que ela precisa ter pra lidar com a sua missão. Apertar de um lado, afrouxar de outro, liberdade para mim é isso.
No clipe “O Melhor da Vida”, você coloca dois bailarinos, que parecem mais estar em um duelo que em uma dança. Mas sua outra canção de sucesso tem ritmo de valsa. Seria o amor esse duelo ou uma valsa? Em qual dos ritmos o amor te parece durar mais?
Duelo! Com certeza, duelo! (Risos) Valsa enjoa! Duelo é atrito, fricção, é o que está no antes do antes de qualquer coisa que existe. Daí que surgiu a primeira célula. Tentamos representar no clipe a salvação da relação! Queria que fosse uma briga, porque penso que devemos partir em busca da distância perfeita, já que se vive junto. Acho mais interessante pensar em distância do que em proximidade como frequência perfeita entre um casal ou mais pessoas. A distância perfeita é o que equilibra, ela dá o espaço e a liberdade que precisa haver dentro do cometa que você é! Ela é como um café perfeito, não é forte nem fraco – uma delícia.
O que há de diferente entre o primeiro e o segundo disco?
A minha saída plena na hora de encontrar o caminho para o segundo disco foi entender que precisaria me aproximar da minha verdade, dizer o quer estava sendo vivido. No período entre os dois discos, muitas mudanças aconteceram na minha vida. Eu era casado, me separei, fiz 30 anos, e parei de me preservar tanto, dizer mais sim e experimentar o que achava que me convinha! Mais ou menos como uma planta que precisa quebrar o seu vaso para crescer do seu próprio jeito! Eu ainda não tinha vivido esse momento. Saí de casa novo, sempre tive uma mãe amorosa, e já conheci uma namorada. Tive sempre uma proximidade maternal, e de repente tudo isso precisou se quebrar: chega! Foda-se! Deixa eu ficar aqui sozinho!
Isso me colocou em um outro lugar, para que tivesse um ponto de vista mais amplo das coisas. Essa é a maior diferença entre um disco e outro. Tudo que diz respeito às sensações, aos prazeres, à esfera sexual, às relações, às amizades – viver a vida e tentar ficar mais presente no presente. Assim surgiu o segundo disco, cujo nome veio de uma frase que eu escutei do Curumin: o melhor da vida é de graça.
Vale a pena largar tudo e casar domingo, se a vida tem muitas segundas-feiras também?
Acho que vale. Botar o volume no máximo da intensidade das coisas que a gente consegue viver. É dizer: vamos no máximo que dá pra ir no que a gente está sentindo, nesse namoro, nesse romance. Mas é justamente por causa da segunda-feira que a gente tem que entender que a vida é aqui e agora. Que todo dia tem uma coisa nova e temos que aprender a lidar com isso, negociar. É aí que está a graça de viver pra mim. E, nessa correnteza, não tentar levar muita coisa contigo. As coisas vão dando certo.

O que mudou na sua visão de amor? De mais jovem a hoje?
No começo da adolescência a gente acha que amar é contar para o outro tudo da sua vida. Existe esse exagero. Mas quando crescemos, entendemos que amar não tem nada a ver com isso e, sim, com saber a distância perfeita, com oferecer o espaço que a pessoa precisa para ser inteira e verdadeira sempre.


Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista