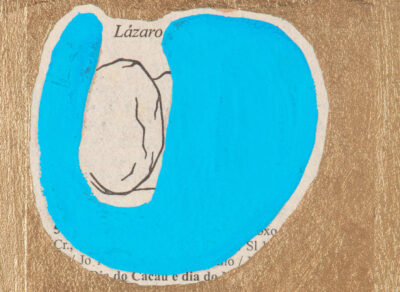Por que os comediantes são ao mesmo tempo amados e temidos?
Há várias maneiras de abordar essa pergunta. Talvez (suponhamos que sim) uma das respostas resida na função social que desempenham.
Todos nós não cansamos de perceber, ao entrarmos em contato com humoristas, que a comédia é um lugar privilegiado de revelação de segredos. Não pega bem, no dia a dia, soltar o verbo sobre nossas próprias falhas. Expor em público aquele nosso hábito de mexer nas gavetas alheias, stalkear Facebook de ex, broxar ou colar no psicotécnico. Nossas fragilidades morais ou fisiológicas não são tidas como assuntos desejáveis em nossas vidas prosaicas. Estão interditadas.
Fazer humor é, muitas vezes, revelar essas verdades humanas ocultas. Talvez seja por isso que a aproximação de um comediante de stand-up do microfone traga frio às barrigas presentes. O tabu se torna assunto possível. Ao ouvi-lo, é comum que pensemos: “isso é MUITO verdade!”. Como dizia o filósofo francês Henri Bergson, o humorista é um moralista disfarçado de sábio. Aquele que lembra quão frágeis, toscos e ridículos somos. E que nos ensina a conviver com essas limitações. Ele nos tomba de nossos pedestais de títulos, cargos e aspirações. Para o roteirista Steve Kaplan, enquanto o drama nos faz sonhar com aquilo que poderíamos ser, o humor nos ajuda a lidar com quem nós realmente somos.
“O que você faz da vida, Dante?”, alguém me pergunta. “Trabalho como curador de conhecimento”, respondo. Perguntinha comum, respostinha padrão. Gostamos de revelar apenas aquilo que nos enobrece. E o ofício exercido por cada um é uma forma de nos distinguirmos positivamente. O humor, é claro, subverteria essa fórmula. O comediante americano Louis C.K. certa vez se perguntou retoricamente, diante de uma plateia com mais de 2 mil pessoas, “o que fazia da vida”. A resposta: “Sou um babaca profissional. Ganho rios de dinheiro para falar sobre bebês com paus enormes”.
O humorista joga a real, moraliza e ensina, mas de uma forma completamente distinta de como um padre, uma tia ou um tutor fariam. Todos sabemos que ele emprega seus recursos cômicos com o objetivo final de provocar o riso. A gargalhada do público é seu indicativo de sucesso. Mas o que seria o riso?
O pianista e comediante dinamarquês Victor Borge o chamou de “a distância mais curta entre duas pessoas”. Um fenômeno social compartilhado. Rimos em média seis vezes por minuto enquanto conversamos. Não por acaso: somos trinta vezes mais propensos a rir se estamos com alguém, sobretudo se conhecemos essa pessoa. Durante uma conversa, inclusive, é mais provável que a risada surja de quem está falando. Contudo, ter graça não quer dizer necessariamente estar imbuído de comicidade. O comediante, incapaz de se valer da complacência amiga de ouvintes conhecidos, tem como único caminho a piada.
A piada é uma forma narrativa bem específica. Ela pode empregar técnicas diversas, mas sempre faz surgir uma inconsistência para quem a ouve. Suscita um algo-a-ser-resolvido, uma charada cognitiva. Ativa no nosso cérebro o chamado córtex cingulado anterior, que serve à detecção de conflitos — necessária ao entendimento da piada — e para lidar com sentimentos e situações sociais difíceis.
Essa narrativa faz emergir um medo. Nosso medo primário da ridicularização pública. Ou até mesmo aquele mínimo receio de nos enxergarmos como ridículos. Porém, numa fração de segundo, ao “pegarmos” a piada, há uma grande sensação de alívio. Percebemos que o risco social a que aludiu não representava perigo real. Que não houve a conversão do risco em violência contra quem ouvia. Todo mundo é tosco. Tudo bem ser ridículo(a), queridinho(a). Olha só, está todo mundo rindo mesmo…
É o que Bob Mankoff, editor dos cartuns da revista The New Yorker, chama de violação benigna. Para ele, o humor é como um zoológico, para o qual os ferozes tigres são essenciais. Desde que permaneçam, contudo, dentro de jaulas. Sob controle. Então, quando chegamos à punchline da narrativa cômica, após percebermos que o risco passou, sentimos aquele profundo alívio. Ele se expressa involuntariamente na forma de riso, acompanhado por uma descarga de endorfina no cérebro, gerando prazer.
E isso não é de hoje, não. A primeira gargalhada que vivenciamos em nossas vidas, quando ainda pequenos, é aquela originada por cócegas. Um belo dia, a mãe (ou o pai) se aproxima do bebê para mexer em sua barriguinha e encosta nele. Num primeiríssimo momento, o cérebro do infante não consegue pensar: “Ei, fica tranquilo, moleque, mamãe ama a sua fuça demais pra te fazer mal”. Em vez disso, processa: “Objeto-mão se aproximando, a-ler-ta ver-me-lho, será amigo ou inimigo, so-cor-r…”. Num átimo, percebe que não havia o risco que antecipou, e ri.
Voltando à nossa vida adulta supermadura (com medinho do ridículo). Mas e se aquela piada, que se delineava enquanto violação apenas em potencial, converter-se em violência de fato? Se atravessar a linha da violação benigna para adentrar o território do puro sadismo? O que acontece? Não é difícil notar: as pessoas em geral param de rir. Algumas soltam risos nervosos, que são, segundo a neurociência, mecanismos do nosso corpo para diminuir a sensação de perigo diante de uma ameaça verdadeira. O comediante, aquele até quem as pessoas vão para ouvir a real, não raro é desbancado por seus próprios preconceitos e opiniões precárias. Cai o seu disfarce de sábio e o feitiço se volta contra ele.
Se o humorista é um moralista, o ato de rir de suas verdades reveladas não é nada além da capacidade humana de ter prazer no desconforto de uma condição incontornável. De sentirmos um júbilo imenso de dentro de nossas próprias feridas. Que me desculpem os astrofísicos: mesmo neste vasto universo, fica difícil imaginar outro fenômeno tão dual quanto esse. Caso queiram encontrá-lo, que estacionem na terceira pedra depois do Sol.
Sobre a babaquice profissional
por Ana Bagiani