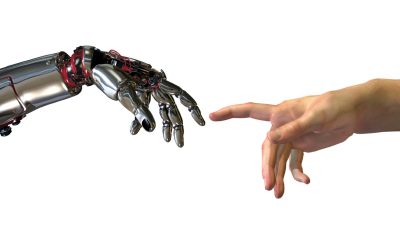Conversa Polivox: Jorge Mautner
A presente entrevista nasceu de uma parceria entre a Revista Amarello e um grupo de estudos intitulado Desbunde: corpo, cidade, canção. Trata-se de uma pesquisa interuniversitária, coordenada por Eucanaã Ferraz (UFRJ), Guilherme Wisnik (USP), Paola Berenstein Jacques (UFBA), Rafael Julião (UFRJ) e Washington Drummond (UNEB), que busca compreender as relações que se estabeleceram entre os corpos, as cidades e as canções no Brasil dos anos 1970, mais especificamente por meio do conjunto de manifestações comportamentais, filosóficas, culturais e artísticas associadas à ideia do “desbunde”. As questões foram formuladas pelo grupo, em colaboração com Bruno Cosentino, também pesquisador de canção popular e parceiro frequente da Revista Amarello. Em seguida, foram enviadas a João Paulo Reys, o produtor que vem sendo fundamental para o processo de organização e divulgação da obra de Jorge Mautner, que também contribuiu com suas perguntas e colocações para a entrevista que segue.

PRA ILUMINAR A CIDADE
Seu primeiro disco se chamou Para iluminar a cidade, de 1972. Vamos então começar conversando sobre as cidades pelas quais você passou e a sua história com elas. Onde você mora agora, Mautner? Como tem sido a sua relação com as cidades em que você vive nos últimos anos?
Moro no Rio de Janeiro e aqui fiquei durante a quarentena, no meu apartamento. A minha relação com as cidades é relacionada primeiramente, e segundamente (risos), aos seus habitantes. Então, nesse Brasil, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja Recife, você encontra os brasileiros que gostam de histórias, gostam de anedotas, é o Brasil que me alimentou, desde pais de santo até ateus geniais. Não há limite. O próprio Brasil, ele é o mais original dos países.
Você passou a sua infância e a sua adolescência entre o Rio de Janeiro e São Paulo, nas décadas de 1950 e 1960. Como foi crescer nessas duas cidades, nesse período?
Uma coisa é que no Rio tinha o mar e em São Paulo não tinha, mas tinha outras coisas que compensavam o mar. As pessoas. A minha história é… por exemplo… vou contar direito, olha só: do um ano de idade até sete anos de idade… Minha mãe estava paralisada. Então quem cuidou de mim era minha babá, que era mãe de santo. Então, durante cinco, seis dias por semana, ela era minha babá e depois ela me levava pro candomblé, onde eu ficava três dias no candomblé. Então, do um aos sete anos, a minha vida era essa. Eu não só participava das cerimônias; ela me botava no colo, os tambores tocando, e ela dizia assim: “seus pais vieram de um lugar de gente muito ruim, muito cruel, mas aqui você vai encontrar os seus amigos e suas amigas para sempre”. Enquanto os tambores tocavam, eu adormecia no colo dela. Depois da cerimônia, ficávamos mais dois dias lá, nos quais eu brincava com a garotada que era toda de etnia negra, mas eram meus irmãos e a gente brincava o tempo todo. E tinha uma vigilância da minha babá e de outros adultos também nas brincadeiras das crianças. Eu nunca vi coisa mais impressionante, educativa e amorosa.
Aí encerra essa fase e chega São Paulo. Como foi a experiência de mudança da cidade?
É o seguinte: meu pai era um gênio, mas ele era jogador. Viciado no jogo, roleta, tudo, ia para o Cassino da Urca. E quando ele teve dinheiro para comprar um apartamento para ele, para minha mãe e, naturalmente, para mim, ele foi para o cassino e torrou tudo. Aí minha mãe ficou… Nós tivemos que mudar do lugar em que nós estávamos, porque o dinheiro tinha ido embora, e fomos morar seis meses no Rio, na pensão de um cara chamado Dr. Frankestein. Acontece que nesse lugar, minha mãe já estava com ódio do meu pai e estava nessa pensão um alemão brasileiro, primeiro violinista do Theatro Municipal de São Paulo, Henri Müller. E minha mãe se apaixonou por ele. Se apaixonaram. Aí, de repente, eu tinha um novo pai e fomos para São Paulo. E em São Paulo tudo acontece. Porque, veja só, o meu padrasto, que era o primeiro violino, ele admitiu a presença do meu pai dentro da nossa casa! Então, tinha minha mãe, o ex-marido e o marido atual, e ela mandava nos dois. Então eu fui educado… Eu podia fazer tudo! Receber pessoas. Ideias avançadas de ambos os lados. Primeiro, do candomblé. Depois, deste meu padrasto genial que me ensinou violino, e o meu pai que era realmente um gênio de literatura, de filosofia e de ciência.
Nos anos 1960, você esteve nos Estados Unidos. Que cidades você conheceu? Nessas cidades você chegou a viver, a conhecer a cena underground americana?
Primeiro eu morei a maior parte em Nova York. Morei no Village, morei em outro lugar. Eu passei uns cinco, seis, sete anos lá, porque eu fui secretário literário do poeta laureado Robert Lowell, que por sua vez foi também do Ezra Pound e tudo. Em Nova York, eu encontrava com o grupo de brasileiros, entre os quais despontava o Neville de Almeida, cineasta. E era impressionante, porque era bem na Guerra do Vietnã, mas tinha uma barraquinha que era para dar dinheiro para favorecer a vitória dos americanos na guerra, isso em Nova York. Ao lado tinha uma tendinha, sei lá, espírita, e na outra tinha uma tendinha comunista…
De apoio ao vietcongue?
Exatamente. Na mesma calçada. Do Robert Lowell, eu tenho memórias incríveis e eu me admiro porque ele era fascinado pelo Brasil. Então, ele me pedia para contar histórias do Brasil. E tem uma pessoa, que é amiga dele, que é aquela poeta, Elizabeth Bishop…
Tem uma figura, Jorge, que eu acho que é importante nessa cena underground e bastante nova-iorquina, para ficar na coisa das cidades, que era uma figura que era uma espécie de decano dos undergrounds, porque ele era de uma outra geração, mas foi uma pessoa que você conheceu, que era o Paul Goodman, e se você pudesse falar um pouco das ideias dele…
Ah, sim. Outro grande. Eram pessoas quase cotidianas, o Robert Lowell e o Paul Goodman. O Paul Goodman foi muito, muito, muito, porque ele se interessava pelo Brasil e todas as ideias dele também estão, de certo modo, na minha obra literária. Me influenciou demais porque ele era à esquerda, né? Enquanto o Robert Lowell era da alta sociedade, que era outro mundo. Mas o Paul Goodman foi genial.
Tem uma outra cidade, que eu sei que você esteve, se você puder dar um pouco do relato, que foi Washington DC, que eu me lembro de uma história, se você puder contar melhor, que era um cara do Peace Corps, que você já conhecia do Brasil e você foi para a casa de um senador. Você se lembra dessa história? Um senador e o filho dele ouvia música negra, você ouviu rock em Washington…
Eu me lembro vagamente, mas é tanta coisa… Eu conheci Albuquerque, conheci o Texas, conheci o Novo México…
Foi quando você foi morar no Chelsea, não foi?
Foi, exatamente! Aí eu morava no Chelsea Hotel. Não era só um apartamento, eram três. Era de um grande amigo meu, que também faleceu, ele era pintor e paraplégico. E eu sou também massagista. E ele me encontrou assim: eu fui massageá-lo e aí começamos a conversar e nos tornamos amigos, e ele abriu aquele mitológico Hotel Chelsea pro meu pai morar lá e a Ruth também. Então no apartamento ao lado desse.
Essa figura, cujo nome eu não me recordo, mas depois eu sou capaz de me lembrar, ele era um cara muito rico, não era? Ele era mecenas, apoiava artistas…
Apoiava artistas… Bill Bomar (William “Bill” Bomar, 1919 – 1991). A terceira cidade principal lá do Texas era dele, Forth Worth. Ele era realmente muito, muito, muito, muito rico. Por exemplo, nós recebíamos as pessoas que vinham do Brasil, veio um grupo italiano, e tinha três quadros de Van Gogh, dois do Gauguin e de outros. A tal nível ele era milionário. E eu era massagista e escritor e então nós ficamos amigos. Eu fazia uma massagem que fazia muito bem para ele.
Há uma cidade que foi muito importante na sua trajetória. De uma certa maneira, a primeira cidade da contracultura brasileira foi Londres, porque lá estavam os exilados brasileiros, que se reuniam sobretudo em torno das famílias de Gil e Caetano. E a sua presença, Jorge, foi fundamental pelo intenso fluxo de ideias e também pelo mais significativo registro das movimentações do grupo no período, o filme O Demiurgo (1970). Você poderia falar um pouco sobre esse período?
Quem morava em Londres era um amigo meu, do Colégio Dante Alighieri. Um cara genial, o Arthur de Mello, com a esposa dele, Maria Helena. E eu estava em Nova York e ele mandou um recado: “olha, venha para Londres porque Caetano e Gil, por causa da Ditadura, saíram do Brasil e eles estão aqui quase hóspedes”. E aí eu fui para lá, com a Ruth, e então você imagina… Eu, a Ruth (minha esposa), com Gil e sua esposa na época (Sandra), e Caetano com sua esposa na época (Dedé), e o Arthur de Mello Guimarães com sua esposa. Então, a Londres que eu conheci era essa. Todos eles foram ver o festival da Ilha de Wight. Acontece que eu fui lá, mas só fiquei três horas. Eu não aguentei. Mas minha esposa ficou, Gil ficou, Caetano ficou e o grande amigo meu e grande pensador Claudio Prado teve a iniciativa de chegar para os diretores do festival e dizer: “Olha, chegaram os maiores músicos do Brasil. Eles têm que se apresentar”, e ele nem sabia. Então, ele conseguiu fazer com que Caetano e Gil subissem ao palco e foi um estrondo de sucesso.
Jorge, e lembrando O Demiurgo, no qual você registra muito aquilo em Londres… aquelas casas, as pessoas, o parque, o porto… Você se lembra um pouco disso? Da feitura do filme em Londres?
Eu pouco focalizei em Londres. Eu ligava só para o Brasil. E a história com o Caetano e Gil, como eles estavam exilados, tinha que ser uma linguagem muito alegórica, com frases subversivas encapuçadas ou mimetizadas ou assim… Gil é o Deus Pã, e Caetano é o Demiurgo, o que é verdade. Então o Arthur de Mello Guimarães participou, minha esposa participou, foi uma coisa incrível. E eu fiz isso com o dinheiro que eu tinha ganho da época de Nova York. Então eu que investi tudo para fazer esse filme. E prontamente o Gil, o Caetano e todos os outros que estavam lá deliraram com a ideia e toparam fazer.
Seguindo novamente no trajeto das cidades, Jorge, você saiu de Londres e aí, logo que você voltou, no início dos anos 1970, você foi conhecer a Bahia. O que você se lembra desse encontro com a Bahia pós Londres?
Primeiro que eu já era amigo de Caetano Veloso e de Gilberto Gil e suas esposas. Então, de repente, ao chegar em Salvador, eu disse: “Aqui é o ápice de tudo!”. É isso. E o tempo todo, realmente, é o Brasil em sua negritude máxima, de cultura infinita e principalmente de carinho humano, de compreensão, de risadas… Imagina só… A Bahia… É com Jorge Amado… É uma coisa que eu sou baiano por adoção, né? E realmente os candomblés de lá… Por exemplo, Filhos de Gandhy… Gil e eu, nós fizemos uma passeata enorme dos vários sábios da sociedade então incluindo… Enfim, aí nasceu uma amizade eterna, porque eu os encontrei na casa do Arthur, onde meu pai começou a falar dos números, do zero e tudo…
Este período da virada dos anos 1960 para 1970, no Brasil, é frequentemente referido pelos historiadores como a época do desbunde. Para você, no seu entendimento, o que foi o desbunde e como foi a sua experiência desse momento?
O desbunde foi a democratização. Eu estava muito bem de tudo. De dinheiro… Houve uma reunião na Venezuela e foi lá que eu conheci o grande poeta Robert Lowell, que logo me nomeou secretário dele e então eu pude ficar muito tempo, aliás, sempre, com artistas, filósofos, e o Neville de Almeida… Nós bolamos fazer o filme, que chama Jardim de Guerra. O Neville de Almeida já morava em Nova York e…
Você falou que o desbunde foi a democratização, mas você pode falar um pouco do que eram as atividades de vocês aqui, durante aquele momento, o que que vocês pensavam, quais eram os valores… O que queria dizer essa ideia do desbunde?
Eu voltei para o Brasil porque eu já era do partido comunista e eu vim e era secretário literário do Robert Lowell, que foi de Ezra Pound e eu fui dele. Mas eu desisti de ficar nessa beleza de plenitude… Porque eu recebi o recado de que era necessária a minha volta para a democratização. Por isso eu voltei. E a primeira conversa foi com Golbery do Couto e Silva. E o Golbery disse: “escreva como será a democratização”. E saíram os Panfletos da Nova Era, que foram editados pelo jornal de notícias e depois publicados em livro.
Então, isso que se chama de desbunde, esse movimento cultural, artístico, no seu entendimento aquilo ali foi a democratização. O desbunde era um desmonte da estrutura autoritária.
Isso.
Tem uma história que eu sei que você conta bem, que é importante pra você… Em uma época em que o direito de reunião das pessoas era muito limitado por causa da ditadura, o fato de que os eventos culturais e os shows eram oportunidades para que as pessoas se reunissem, se encontrassem. Você pode falar um pouco disso? A realização dos eventos e esse papel duplo…
A democratização se fez através da música popular. Quando eu vim para o Brasil, e o Golbery pediu para eu escrever como seria, era uma ordem e uma permissão dada para fazer justamente isso. Então coincidia ali a necessidade histórica daquele momento e uma coisa que sempre existiu, que era essa cultura brasileira da umbanda, do candomblé, do frevo, do xaxado, do miudinho.
Eu me lembro de um contato importante que você conta que foi a uma feira no Parque Ibirapuera onde você viu o maracatu…
Ah, sim! Isso foi no quarto centenário. Foi a primeira vez que vieram dos estados do Brasil os grupos musicais característicos desses estados e o maracatu do mestre Capiba. “De São Paulo de Luanda, me trouxeram para cá… eeeee” [cantarolando]. Então, quando eu vi isso, eu vi que São Paulo… E quem me revelou como escritor foi o poeta Paulo Bomfim, cuja maior obra é a saga em poemas dos bandeirantes.
O KAOS, A FILOSOFIA E A ARTE

Você fez a trilogia do Kaos nos anos 1960. Deus da chuva e da morte (1962), Kaos (1964) e Narciso em tarde cinza (1966). Mas essa ideia, do Kaos (com K) acaba atravessando as suas canções, o seu filme O Demiurgo e as suas conversas filosóficas. Qual é a história desse seu conceito de Kaos com K? Ele foi se transformando ao longo do tempo? Hoje é outra coisa, é a mesma coisa?
Kaos com K, começou sendo o partido político. Kaos. E tinha quatro definições. Kaos de Kristo ama ondas sonoras; Kamaradas anarquistas organizando-se socialmente; Kolofé Axé Oxóssi Saravá; e a última cada um colocava a sua.
Ou seja, era um conceito que já era aberto…
Exatamente isso!
Mas Jorge, a dissolução do partido do Kaos e o seu ingresso no partido comunista não significam o encerramento, para você, do Kaos enquanto conceito…
E nem para o partido comunista! Eles adoravam a ideia porque eles queriam sair do realismo socialista. Eles queriam essa ideia do Kaos.
O Kaos tem alguma coisa a ver com a curtição, com a coisa da contracultura da época dos anos 1960, especialmente 1970? Como o Kaos se materializa no corpo, na canção, na cidade?
Olha, o Kaos é tudo. A imperfeição. Não existe uma formiga igual a outra. É tudo. Não tem a generalização abstrata, então o Kaos tem várias interpretações, como eu disse: K de Kamaradas anarquistas organizando-se socialmente; Kristo ama ondas sonaras; depois vem Kolofé Axé Oxóssi Saravá; e a outra cada um colocaria a sua. Então é nessa dimensão de liberdade, multiplicidade e simultaneidade das coisas. Os opostos não apenas se atraem, eles são enlouquecidamente apaixonados.
Como o Kaos se relaciona com o mistério?
O mistério é tudo, porque tudo é misterioso. O mistério desvelado revela três mistérios. Três resolvidos produzem quarenta, e assim vai. E o Brasil não oficial, o Brasil do candomblé, da umbanda, da quimbanda, dos indígenas… Esse é o Brasil mais avançado que existe. São mentes iguais à de Einstein. E chega a ser grotesco a falta de escola. Mas eu vou repetir uma coisa importante para mim: a principal coisa foi a seguinte… Quando houve a abolição dos escravos que fizeram tudo, Joaquim Nabuco e os irmãos Rebouças disseram: “Não, isso não é libertação de escravos. Tem que haver a segunda libertação dos escravos”, que inclui reforma agrária e educação. Então, reforma agrária para que todos os escravos brasileiros pudessem comprar uma terrinha, ser gente; e depois da reforma agrária, a educação. Do jardim de infância até o diploma universitário, tudo de graça e da melhor qualidade. Esta é a segunda abolição, apregoada pelos irmãos Rebouças e por Joaquim Nabuco. E para impedir que se desse essa segunda abolição é que o exército derrubou o Império. Enquanto o Brasil não fizer isso, exatamente isso, essa segunda abolição, reforma agrária e estudo do jardim de infância até a universidade grátis para todo o povo brasileiro, se não fizerem isso, o Brasil se perderá. Mas eu acho que isso acontecerá. Talvez imposto pelos estrangeiros que vierem para cá… Olha só, esse incêndio do Amazonas já criou… Eu sei que tem um tratado de que se continuarem a incendiar a Amazônia, virão a China, a Rússia, a comunidade europeia e os Estados Unidos ocuparem a Amazônia.
A sua abordagem de temas místicos, religiosos ou míticos é uma mirada, é um olhar político-cultural ou é um olhar existencial-metafísico?
É tudo isso junto. As coisas não são separadas. Isso é uma bobagem cartesiana. É tudo simultâneo e nada é igual a nada. É ao mesmo tempo, é simultaneidade.
Você também, desde antes, sempre abordou muito fartamente as questões de gênero e de sexualidade na sua obra de modo geral – incluindo as canções, as performances, etc. O Kaos com K também se relaciona com esse debate, da identidade de gênero e da sexualidade?
Para nós era óbvio ululante que qualquer prática sexual é uma obtenção do prazer… Não tem lero-lero em cima disso. Isso é gozado… (risos) E o Brasil tem o carnaval, tem Jorge Amado, Guimarães Rosa… Tem tantos poetas geniais e eu recomendaria que lessem, de Gilberto Freyre, China Tropical.
Quando você começou a escrever literatura, você já compunha canções, apesar de só ter gravado discos mais tarde. Como que foi acontecendo essa sua relação, de um lado com a literatura, do outro com a canção popular?
Nunca houve separação. Uma coisa levava às outras. Os músicos adoravam e adoram histórias de política, histórias de literatura, histórias da mitologia. Só que não chegam a conhecer. Só que quando conhecem são essas conversas que interessam todo mundo até hoje, pessoas desde o Robert Lowell, Gilberto Gil, Caetano, Luiz Melodia, Wally Salomão… É tanta gente que mora dentro de mim, porque a primeira categoria de tudo é o amor. É a solidariedade sem palavras. E é o mais profundo dos mistérios.
Dos inúmeros livros que você escreveu, gostaríamos de destacar o Fragmentos de sabonete (1976), e o Panfletos da Nova Era (1980), pois nos dois você elabora uma defesa da canção popular brasileira aglutinando tanto a velha guarda – Ismael Silva, Wilson Batista –, quanto os então novos compositores – como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil – ou os ainda novíssimos, como em sua defesa do trabalho de Luiz Melodia. É intenso o debate sobre a canção brasileira no período através de livros e artigos em revistas e jornais de grande circulação. Como você vê essa relação da canção popular com o debate público? A que você atribui essa posição de destaque que a canção tem nos debates midiáticos sobre a cultura daquele momento e ainda de hoje?
Porque ela, além da letra, transmite a música e permite a quem a ouve ter suas próprias ideias encadeadas com o que a letra está falando. E mais ainda, tudo é música. Por exemplo, Einstein, quando não conseguia resolver um problema, pegava o violino e tocava, dormia e nos sonhos surgia a resposta. Assim que é. Então, a música ao mesmo tempo é um carinho, uma compensação, é o fim das mágoas, a superação delas, reconhecendo-as mas transfiguradas de que alguma coisa vai melhorar. Alguma coisa foi muito importante. Essa divisão das coisas interessa mais ao mercado capitalista, só isso.
A gente debate a literatura, as canções, a política. E a filosofia? Entra aonde no meio disso? Como você acompanhava o que estava saindo, o que era relevante?
Eu leio; li muito. Não se pode ler tudo, mas eu li os livros principais da cultura russa, da cultura alemã, da cultura francesa, da cultura portuguesa… e aqui dos grandes autores brasileiros, que estão até, não só na literatura, mas nos batuques, no candomblé, eles estão na umbanda. Então o que dirige o Brasil é isso. Na verdade, o governo e as decisões de cima são frágeis e pálidas intenções, são de uma fraqueza monumental. E o medo de que os escravos… Porque para mim não houve abolição da escravatura, tem que ter a segunda abolição, se não, não é ainda. Ainda é um país de escravos.
O seu primeiro instrumento musical emblemático é o violino, e não uma guitarra elétrica, como foi de muitos. Você começou a contar a sua história com esse instrumento, mas você poderia desenvolver um pouco mais?
Foi como eu contei. Nós estávamos no Rio de Janeiro. Eu acabara de fazer sete anos e meu pai jogou todo o dinheiro na roleta e perdeu. Minha mãe ficou furiosa porque nós perdemos o apartamentozinho que era alugado e fomos morar na pensão do Dr. Frankenstein. Lá a minha mãe conheceu o meu padrastro, Henri Müller, primeiro viola do Theatro Municipal de São Paulo. A música era totalmente filarmônica e clássica. O violino foi aos sete anos de idade, dentro de casa. Porque ele se casou com a minha mãe e permitiu que meu pai morasse junto. Então era meu pai e meu padrasto na mesa de jantar e minha mãe mandava nos dois.
E aí outra coisa pela qual você é conhecido, para além do violino, é enquanto performer de música, é o seu canto. E o seu canto tem, como a sua leitura de poesia inclusive, uma dicção muito particular. Qual é a história de Jorge Mautner cantor? Como que isso veio acontecer? Como você desenvolveu esse talento?
Eu tinha verba aberta e ilimitada para comprar livros e discos, e o meu padrasto fazia bico. Além de tocar no Theatro Municipal, ele ia para as rádios acompanhar Aracy de Almeida e tudo. E eu ia com ele. Então eu conheci Aracy de Almeida, Blecaute, Jorge Veiga, toda a turma e íamos às vezes, por exemplo, para Atibaia, ou um lugar desses de excursão… Eu ia junto! Eu fui no colo da Aracy de Almeida.
A sua literatura e até mesmo a sua discografia, a despeito da sua riqueza e da sua importância, acabaram se colocando um tanto quanto à margem do que seria o mainstream comercial ou até mesmo acadêmico. Talvez por isso, houve certa insistência crítica no uso do termo marginal para se referir a você. Como você lidou, lida com esse rótulo de marginal e a que você atribui essa hipotética marginalidade?
Na verdade, é um elogio máximo. Um marginal tinha coragem de ser diferente e, no entanto… O marginal é o que está à margem do que a caretice da lei e da ordem pregam e que, às vezes, é usado para tirania. Então eu fico, logicamente, muito: hay gobierno, soy contra.
Em contrapartida, essa questão da marginalidade, algumas de suas obras se tornaram um estrondoso sucesso como, por exemplo, especialmente, sua parceria com Nelson Jacobina, “Maracatu atômico”. Quais têm sido os seus sucessos ao longo da sua carreira artística e a que você acha que se deve o fato de essas músicas tornarem-se sucesso? Seriam elas menos marginais?
Não, não. São intensamente marginais. Elas são proféticas, são atuais. A palavra encaixa mais logicamente a ideia; na música, ela continua dançando. Então a música é a coisa mais atávica do ser humano, porque são as batidas do tambor do coração. Quando você se apaixona tum-dum-dum [imita o som do coração acelerado] e começa por aí… Os piu-pius de pássaros, os assobios de tribos, e isso começa a ter um encantamento próprio. E a música nos leva para a quarta dimensão e para todas as outras dimensões.
Há duas obras que celebram parcerias importantes na sua vida, que é o show, que depois virou o disco com o Gil, O poeta esfomeado, de 1987, e o disco com Caetano, Eu não peço desculpas, de 2002. Foram parceiros importantes, são obras importantes. O que você tem a dizer sobre esses momentos?
São meus irmãos. São ápices. São momentos de alegria eterna, de esperança e de muita alegria, amor e paixão.
O seu trabalho mais recente, em disco, se chama Não há abismo em que o Brasil caiba (2019). Esse título tenta disputar uma narrativa sobre o Brasil. Como esse disco foi pensado e o que que veio primeiro? As canções ou o título?
Eu não sei te dizer isso, se foram as canções ou se foi o título. Eu acho que não teve separação. Brota naturalmente. Não tem, digamos, uma lógica aguda para definir… Não tem isso. É como o Brasil. É amálgama. É mais do que mistura, é amálgama.
Você, na sua obra, no seu pensamento, você falou de maneira densa sobre duas coisas: uma coisa da experiência íntima, da autorreflexão, desse tempo; do outro lado, as questões da tecnologia, dos seus avanços, da cibernética, das máquinas. Se olhando para o mundo hoje, o mundo capotado, o mundo que estamos, das telinhas e dos barulhinhos, e de um Donald Trump… essas coisas são compatíveis? A experiência íntima, da reflexão, do autoconhecimento, e ao mesmo tempo esse mundo acelerado da capotagem?
Eu vou te dizer que o mundo da capotagem pode ser o nosso Armagedom, porque as coisas estão totalmente atadas ao interesse monetário. Mas a um nível como nunca se viu. Agora, ao mesmo tempo, nunca houve tamanha liberdade também. O que eu lamento é o fato de não ter leitura. Ela ser substituída por imagens e bombardeios propagandísticos e por tudo, causa um enfraquecimento do espírito humano. Agora, veja bem, essas máquinas de comunicação… Hoje ninguém mais lê livro. Isso é o maior terror.
Mas tem uma questão sobre as máquinas de comunicação, que você já falou, que seria interessante você recuperar, que é quando você falou que, da megacorporação multinacional até a quitanda da esquina, ninguém resiste à sugestão da máquina.
Exato.
Isso é ruim?
Não é ruim nem bom, porque depende. Se a máquina estiver irradiando algo que seja bom, seja instigante…
Depende da sugestão da máquina então? Porque eu lembro que quando você falou isso, primeiro você falou assim, que por isso todo mundo pensa que sabe – por causa da sugestão da máquina –, mas não sabem, porque não sabem como aquele resultado veio até si…
É isso aí. São várias coisas, muitas vezes opostas. Os opostos se atraem. Tudo o que existe é caos permanente. A ciência, os cientistas comprovaram, um exemplo de caos que eu gosto de dar é o seguinte: um buraco negro engole uma galáxia. O outro buraco negro engole uma galáxia, mas cria uma outra. Qual o motivo? É a mesma coisa que gente tá fazendo aqui. Não é fantástico?
Você tem escrito, composto, pensado, criado algo novo nos últimos tempos? O quê?
O tempo todo. Às vezes jogo fora. A minha vida é essa: eu fico fazendo arte, em toda hora. Arte no sentido de brincadeira e arte o tempo todo. É intrínseco. Eu agora tô vendo aquela cortina balançando, falando com a gente, mandando um “olha nós aqui”, olha essa árvore que linda! Se entra ali um gatinho, um cachorro, eu enlouqueço. Eu falo com eles.
PRÉ, PÓS E NEO TROPICALISMO

Você começou a compor canções ainda nos anos 1950. Encontra-se com Gil e Caetano no final dos 1960 e começa a lançar discos em 1970. Caetano cita você em Sampa (“seus deuses da chuva”), e em Verdade Tropical ele cita você também como uma referência importante para ele. Você, Jorge Mautner, é um pré-tropicalista, um tropicalista ou um pós-tropicalista?
Tudo isso.
Há, para você, alguma diferença entre o que foi o tropicalismo, ser tropicalista e um pós-tropicalismo?
Não, essa diferença é uma abstração para parecer lógica. Acabou.
Você sempre defendeu a importância de olharmos para as pautas das identidades. Essas questões identitárias parecem, hoje, ter centralizado definitivamente o debate contemporâneo. As coisas aconteceram do jeito que você imaginava?
Sim e não, em parte… Eu diria que 90% sim e está se encaminhando para isso.
No sentido de que houve bastante emancipação?
Houve, é. E as próprias máquinas, quando elas se tornarem superiores àqueles que as manejam, vão ter esse nosso pensamento mais humano. As máquinas serão mais humanas do que os seres.
Mas, por outro lado, há também especialmente nesses últimos anos um grande retrocesso, né, por exemplo, com um presidente do Brasil que é abertamente racista e machista.
Aí, realmente…
Isso já estava no campo das suas expectativas? Você imaginava que isso aconteceria?
Temerosamente sim. Sim, porque, veja bem, eu sei que se continuarem a queimar a Amazônia virão as tropas da China comunista, dos Estados Unidos, da Rússia e de toda a comunidade europeia ocuparem a Amazônia como ponto central, vital, para respiração e a vida do planeta.
Desde os anos 1970, há um encontro entre contracultura e a indústria da cultura e do entretenimento. Do mesmo modo, essas pautas da identidade – as questões da negritude, da defesa do movimento LGBT, do movimento feminista – aparecem hoje mais ainda sob os holofotes das editoras, dos serviços de transmissão de canções, do serviço de audiovisual, do cinema. É uma relação ambígua?
É o sucesso das ideias. É a verdade inserida nessas coisas… É direto.
A tese da originalidade do Brasil enquanto amálgama de raças e culturas, que tem um parentesco com as ideias defendidas pelo Gilberto Freyre, a construção imaginária e discursiva desse país miscigenado racial e culturalmente, alegre e liberto sexualmente, essa tese está hoje sob profunda crítica desses mesmos grupos. O investimento seu na ideia do amálgama cultural precisa ser revisto? Você pensa criticamente sobre isso, diferente de como pensava?
Não, penso cada vez mais aquilo que eu pensava.
Mas você, hoje, tem um olhar muito mais crítico… Por exemplo, a insistência com a qual você fala da segunda abolição, da importância de resolver a permanência do racismo nas relações brasileiras. Isso, em si, já não é uma relativização daquela ideia muito mais cândida do Brasil enquanto encontro e mistura das raças? Não tem um papel importante para você, no seu pensamento, reconhecer que há um conflito e ele precisa ser lidado?
Esse conflito precisa ser lidado. A proeminência desse sentido veio para ser decapitado. A coisa mais importante é a segunda abolição dos escravos. O Brasil ainda é o país que tem escravos e bem mal disfarçados. Então tem que ser isso, que é nosso amálgama. Isso tá em Guimarães Rosa, isso tá em todos os lugares. É o Kaos com K….
Mas o fato da mistura, Jorge, ela não afasta a realidade de que, por exemplo, o Brasil vive com uma grande parte da população, esta principalmente negra, sujeita a…
A maior parte é negra e os índios são esmigalhados e são quase escravos. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Não é pelo fato de que o Brasil é um lugar que culturas e etnias se amalgamaram, isso não deixa de… Olha, o governo não governa. Ele é pequenininho. É tudo blefe. Por exemplo, já na época da escravidão, quando um quilombo se tornava muito forte, eles iam, a capitania, “olha vocês estão muito fortes, vocês têm que se mudar”, e o quilombo se mudava para 400 quilômetros e assim foi feito o Brasil. O único que se recusou foi o Zumbi dos Palmares, embora o pai dele concordou em mudar o quilombo. Mas ele insistiu.
Ou seja, mesmo a sua fé na ideia de amálgama não te impede de perceber que o racismo, por exemplo, é uma realidade grave no Brasil.
Nossa senhora, claro! É. Aí é a história de poder, né, pura e simples. Imagina, os brancos geniais como Noel Rosa iam ficar com os negros, né? Fazer samba. Os outros que não tem essa… não precisa ser cidadão negro para ter emoções. É a igualdade que nós estamos falando. Egalité, liberté, fraternité. Isso o Brasil puxou raríssima exceção, nenhum país outro se compara ao Brasil, que é um continente e que foi feito assim e tem tudo isso. Agora é rápido, por causa da tecnologia.
O fortalecimento desses debates e também das redes sociais, também deu voz a esses grupos que eram, e ainda são mantidos de maneira subalternizada e que agora se manifestam, por vezes de forma incisiva, sobre os objetos culturais contemporâneos, que passam a ser olhados e julgados por esse prisma. Como você vê as dimensões progressistas ou autoritárias dessas novas manifestações públicas? Parecem em algo com a patrulha dos anos 1960, 1970, ainda que em outros termos, ou são completamente diversas?
Ambas as coisas. O politicamente correto é politicamente correto. É óbvio, né? Pelo amor de Deus. Somos todos iguais. Não tem ninguém superior ou inferior. Essas categorias são categorias do escravagismo. São pensamentos de Adolfo Hitler…
Ou seja, as pessoas que pertencem a grupos que são discriminados às vezes violentamente no Brasil, elas acompanharem criticamente o que é produzido e denunciarem o racismo, o machismo, você considera isso…?
Isso é mais do que certo. Isso é mais do que urgente. Isso vai resultar nas conclusões que eu cheguei de pacificação, digamos, de vida humana, de consideração ao próximo seja ele anão, gigante, negro, mulato, índio, sei lá.
Todo tipo de gente…
É claro. E também os animais. Isso se estende… É um processo de inteligência lógica. O que se faz… Agora, o problema que eu vejo é o perigo da humanidade, é o que você tá vendo hoje… O coronavírus é uma tecnologia que serviu para eleger o Trump. O Zuckerberg – é montanha de açúcar o nome dele –, essa gente… E depois outra coisa, a coisa mais aterrorizante. Vou te dizer o que aconteceu: ninguém mais lê livros.
Ficou célebre sua afirmação de que “Ou o mundo se brasilifica, ou vira nazista”. Nos últimos anos, estamos assistindo à emergência de um Brasil muito mais autoritário, violento e conservador do que esse Brasil que você defende. Como você vê essa tensão entre esse Brasil que você acredita, tem fé e ama, e esse Brasil que está se revelando, que é escroto, machista, autoritário, violento…
É uma guerra aberta, declarada e clarissimamente identificada. Não tem nem entrelinha. Aí é claríssimo. Se eles não fizeram a reforma agrária e não deram educação, do jardim de infância até a universidade de graça para todos…
Você pensa na morte? Você tem medo da morte?
Olha, claro que eu tenho medo da morte. Não gostaria de morrer. Mas é inevitável. Você se rende aos fatos. A velhice torna você mais fraco, mais cansado. Já é um encaminhamento para isso. Mas haverá uma época em que os seres humanos vão viver mil anos, dois mil anos…
Você falou mais cedo, enquanto a gente conversava, sobre como a sua cabeça e o fato de criar poeticamente, para você, é uma coisa ininterrupta. Nesse seu imparável fluxo de consciência e criação e pensamento, a morte entra? Ela habita seus pensamentos, seus sonhos?
A morte sempre está presente. Se existe o nascimento, existe a morte. Em tudo. Para as hortaliças. Em tudo, tudo, tudo. Os astros. Um buraco negro engole uma galáxia. Matou a galáxia. O outro buraco negro engole uma galáxia, mas fabrica uma outra. Essa é uma pista. (Risos).
Gostaria que você contasse a lembrança emocionalmente mais marcante da sua vida.
Ah, meu Deus! Meu pai. Minha mãe. Meu padrasto. Minha babá, Lúcia, que era mãe de santo. Os meus amigos, minhas amigas. É difícil, hein, porque para a pessoa sensível todos os momentos são marcantes. Eu não posso dizer é esse, é aquilo. Não. É tudo. Não dá para diferenciar desse jeito. Isso é um equívoco. É tudo, mesmo porque por mais que você faça as coisas pensando e preparando, tem sempre o inesperado. E o inesperado ele é muito forte. Então sempre tem alguma coisa inesperada.