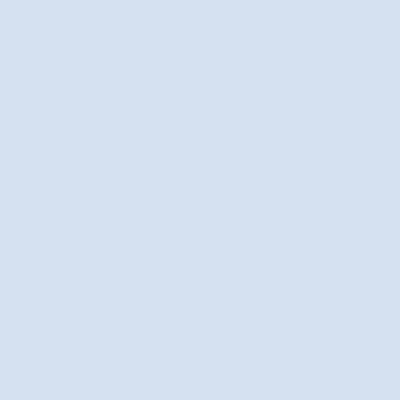Transformando-nos em imagem
“Suas botas e pernas estão bem definidas, mas ele não tem corpo ou cabeça, pois estavam em movimento”, escreveu o inventor estadunidense Samuel Morse — o mesmo do código e do telégrafo com fios — a seu irmão no outono de 1839. Morse muito provavelmente detalhava o célebre daguerreótipo Boulevard du Temple (1838), a primeira ou uma das primeiras fotografias a captar uma figura humana. O que se vê no daguerréotipo — e que hoje, graças ao milagre da reprodutibilidade, qualquer um com acesso a internet também pode ver, ainda que em formato digital — é uma cidade fantasma; o boulevard, costumeiramente recheado de seres humanos e outros, tais como cavalos conduzindo charretes, aparece inteiramente esvaziado de vida, à exceção do pedaço de homem, se considerarmos um pedaço de homem como uma vida. Com efeito, ele parece subsistir na calçada da avenida como uma espécie de espectro que não conseguiu se eclipsar por completo antes de ser capturado pela máquina dos vivos.

Há uma explicação lógica que devolve a cabeça aos pés de toda essa história, é claro: para que a imagem pudesse se fixar na placa de cobre recoberta por prata do daguerreótipo, era necessário um período longo de exposição, no qual os sujeitos fotografados não deveriam se mover sob pena de desaparição do resultado final. Por outro lado, poderíamos, quem sabe, dizer de outro modo: diante de uma fotografia, os viventes adquiriam estatuto espectral, camuflando-se em seu próprio deslocamento; resistiam, assim, pelo movimento, ao procedimento que desejava seus aspectos. Do que se escondiam os ausentes do daguerreótipo? Escondiam-se ou eram escondidos?
No Boulevard, o primeiro ser humano fotografado é alguém que pode ter seus sapatos engraxados. Que Morse relate ver apenas suas pernas e botas permite que as tomemos como índices da classe social a que pertence. E foi a classe alta que frequentou os estúdios abertos nos anos seguintes, quando o inventor percebeu, a partir da foto-fantasma, que a verdadeira vocação dos daguerreótipos era o retrato. Afinal, um ser humano poderia ficar parado por vários minutos até que seu semblante fosse impresso na placa — e pagaria bem por isso. Agora, mostravam-se, individualizavam-se os que possuíam os meios, imersos em uma época na qual o crescimento acelerado das cidades ameaçava a distinção pessoal. Superado o daguerreótipo, não faltaram novas técnicas fotográficas, aprimoradas para produzir retratos de senhores e senhoras, de famílias e infantes. De fora, ou como fundo-cenário para a figura-sujeito, é possível ver alguma ausência ou uma pseudopresença, como diria a ensaísta estadunidense Susan Sontag em outro contexto; um algo que escapa.
Nas colônias, a situação diferia. Todo o esforço de produção de retratos visava mostrar em imagens, isto é, presentificar, fincar na realidade, a sujeição, a pacificação e a submissão de outros povos. Não faltaram daguerreótipos de “botocudos” feitos no território que hoje conhecemos como Brasil, de frente e de lado, com propósitos antropométricos — científicos. Tampouco postais de “índios amansados”, isto é, de pessoas indígenas não identificadas vestidas à moda dos colonos e enfileiradas para demonstrar seu bom comportamento, além de outros tipos de registros.
Fotografias de interventores coloniais ao lado de reis depostos ou humilhados também eram comuns, como a do Awujale do reino iorubano de Ijebu, Oba Ademuyewo Fidipote, ao lado do governador branco de Lagos, John Hawley Glover, em imagem de 1899. Conforme explica o escritor de ascendência nigeriana (iorubana e de Ijebu) Teju Cole, que escreveu uma análise sobre a foto, o rosto do rei, do Awujale, deveria, por sua divindade, permanecer oculto em público, jamais ser revelado; nesta fotografia, entretanto, cercado por oficiais europeus, seu semblante é plenamente visível.
A comercialização da primeira câmera portátil data de 1888. Nas colônias alemãs em África, entre 1884 e 1918, conforme narra a historiadora brasileira Naiara Krachenski, a Sociedade Colonial Alemã (DKG) produziu extenso material fotográfico de paisagem. Era como se os territórios que hoje conhecemos como Namíbia, Tanzânia, Ruanda, Burundi, Togo e Camarões fossem desabitados por seres humanos. Em um instante, e de ponta-cabeça, estamos de volta à cena do Boulevard. Desta vez, porém, sabemos que as pessoas foram propositalmente desaparecidas das fotos — ou, quem sabe, tenham se escondido, por ódio e pavor, em meio às idílicas vistas fotografadas.
A fotografia concorreu, portanto, para o estabelecimento objetivo de delírios violentos, como o do primitivo sub-humano, da floresta virgem e da terra devoluta. Sua contraparte metropolitana produziu muitos retratos de família e, com o tempo, seguiu em frente, tornando-se arte também. Nenhum desses usos jamais entrou em obsolescência, como foi o caso de certas técnicas ou modelos de câmera. A fotografia, um escândalo para seus comentadores citadinos, esteve sempre, não só em seu nascimento, de mãos dadas com o colonialismo. Se ela mantém uma relação com a morte, é sobretudo por esse conúbio infernal.
Em um ensaio, Sontag escreveu que “o fotógrafo saqueia e também preserva, denuncia e consagra”; o mesmo fotógrafo, com a mesma fotografia. A história da fotografia não pode refutar essa afirmação, mas talvez ela seja apenas uma dentre várias possibilidades; ou talvez o que Sontag tenha querido dizer é que as relações entre saque, preservação, denúncia e consagração são dinâmicas. Afinal, o que dizer das fotos e dos efeitos das fotos que Claudia Andujar fez dos Yanomami — não mais apenas vistos, mas visionários e vivos?
No final dos anos 1970, Sontag dizia que, naqueles tempos de desaparição acelerada de “formas de vida biológicas e sociais”, a câmera seria capaz de registrar a imagem dos que se ausentam à força. Outra força, essa verdadeiramente estranha, leva os críticos a acusarem periodicamente as fotografias, culpadas por não afetarem mais as pessoas, e as pessoas, culpadas por fotografarem demais. Uma câmera noturna pode fazer parte tanto do aparato ainda colonial que, por meio da “evidência fática” da fotografia, leva sempre o mesmo tipo de pessoa à cadeia e pode também ser usada em projetos de conservação de uma biodiversidade outra que não humana. Isso não significa que essa câmera é inocente em nenhum dos dois casos, tampouco que “mortífera” não seja um adjetivo cabível, de modo assimétrico, para a relação entre imagem e sujeito fotografado em ambas as situações.
Imagens continuam a ser produzidas na frenética velocidade que a tecnologia permite, no meio do torvelinho cada vez mais vertiginoso de destruições e extinções. De fato, o aumento incessante da produção de telefones celulares, cada vez mais acessíveis a mais pessoas e cada vez mais descartáveis, só é possível graças não apenas à mão de obra semiescravizada, como todos já sabemos, mas também à mineração de que dependem materialmente os aparelhos. E os mesmos portos que se abrem diariamente para esses minérios fecham-se à entrada das pessoas que vivem nos territórios por eles devastados. Tudo isso é muito bem documentado e conhecido.
Certa vez, a filósofa estadunidense Donna Haraway perguntou-se (e a nós): “Com o sangue de quem foram feitos os meus olhos?”.
Cada fotografia nos olha de volta. Cada uma é habitada, mesmo que nas reentrâncias. Na suposta falta de um povo encoberto, em movimento ou esconderijo. Mesmo em uma selfie, embora os seres não sejam todos necessariamente humanos. O ausente da fotografia não está fora dela. São espectros. Visagens. O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard desdenhou de aplicativos de fotografia, afinal, como rebaixar o polegar opositor, que muitos acreditam ser uma distinção humana, ao estúpido de deslizar em uma tela para que uma foto, possivelmente um retrato (ruim), se siga a outros? Mas talvez esse impulso, para tantos irresistível, esconda uma forma atávica de proteção. Não faz bem olhar para uma imagem, para uma foto, por muito tempo. Quem sabe os mansos não arrancam as roupas, os botocudos não dão uma investida? Oba Ademuyewo Fidipote ocultando seu rosto, de pé. Milhares, milhões de humanos e outros, mais que humanos, saindo da floresta e arrebentando a câmera colonial. Os extintos gritando, exigindo o reconhecimento de seu modo de existência. Quem sabe o que poderia acontecer? Iriam se levantar também os oficiais coloniais? Veriam também as miríades de atrocidades já registradas, seja por entretenimento ou denúncia? Muito cuidado ao olhar; você está sempre sendo olhado de volta.
E se eu encerrasse este texto dizendo que todos, todos já vivemos uma vida de espectro, que já nos transformamos todos em imagem, de maneiras diferentes e cruzadas em relação à experiência de Huni Kuin narrada no filme do cineasta Zezinho Yube sobre a trajetória de seu povo, que hoje produz vídeos? Desconfie de seus outros espectros e escolha muito bem a quem assombrar.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista