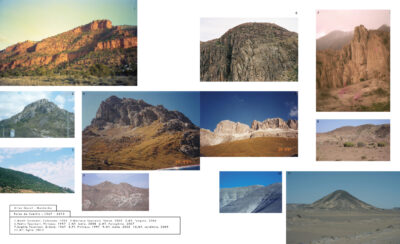Andressa Núbia é diretora criativa imersiva, com interesse na interação entre arte e tecnologia na concepção de novas pluralidades de mundos. Formada em audiovisual multiplataforma, fundou a AILUROS, estúdio de criação e produção de conteúdo imersivo. Curadora de novas tecnologias na GatoMídia, uma rede de aprendizado para jovens de espaços populares, participou de exposições como artista visual em países como Estados Unidos, África do Sul, Quênia e Gana. Colaborou em diversos projetos tecnológicos de realidade virtual, entre eles “Na Pele”, exibido no Festival de Documentário de Amsterdã, e “Descolonize o olhar”, exibido na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.
Jean Carlos Azuos está Curador na Escola Livre de Artes ELÃ (Galpão Bela Maré/RJ) e Assistente de Curadoria no Museu de Arte do Rio de Janeiro – MAR. Doutorando no Programa de Pós-graduação em literatura, cultura e contemporaneidade da PUC-Rio, desenvolve pesquisas e práticas em curadoria e educação na perspectiva contracolonial, refletindo sobre as presenças negras, indígenas e lgbt+ na composição política de outras cenas na arte contemporânea.
Andressa — Venho pensando muito na junção da arte com a tecnologia pra criar novas pluralidades de mundo. Como diretora criativa inversiva, eu tenho um rolê bem multidisciplinar, então começo na fotografia, mas também sou do audiovisual, também trabalho com tecnologias inversivas, e hoje sou até DJ, que é o que eu mais venho fazendo. Também estou nessa pira de criar metaversos, filmes e realidade virtual, e está sendo meio assim. Sabe como é, né? Sou cria do Complexo do Caju, sou cria de cria, vizinho da Maré.
Jean — Sou cria do Complexo da Maré desde que nasci! Tô aqui desde sempre.
A — A galera sempre acha que eu moro na Maré, mas não. Eu moro no Caju, que é ali do lado. E eu comecei a estudar fotografia também dentro da Nova Holanda, e ali foi um start pra começar a questionar esse lugar da imagem e da produção imagética dos corpos pretos e favelados. Foi um processo muito foda pra mim, porque foi no lugar onde eu me reconheço enquanto uma mulher preta, enquanto uma mulher favelada. Porque a gente tem isso, né, “eu não moro no Caju, moro em São Cristóvão”, “eu não moro na Maré, moro em Bonsucesso”, então esse lugar de reafirmação veio muito a partir da imagem, da fotografia, e eu comecei a questionar um pouco essa produção. Mas a fotografia também foi um lugar muito amplo de poder criar, de eu poder fazer o que eu imaginava, poder criar essas composições. O meu trabalho vem muito de uma frase da Solange [Knowles], de uma música em que ela fala: “eu vi coisas que eu imaginei”. A música inteira é assim: “eu vi coisas que eu imaginei”. Eu sou uma pessoa que tem sonhos muito lúcidos, tanto é que minha terapeuta uma vez falou que eu estava tendo viagens astrais, que minha alma estava sendo desligada do meu corpo e viajando enquanto eu dormia. Talvez não dê pra explicar exatamente o que acontece aí, mas acho que acredito um pouquinho nisso. Sabe por quê? Sempre tive uma imaginação muito fértil, então, a partir desse lugar das coisas que eu imaginava, eu sempre quis colocar isso em imagem, quis colocar isso através da fotografia, mas pra além do que estava disponível visualmente pra gente, no sentido de, a partir da fotografia, pensar nessas histórias que estão no invisível, pensar essas histórias que não estão nesse campo de… Como eu posso dizer? Histórias que não estão nesse campo material e físico, nesse campo que está disponível, mas histórias que estão no invisível ou que existem a partir de outros lugares, seja a partir das contações de histórias, a partir da fala, a partir do texto.
J — Eu acho que a imaginação que me faz encontrar você, Andressa, em algum lugar como artista, ou conhecer o seu trabalho, conhecer as profundidade das linguagens, a imaginação que é que é capaz de traduzir esse encontro, traduzir em exposição, traduzir em narrativa, em escrita. Acredito que o poder de imaginar, hoje, tem estratégias pra adiar um fim do mundo, como diz o Ailton Krenak. É aquilo que eu ainda não vivi e preciso viver antes que esse mundo imploda, antes que ele acabe. Eu preciso criar estratégias pra adiar esse fim.
A — Isso vai muito de encontro com a minha realidade, Jean. Quando eu era criança, minha avó morava embaixo e eu morava em cima. E eu adorava, no fim da tarde, descer as escadas e ficar sentada no sofá enquanto minha avó contava as histórias. Tem um autor que eu gosto muito, o Vilém Flusser, que tem um livro em que ele conta sobre a filosofia da caixa preta, que fala que as imagens vêm a partir dos textos, que a formação do sentido vem muito a partir do texto. Então, acredito que a contação de história é ter esse lugar de escuta aberta, tanto na parte de fotografar quanto na parte de gravar. Esse é o lugar em que você olha, retrata outra pessoa, mas, na verdade, eu sempre quis ouvir muito mais do que ver. Muito mais do que utilizar o sentido da visão, utilizar o sentido de escuta pra poder criar essas histórias que não estão disponíveis. Adiar o fim ao criar novos pontos de partida. A partir da fotografia, eu enxerguei uma possibilidade de criar, de mostrar esse imaginário, essas coisas que eu penso, mas também de trazer essas outras histórias. De, a partir da fotografia, criar esses novos sentidos de imaginação. Tipo, o que eu penso na fotografia não necessariamente está disponível, mas, a partir do momento em que a pessoa vê uma fotografia minha, aquilo ali começa a fazer parte do imaginário dela. Então eu acho que gosto de mexer um pouco com o que não necessariamente está ali disponível, mas que, depois que a pessoa vê, daquele momento em diante, vai fazer parte da memória, do subconsciente, do imaginário dela.
J — Acabei de fazer 30 anos, agora em junho, e todos esses anos de Complexo da Maré, pra mim, têm sido também poder imaginar a vida de um jovem negro, bicha, de favela, vivo e pensando e fazendo arte. A minha própria vida já é um estado de sempre anunciar um processo de imaginação daquilo que eu me proponho a fazer no mundo. Desde 2012, escolho e vou buscar caminhos possíveis pra fazer artes visuais. Comecei minha formação como artista e depois comecei um processo de pesquisa ainda em investigações em poéticas artísticas. Naquele momento, enquanto artista, foi fundamental pra entender o poder de uma imaginação e também a liberdade que ela propõe pros nossos corpos favelados, que, de alguma forma, estão sempre à margem por um processo violento, sempre dentro dum processo de estigma. Então, como eu era um favelado, pensar na poética de um trabalho artístico que não falava sobre essas coisas, que queria falar sobre outras paisagens, outras poéticas, tocar no lugar de memória, de subjetividade, isso já era uma grande crise. Imagina só: como assim, um artista favelado não estar falando sobre favela? Não estar falando sobre violência? Não estar falando sobre negritude?
A — Me identifico muito com isso, com esse lugar de não querer documentar a violência, de sair desse lugar. Por que a gente, por que corpos pretos, por que corpos marginalizados têm que sempre estar pautando esse lugar da dor, esse lugar do sofrer? Eu acho que sempre senti falta dessa necessidade de ver rostos sorrindo, de ver um pouco de alegria e de trazer um pouco mais desse mito, dessa mitologia.
J — E eu percebi que, dentro daquela minúcia, dentro das minhas inquietações, foi fundamental poder falar daquilo que mais me interessava. Porque se, por um lado, imaginar ser artista já era um caminho tão distante, estar me tornando e me fazendo uma pessoa artista, pesquisadora, tinha uma força vital, uma força política que me abria uma possibilidade, também, de falar sobre qualquer outro assunto. Então, pra mim, imaginação está no lugar de uma possibilidade de inventar um agora ou um porvir, aquilo que ainda não está ou que só existe nessa imaginação. Eu acho que ela também nos dá ferramentas, estratégias pra, de alguma maneira, projetar no mundo aquilo que a gente deseja. Imaginação caminha com desejo, um desejo que me faz hoje chegar na curadoria, nos estudos curatoriais, estar curador assistente no Museu de Arte do Rio, aqui no Rio de Janeiro. Acho que tudo isso foi possível a partir da imaginação, mas uma imaginação que foi acompanhada de muitas estratégias, de muito trabalho, de muita pesquisa. E a imaginação me traz essas possibilidades de projetar os desejos, de configurar mecanismos e um cenário artístico que seja mais poroso, que seja mais negro, que seja mais político, que seja equânime no sentido das presenças, que não seja binário, que seja mais plural, que seja mais acolhedor, que seja mais afetivo. Dentro do discurso curatorial em que me vejo e que me atravessa, posso imaginar exposições, imaginar assuntos, imaginar temas que antes me eram historicamente invisibilizados, interrompidos, apagados. A imaginação me permite criar essas conexões e configurar nesse tempo/espaço outras leituras sobre arte, sobre cultura, sobre a vida. E acho que é por isso que hoje também estou vivo, é por isso que eu continuo animado pra fazer muita coisa, tudo por conta da imaginação, que me deixa um grande lastro de possibilidades e que também me dá horizonte e chão pra seguir caminhando.
A — Nesse sentido, a imaginação é um grande quebra-cabeça do qual a gente pode ir pegando sínteses e ir construindo a nossa cena final, né? Eu gosto muito de mixar possibilidades de histórias. Tanto é que tenho alguns trabalhos que vão nessa direção, porque eu gosto de trabalhar dentro desses quebra-cabeças, de juntar essas peças, de pensar essas composições pra dar um sentido geral pra coisas que parecem aleatórias e não conectadas. Nada do que a gente faz é de forma mega conceitual, proposital. O que a gente faz é colar uma peça na outra. E eu gosto muito também de imagens ritualísticas, como a Maré, o Caju. Essas imagens têm muita energia, elas pulsam demais, elas são de um movimento full time. Acho que a favela tem isso, uma energia particular que pulsa no próprio ritmo. Então, acho que parar pra poder observar ou poder sentir, poder desacelerar o tempo pra criar essas histórias, fazer essas colagens, pra mim foi muito importante. E aí tem uma fotografia que eu gosto muito, que é a Ialodê, de mulheres criando o mundo, eu gosto de como… Eu sou bem sagitariana, tá? Eu dou uma volta no mundo pra poder explicar as coisas.
J — Acho ótimo, vai fundo.
A — Mas eu gosto muito dessa imagem, porque, há um tempo, uma amiga me pediu pra tirar uma foto dela grávida, e aí a gente passou num cenário, a gente não fez nada proposital, a gente só estava ali querendo fotografar. E quando eu pude pegar a câmera, olhar através daquela lente e ver o que realmente estava e não estava ali, e como aquilo ali me fazia sentir, foi muito importante pra mim. Era uma expressão conjunta, minha, da minha amiga e daquele espaço. E ela odeia contar a história de Oxum, dos mitos africanos, mas eu gosto muito de fazer essa interseção entre as histórias, entre as mitologias que estão aqui. Acho que elas cada vez mais vão se reproduzindo no nosso dia a dia — e eu moro no Caju, que é uma zona portuária do Rio de Janeiro, onde a gente tem o maior porto escravagista do mundo. A maior chegada de pessoas negras fora de África veio pelo Rio de Janeiro. Mas voltando: ela estava grávida, e essa minha amiga odeia contar a história de como as mulheres de Oxum foram proibidas de participar da reunião de como seria a criação do mundo. Mas tem uma hora que Oxum chega e fala: “Mas como assim, eu não estou participando dessa reunião? Eu sou a deusa da fertilidade, da vida”. E aí, quando a gente coloca em cena no fundo uma favela e no centro duas mulheres, duas mulheres pretas, jovens, em lugar de acolhimento e de geração de vida, a gente começa a pensar nas sínteses do que isso quer dizer.
J — Doido como as mitologias ainda seguem acontecendo e até nos guiando. A nossa vida é a própria munição de proteção, no sentido de como seguir. Olhar pra nossa história é também revirar gavetas, revirar os arquivos e poder reescrever isso de alguma maneira. Fico aqui com esse sentimento de que um dos caminhos e uma das estratégias é seguir podendo imaginar. Não sei, acho que fiquei agora pensando um pouco sobre essas coisas… É muito interessante, porque a gente, ao mesmo tempo que fala, está imaginando também o que falar. Mas eu acho que é olhar pro agora e também olhar pro passado, pensar o futuro, dialogar com esses tempos e poder, enfim, construir imaginações férteis. Acho que é isso.
A — A gente vê como a favela também tem esse lugar muito rico da contação de histórias. Muito rico na questão da criatividade, da simbologia, da invenção. Acho isso interessante. Se eu ando na Nova Holanda, sou afetada por mil coisas, por mil sons, por mil imagens. Como conseguir transcrever isso nessas imagens? É um pouco do que eu penso, sair desse lugar normal e fazer essas sínteses. Essas composições, essas camadas de significados, trazem força pra gente contar sobre a nossa história hoje.
J — Eu sou muito fã de todas as pessoas pretas que lidam com tecnologia, e acho que você é uma delas. Pessoas pretas que lidam bem com essas costuras entre passado e futuro, quando se recorre à ancestralidade pra lidar com esses assuntos, com esses temas. Fico pensando que é sempre muito bonita essa possibilidade da gente criar uma realidade virtual ou um multiverso. É onde as nossas vidas são possíveis, onde as nossas vidas são as protagonistas. E também não queria só romantizar esse campo e nem só trazer um aspecto tecnológico ou de uma experiência de algo que possa ser uma efeméride ou algo que possa ser efêmero, mas dizer que, quando a gente olha pro nosso passado e, de alguma forma, propõe revisões pra ele, a gente está imaginando. Quando a gente pensa nas políticas de acessos, numa discussão ampliada de uma disputa que também é política pra nossa geração, mas que ao mesmo tempo repara numa geração que vem antes, numa luta que sedimentou muito chão pra que a gente pisasse mais tranquilo hoje, então eu também sou imaginação de uma outra geração, que veio antes de mim, o que quer dizer que meu corpo também foi imaginado antes. No fim, eu acho que sou também uma resposta. Estou até um pouco emocionado, porque eu acho que meu corpo também responde a uma imaginação que foi feita anteriormente. E eu acho que essa palavra é tão poderosa porque ela nos dá um direito mesmo de pensar e propor ao mundo qualquer coisa. E, de alguma maneira, não só eu, mas você também. Mulheres pretas sonharam com isso, com mulheres pretas na tecnologia fazendo arte, articulando imagem, articulando esse pensamento racial tão generoso, tão sensível.
A — Com certeza. Quantas mulheres pretas não imaginaram essa mulher de agora?
J — Muitas, e ainda bem que fizeram assim, porque o que eu trago pra mim eu também estou aqui lidando com você e também com um coletivo que é muito maior do que a gente. Somos uma multidão. Imaginar tem a sua subjetividade, tem as suas particularidades, mas eu também imagino a partir de uma multidão. E eu acho que a gente precisa ter essa consciência, e eu acho que a gente está vivendo isso: esta é a expectativa daqueles que já foram também. O nosso corpo tem também um compromisso, um compromisso que é histórico, que é social, que é territorial, que tem essas implicações todas, políticas, estéticas. Eu acho que imaginar também é imaginar com todas essas camadas, que só acrescentam e orientam um pouco a nossa imaginação. Uma imaginação que possa ser muito respeitosa e generosa também com a nossa história e com aquilo que a gente quer projetar no futuro. Fico pensando sobre isso, porque lido com os processos de curadoria, de conhecer pessoas artistas, e a curadoria é um campo que, de alguma maneira, me coloca frente a frente com a imaginação de outras pessoas, então também é um compromisso maior, somado, é um compromisso que está misturado. E eu acho que qualquer processo de curadoria, seja de uma exposição, seja no cinema, seja no teatro, ele precisa estar muito sensível a isso, sensível a ser uma pessoa receptora de todas aquelas imaginações, a dialogar com todos esses universos, com todos esses espelhamentos. Com essas ressonâncias no mundo. Acho que, quando imagino, imagino por mim, imagino aqui nesta dupla e também imagino com um coletivo que é muito maior, uma multidão. Eu acredito nessa força, que ela tem uma intencionalidade, que de maneira alguma é só estética, mas política, humana.
A — Até com isso em mente, eu queria citar um outro trabalho meu, que se chama Emir, um sopro de vida. Durante a pandemia, eu estava me sentindo muito sufocada. Acho que todos nós estávamos um pouco assim, mas, pra além da crise toda, aconteceu o caso do George Floyd, que falava “não consigo respirar, não consigo respirar”. Isso mexeu profundamente comigo. Não tem como não atravessar a gente: um jovem preto tendo a vida interrompida, clamando ali por um pouco de ar. Eu estava cansada, cansada, cansada de ouvir, de ver toda hora a mesma coisa no jornal, na TV, no celular: morte, morte, morte. Eu falei: “Não, cara, eu preciso reverter essa lógica”. E aí, como eu falei dessas imagens ritualísticas, eu chamei uns amigos e a gente foi pra uma ocupação, o lugar mais pobre, vamos dizer assim, da minha favela, um lugar que se chama Vila dos Sonhos. E nessa Vila dos Sonhos tinha uma árvore, e metade dela estava cortada. Seu tronco e suas raízes permaneciam no chão, enquanto suas folhas entravam por dentro da casa, já um pouco longe do que servia vida a elas. Então, a gente entrou ali, eu e mais dois amigos, e a gente botou uma música e começou a dançar. E aí, nessa dança, nesse lugar ritualístico cheio de folhas mortas, a gente fez um filme. Esse é um filme em VR em que a gente tem essa entidade, esse corpo, que pode ser representado pela gente ou pode ser o George Floyd, tendo a vida. O Emir do filme é o sopro da vida, é a alma do ente, é a coisa mais poderosa que se tem. Então a gente faz o processo da vida retornando ao corpo. Eu acho isso tudo muito simbólico. E pensando esse atravessamento, pensando essa ancestralidade, pensando nessas memórias, ali era o lugar onde minha avó trabalhava e onde eu passava quando criança. Antes, eu passava ali com a minha avó, minha falecida avó, e hoje lá há outro contexto, ali não é mais um hospital, mas sim uma ocupação de pessoas que não têm lugar pra morar. Como eu posso reverter e criar vida, como eu posso criar outras estratégias de sobrevivência que não nos sufoque, mas que pegue as folhas do chão e nos traga esse ar de frescor? Quando eu penso o afrofuturismo, eu fico pensando, tipo, em sair um pouco dessa distopia atual que a gente vive e ir pra um lugar onde há possibilidades reais, há possibilidade de viver e viver bem.
J — Quando você fala disso, eu lembro dum trabalho de uma artista chamada Ventura Profana: ela com um roupão dentro de uma igreja católica meio barroca, e no roupão dela está escrito “Ladra que rouba ladrão”. A gente já foi tão saqueado historicamente, tão roubado, que eu acho que a imaginação é o nosso maior tesouro desse tempo, porque é o que nos possibilita, de alguma forma, pegar de volta tudo que nos foi tirado. A imaginação que é essa possibilidade, a possibilidade de um artista contemporâneo falar de abstração, de poder ter uma obra que é abstrata, de um artista e pessoas artistas pretas falando de tecnologia, de afrofuturismo, pessoas artistas negras fazendo o que quiserem fazer, escreverem sobre o que quiserem escrever. Uma vez eu estava ouvindo a Ana Paula Lisboa, que é uma escritora, e ela estava escrevendo nesse momento pro Segundo Caderno, do Globo, algo que lidava exatamente com isso, essa possibilidade de ser aquilo que a gente quer ser, de inventar um mundo que nos caiba e em que caiba os nossos e as nossas, e que seja também um futuro bonito, e não um futuro tão depois, mas um futuro que pode ser amanhã, uma cena que pode estar sendo pensada e projetada pro amanhã. Eu fico por aqui, e registro isso muito a partir também dos trabalhos que vão me contaminando nesse percurso. Há certa radicalidade nessas imaginações.
A — O imaginar é fazer, é ação. No termo talvez exista uma ideia de passividade, de algo que não sai do teórico, como se, sei lá, a coisa toda não passasse de dois braços cruzados. Mas essa não é a real. Como você falou: imaginar é também propor, desafiar, revolucionar, lutar. Tudo isso junto.
J — Fiquei pensando nessa palavra agora, “radical”. E é interessante porque, ao mesmo tempo que é contraste, ela também nos dá uma sensação de vigor pra imaginar. Não tem os esportes radicais? É como se poder imaginar também fosse essa grande aventura. Eu me sinto muito convidado pra essa aventura chamada imaginação. E aí fiquei lembrando de uma outra palavra, “delírio”. Eu tenho usado essa palavra em alguns momentos, em textos que tenho escrito, muito apoiado num trabalho de Wallace Ferreira e Davi Pontes, em que eles falam sobre “delirar o racial”, que nada mais é do que pensar a partir desse corpo, da quebra de sequencialidade, de outras coreografias. E eles estão pensando ali também junto com Denise Ferreira da Silva, que é nossa filósofa e pensadora, que vai pensar sobre isso, sobre um processo de pensamento que não é sequencial. E ela me leva pra Leda Maria Martins, que vai trazer uma compreensão espiralar disso, do tempo, das coisas, das políticas, das ancestralidades, das afrografias. E, por fim, me vejo assim, bebendo de todas essas coisas. Eu estava muito pertinho dessas construções. Por exemplo: a exposição de efeito de cor, que se baseia no livro de Ana Maria Gonçalves. É uma exposição tomada de artistas pretos, e eu acho que isso já é um indício de uma cena da qual eu acredito. A própria Bienal de São Paulo desse ano, que vai falar sobre coreografias do impossível, imagina o que seria uma coreografia do impossível se não uma imaginação radical, uma imaginação complexa. O meu sonho é que essas imaginações se encontrem. Eu não sei dizer, não sei materializar, muito menos projetar isso hoje, mas que todas essas imaginações de pessoas da periferia, de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIA+, de ribeirinhos, de povos originários, caiçaras, de todas as etnias que nos compõem hoje, que todas as imaginações se encontrem, e que se encontrem num lugar bom, num lugar proveitoso, num lugar de construção, num lugar de possibilidades, num lugar de assentamento.
A — O encontro em si já como uma grande ação radical.
J — Uma coisa que eu quero que aconteça é algo que eu nem sei nomear ainda, mas que a imaginação clama, sugere essa suspensão, sugere esse encontro, sugere essa beleza. E eu acho que poder imaginar longe dos fetiches, longe das cooptações, das capturas, poder imaginar todo o encontro dessas pessoas, dessa força, esse é um lugar bom de construção de possibilidades. Poder dançar, coreografar, girar dentro de espaços como esse, de momentos como esse, de encontro. Acho que “encontro” talvez seja uma palavra possível, e depois dela ficar atento aos próximos passos de como isso se constrói, de como isso se materializa, de como isso também vaza pro mundo.
A — Agora é minha vez de citar Krenak: a arte não se separa da vida, a vida é a arte. Então, acho que é sobre a gente poder viver e viver transmutando a partir desses saberes, desses conhecimentos, a partir do corpo, a partir da alma, a partir do espírito. E tudo bem, talvez até melhor não ter essa nomenclatura do que estamos imaginando. Isso é o fazer artístico, isso é o fazer da imaginação. Imaginar e criar são nomes que imediatamente remetem à vida. Nada é mais vivo do que o criar e o imaginar.