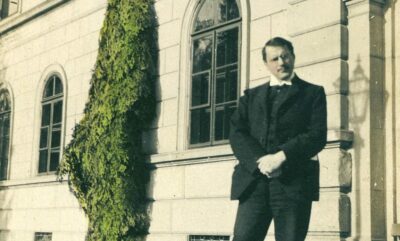Se você tá a fim de ofender
É só chamá-lo de moreno, pode crer
É desrespeito à raça, é alienação
Aqui no Ilê Aiyê a preferência é ser chamado de negão
Se você tá a fim de ofender
É só chamá-la de morena, pode crer
Você pode até achar que impressiona
Aqui no Ilê Aiyê a preferência é ser chamada de negona
(“Alienação” – Ilê Ayê)
“A preferência é ser chamada de negona”
Em 2015, Mario Pam e Sandro Teles escrevem “Alienação”, no contexto do movimento artístico-político Ilê Ayê. E é com o Ilê que começaremos este breve caminho por algumas cidades do Brasil, que trazem em suas ruas, rostos e movimentos artísticos importantes lições sobre mestiçagem, racismo e reeducação das relações raciais no Brasil.
O Ilê foi fundado por Antônio Carlos dos Santos e Apolônio de Jesus no bairro do Curuzu, sendo o mais antigo bloco afro do carnaval da cidade de Salvador. Veio do Terreiro Ilê Axé Jitolu em 1974. Sua história se costura com a do terreiro e de sua Yalorixá, Mãe Hilda. Antes de receber o nome que conhecemos hoje, a ideia era que o bloco se chamasse “Poder negro”, mas esse nome nunca pôde ser utilizado. A Polícia Federal proibiu o uso, alegando conotações negativas e “alienígenas”. Isto contribuiu para que o bloco ficasse associado a uma ideia de subversão no período.
A fundação do Ilê Ayê escancarou a falácia da democracia racial. O bloco foi duramente criticado publicamente. Um marco dessa perseguição política foi a manchete veiculada em 12 de fevereiro de 1975 no jornal A Tarde, onde se lia “Bloco Racista, nota destoante”. Já nos anos 1970, o Ilê seria acusado do que posteriormente viria a ser chamado de racismo reverso – um grande engodo contemporâneo, que só se sustentaria com a humanidade voltando no tempo e reescrevendo a história mundial. Nos dias de hoje, o Ilê é considerado como patrimônio cultural baiano, tendo cerca de 3 mil associados e oferecendo uma série de atividades ligadas à arte, cultura e combate ao racismo.
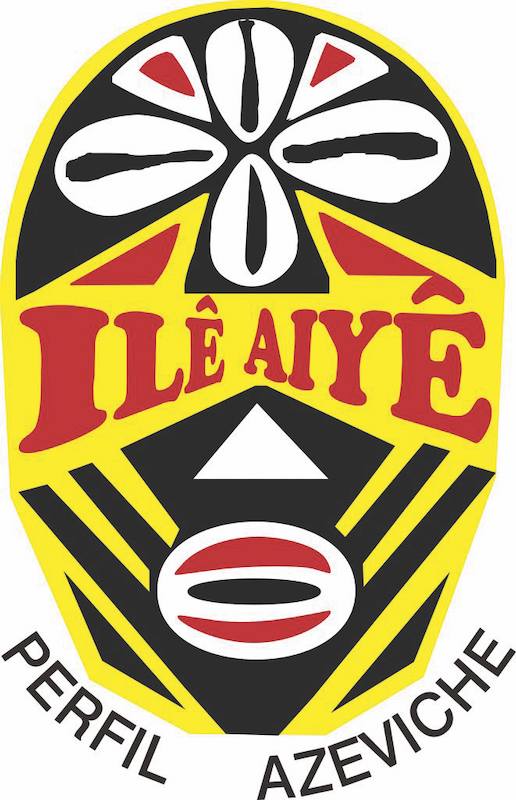
Para além da contribuição musical, o consagrado “bloco negro do sábado de carnaval” traz uma proposta política e estética essencial para discutirmos a reeducação das relações raciais no Brasil. Um símbolo dessa proposta é a Noite da Beleza Negra. A festa ocorre desde 1979, inspirada nos concursos de rainhas do carnaval, mas, na noite do Ilê, a “rainha” escolhida é consagrada como Deusa do Ébano.
Mais do que realizar a escolha da divindade, o evento é uma celebração da raça negra. Os parâmetros para a escolha não são os mesmos utilizados na maioria de concursos, que acabam por reforçar um padrão de beleza que exalta a branquitude, a magreza e a juventude. No Ilê, o que configura uma Deusa do Ébano é sua “força de deusa negra”, sua performance articulando dança, potência negra e práticas antirracistas que passam pelo corpo e pela música.
Pensar a música no Brasil por um viés racializado é essencial para compreendermos algumas relações de opressão e movimentos de resistência que muitas vezes não recebem o devido crédito ou visibilidade.

Durante o século XX, a música foi muito utilizada como aliada na construção de um projeto de identidade nacional pautado pela miscigenação e pela mestiçagem – ferramentas para eliminar a população negra do Brasil de forma gradual apresentadas como algo positivo. A música sempre foi instrumento político, e não vê-la assim é um equívoco. Durante o século XIX, a mestiçagem foi largamente tratada como algo negativo, capaz de formar indivíduos “física e moralmente pervertidos”. Porém, na virada para o século XX, a mestiçagem passou a ser usada pelo Estado para encobrir conflitos raciais e disseminar uma imagem de paraíso racial, onde todas as raças conviveriam harmonicamente – teoria que ganhou força com intelectuais como Gilberto Freyre, Darcy Ribeiro, Noel Rosa e Ataulfo Alves.
Os termos “negro” ou “negra” aparecem associados a algumas produções musicais do século XIX. Um exemplo disso são as canções que recebem tratamento a partir do espectro religioso, como a conhecida canção “Lamento Negro”, interpretada pelo grupo Trio de Ouro em 1941 e composta por Constantino Silva e Humberto Porto. O jongo também acaba por entrar nesta categoria, que chamarei de “Lamento Negro”, pegando emprestado o título da canção já citada. Menos associada à religião e mais associada ao que era considerado “canto de trabalho”, a manifestação surgida no Vale do Rio Paraíba também é abarcada pelo guarda-chuva das musicalidades que costumavam ser acompanhadas do termo “negro” ou “negra”. O termo “samba” era pouco empregado, sendo mais comum encontrarmos termos como “batuques” ou “macumbas”, marcados por certo “africanismo” associado a escravizados, ex-escravizados e pessoas negras de pele escura ou retinta nascidas no Brasil. A estas, no campo da música, restava o lugar do sofrimento, do “lamento negro”, da escravidão.
Podemos observar uma expansão do samba como fenômeno nacional a partir dos anos 1930. A presença da figura do africano e do negro retinto diminuem, dando lugar à figura do moreno e do mulato, animado e alegre, associado à bebida, à dança e à sexualização, em especial quando se falava de mulatas. As marchinhas de carnaval acabaram por reforçar alguns desses estereótipos, endossando o mulato não como fruto de um processo de genocídio racial, e sim como produto da harmonia entre as raças no Brasil. Em “Moreno”, gravada por Aurora Miranda no ano 1936 e escrita por Synval Silva, temos que:
“Moreno, tu nasceste para ser o meu amor […]
Não posso viver sem os carinhos teus,
Moreno, tu foste tocado pelas mãos de Deus.“
Ao “moreno”, ou “mulato”, restam o lugar do sexo, do amor – objetificado – e até mesmo de identidade nacional ou de produto de exportação. Cabe ressaltar que essas categorizações, ao longo de nossa história, vêm majoritariamente de agentes externos, como pesquisadores e folcloristas brancos imersos em processos políticos de embranquecimento da população brasileira.
Muitos direitos foram negados a pessoas negras. Entre eles, o de ser senhor de seu destino, de sua identidade e de seu nome. O nome, geralmente escolhido pelos progenitores, ganha tons ainda mais relevantes quando são associados a pessoas negras, assim como apelidos ou eufemismos utilizados para falar de negritude. Ana Maria Gonçalves, autora de Um defeito de cor, expõe a importância da palavra, do nome, ao narrar a vida de Luísa Mahin, mãe do líder abolicionista Luiz Gama:
“Nós não víamos a hora de desembarcar também, mas, disseram que antes teríamos que esperar um padre que viria nos batizar, para que não pisássemos em terras do Brasil com a alma pagã. Eu não sabia o que era alma pagã, mas já tinha sido batizada em África, já tinha recebido um nome e não queria trocá-lo, como tinham feito com os homens. Em terras do Brasil, eles tanto deveriam usar os nomes novos, de brancos, como louvar os deuses dos brancos, o que eu me negava a aceitar, pois tinha ouvido os conselhos da minha avó. Ela tinha dito que seria através do meu nome que os voduns iam me proteger…” (Gonçalves, 2006, p. 63)

A forma como somos chamados diz respeito à nossa história, nossa identidade. E denuncia, também, estruturas de poder baseadas no patriarcado e no racismo.
Muitas vezes, vemos perguntas como “o certo é chamar de negro ou de preto?”. Reforço aqui que as questões não são sempre dicotômicas. Nem sempre será “ou isto ou aquilo”, especialmente quando falamos de uma questão tão complexa como as relações raciais no Brasil. É importante estar atento ao uso, ao tom e ao contexto dos termos.
O vocábulo “nego” (leia-se “nêgo”) é importante nesse sentido. Usado entre pessoas negras, muitas vezes ele expressa carinho e proximidade. Principalmente quando acompanhado de “meu” ou “minha”, como em frases como “está tudo bem, meu nego?”. A mesma palavra, quando usada por pessoas brancas, em especial acompanhadas do termo “seu” ou “sua”, pode adquirir tom de agressividade e menosprezo, como em “o que é, sua nega?”, por exemplo. Os sufixos de diminutivo e aumentativo complexificam ainda mais esta questão. O termo “neguinho” pode desejar demonstrar afeto, mas pode também ser usado para ridicularizar e inferiorizar o indivíduo negro, além de falar de um sujeito indeterminado, sem identidade como em “aquele neguinho lá”. O mesmo serve para o aumentativo. “Negão” pode ser usado para exaltar um semelhante ou ser usado, por exemplo, para objetificar a pessoa negra.
Retomando a pergunta “o certo é chamar de negro ou de preto?”, é importante reforçar que chamar alguém pela sua cor e não pelo seu nome desumaniza o indivíduo. Segundo Luísa Mahin, narrada por Ana Maria Gonçalves no já citado livro, “através do meu nome que os voduns iam me proteger”. As palavras e os nomes têm um enorme poder nas tradições africanas e afro-brasileiras. Um indivíduo negro não se chama “Nego”. Também não se chama “Preto”. Nem “Moreno”. E muito menos “Escurinho”. Temos nome, sobrenome, identidade e trajetória.
Para além dos termos utilizados a fim de inferiorizar pessoas pretas, há também os eufemismos, palavras usadas para “suavizar” a negritude de alguém. E, especialmente, para não pronunciar a palavra “negro”, que, para alguns, ainda soa como ofensa ou como um termo que “não cabe em bocas civilizadas”. “Escurinho”, “moreno”, “moreninho”, “marrom bombom”, “pegado na cor” e “mulato” são alguns dos vocábulos usados. “Moreno”, por exemplo, é um termo muito utilizado a fim de trazer ambiguidade e “suavidade” ao debate racial. O “moreno” teria identidade indefinida. O “moreno” não pertence a raça alguma. O “moreno” é o termo-corpo que representaria o sucesso do mito da democracia racial. Por isso, a afirmação de que “a preferência é ser chamada de negona” é tão importante. A autoafirmação e autoidentificação racial foram direitos conquistados por pessoas negras – e que ainda estão em disputa. Assim, quando o tema é raça, não há por que usar eufemismos.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera a categoria racial “negro” como a soma da população preta e parda. Essa definição também foi incorporada ao Estatuto da Igualdade Racial. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019, 46,8% da população do Brasil se autodeclara parda e 9,4% se autodeclara preta. Temos, assim, 56,2% de população negra no país.
Retomando o termo adotado pelo IBGE, trago Mano Brown para nos ajudar a pensar o grupo racial “pardo”:
“Eu sou o mano, homem duro, do gueto, Brown, Obá
Aquele louco que não pode errar
Aquele que você odeia amar nesse instante
Pele parda e ouço funk
E de onde vem os diamantes? Da lama
Valeu mãe, negro drama.”
Pedro Paulo Soares Pereira (mais conhecido como Mano Brown) é um intelectual, rapper e compositor brasileiro de São Paulo. É integrante dos Racionais MC’s, grupo fundado em 1988 que revolucionou a cena do rap nacional. Além de Brown, o grupo é composto por Edi Rock (Edivaldo Pereira Alves), Ice Blue (Paulo Eduardo Salvador) e KL Jay (Kleber Geraldo Lelis Simões). São deles os versos acima, do rap “Negro Drama”, escrito em 2002 para o álbum Nada como um dia após o outro dia.
A pele parda evocada pode causar estranhamento quando lembramos que quem a evoca tem o nome de “Brown”, que significa marrom, traduzindo-se do inglês. Porém, é preciso lembrar que, no Brasil, a maior parte da população negra se autodeclara parda. Segundo o já citado IBGE, pardos constituem o grupo étnico negro. É possível ser pardo e ser “brown” ao mesmo tempo. É possível ser pardo e “ver e viver o Negro Drama”.

“O termo “pardo” expõe o histórico de apagamento e abandono das populações negras e indígenas no Brasil”
Também é importante termos em mente que o termo “pardo” muitas vezes é utilizado para referir-se a populações indígenas. Em ambos os grupos étnicos, precisamos estar atentos aos possíveis apagamentos trazidos pelo termo. Na mesma canção, Brown reforça que:
Daria um filme
Uma negra e uma criança nos braços
Solitária na floresta de concreto e aço
Veja, olha outra vez o rosto na multidão
A multidão é um monstro, sem rosto e coração
[…]
Luz, câmera e ação, gravando a cena vai
Um bastardo, mais um filho pardo, sem pai.
Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é
Sozinho cê num guenta, sozinho cê num entra a pé.
O termo “pardo”, empregado com excelência por Mano Brown há 19 anos, expõe o histórico de apagamento e abandono das populações negras e indígenas no Brasil, ainda que seja essencial quando falamos de políticas públicas e dados oficiais. O Brasil apresenta população negra e indígena em infinitos tons de pele e diferentes contextos sociais, e isto não pode ser esquecido. Autodeclaração é política. Raça é política.
Precisamos observar o que significa “uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço”. Precisamos nos atentar ao que Brown lança luz ao falar de “mais um filho pardo, sem pai”. A miscigenação no Brasil revela um histórico de estupro, misoginia e racismo. É importante nos lembrarmos do consagrado quadro A redenção de Cam, de Modesto Brocos, que apresenta o “produto do sucesso da miscigenação no Brasil”. Ainda e apesar de, estamos aqui.
É preciso ter sensibilidade e olhar historicizado ao analisar as conformações raciais em nosso país. É a partir da categoria negro (junção de pretos e pardos) que conseguimos disputar projetos de nação. É a partir desse grupo racial (negros) que podemos afirmar que o processo de aniquilação total das populações negras – ainda em curso – não vingou no Brasil. A deseducação racial oferecida pelo nosso Estado consiste num projeto de apagamento físico, histórico e epistemológico.
O rap carioca também nos ajuda a pensar a música como ferramenta de reeducação das relações raciais. Em “Favela Vive 2”, o rapper da Cidade de Deus, MV Bill, canta:
Na gaveta gelada do IML
Vários amigos que foram abatido pela cor da pele
Tática inimiga, bota a bala pra comer e menos um nigga
Atiram na nuca primeiro, derrubam certeiro, pra perguntar depois
A cada 23 minutos, morre um jovem negro no Brasil. As ruas têm dito muitas coisas, e um dos dizeres que ouvi recentemente é que ser negro no Brasil é nascer com uma marca na pele. Por vezes mais escura, por vezes mais clara. Mas a pele negra, o corpo negro, ainda é sinônimo de alvo numa sociedade racista.
Movimentos negros contribuíram para a ressignificação de termos como “negro” e “preto”, que foram, ao longo de nossa história, largamente utilizados para referir-se à população escravizada a fim de desumanizá-la, criando, nas populações negras, medo e dificuldade de associar-se à sua própria raça.
Em 1992, o compositor carioca Jorge Aragão compôs “Identidade”, que acabou por se tornar uma espécie de “hino” entre sambistas negros e negras:
Se o preto de alma branca pra você
É o exemplo da dignidade
Não nos ajuda, só nos faz sofrer
Nem resgata nossa identidade
A reflexão de Aragão reforça que necessitamos de um processo de reeducação das relações raciais. Demandamos letramento racial para que encaremos questões como mestiçagem, miscigenação e racismo como projetos criados de forma legalizada pelo Estado brasileiro a fim de fazer vencer a ideia de um país com identidade branca. É essencial que façamos o resgate da nossa identidade levantado pelo sambista. E pela porta da frente. Só assim alcançaremos cidadania plena, como diria a intelectual Azoilda Loretto da Trindade.
A escravidão – legalizada – durou aproximadamente 350 anos no Brasil. O processo foi responsável por trazer cerca de 4 milhões (37% da população de escravizados trazidos para as Américas) de africanos e africanas para o país. Esse processo deixou feridas em nossos corpos, histórias e memórias. Afirmar que temos nome é um caminho para a conquista de nossas subjetividades. Afirmar que “a preferência é ser chamada de negona” em detrimento de termos como “morena” é se levantar diante do apagamento de nossas identidades como população negra. E é desta forma que, acredito eu, daremos continuidade aos caminhos abertos por nossos mais velhos e mais velhas, reconstruindo nossas histórias e buscando um futuro ancestral.