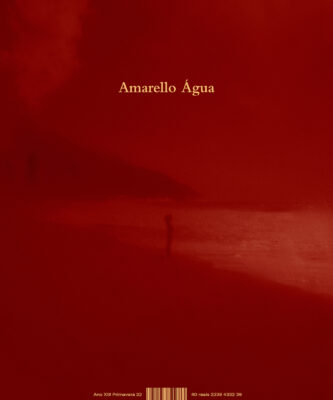Misterioso Rosto
Ninguém é tão parecido assim consigo mesmo. Exemplo casual mas significativo: depois da caracterização de Bruno Ganz (em A Queda! As últimas horas de Hitler), o famigerado teria muito o que aprender para se tornar outra vez parecido consigo mesmo.
Concluído o célebre retrato de Gertrude Stein, como sempre, não faltaram fariseus para reclamar que não estava nada parecido com a escritora. Picasso: não se preocupem, vai ficar.
Giacometti recusava a abstração, mas, evidentemente, desdenhava a mímesis tradicional. Passou a vida buscando, ansioso, o que chamava de ressemblance. Na versão cézanniana do artista, uma espécie de ontologia das aparências, o termo não consente tradução corriqueira. Semelhança, a tradução oficial, é palavra inócua. Só me ocorre um monstrengo: parecença. Algo que liga vagamente tudo a todos; no entanto, exige da parte do retratista a exata particularização. Só assim ele alcança o estatuto de mestre das aparências: o parecençador.
A imagem imobiliza as aparências. Interrompe seu fluxo, fixa uma presença ostensiva. Imagem deriva da imago, a imagem do morto. Desde logo, pertence ao passado. A câmera fluida de Cartier-Bresson, porém, derrota o seu mecanismo: ela não reproduz; produz novas aparências. Por osmose.
Giulio Carlo Argan, o grande historiador de arte italiano, era um crítico ideológico da pop art. Isso não o impediu de acertar na mosca ao definir Warhol como o técnico da imagem. Ele sabia instintivamente que o próprio da imagem é a evanescência, a rápida decrepitude. Por isso a captava sempre no início do declínio, nunca em seu volátil apogeu. Daí a aura de irrealidade que cerca suas Marilyns, sensacionais, meio fora de foco. Daí também a afinidade entre a expressão um tanto parva da personagem e o fetichismo que alimenta o mito das celebridades.
Desconheço, na história da pintura, rosto mais inexpressivo do que o de Filipe IV da dinastia dos Bourbon. Com o perdão de seus descendentes, eu diria que se aproximava bravamente do perfeito pateta. Sequer exibia a feiura agressiva dos modelos de Goya. Pois é, Velázquez transfigurou esse tipo ingrato num conjunto incomparável de telas. Nunca a luz da pintura brilhou tanto, inclusive nos famosos pigmentos negros espanhóis. Moral (meio abstrusa, reconheço) da história: nenhum rosto é tão íntegro assim que não permita descaracterização. O rosto de Filipe IV, felizmente, virou parte da paisagem.
A aproximação entre Shakespeare e Rembrandt é moeda corrente na história cultural do Ocidente. O crítico literário Harold Bloom não fez por menos: nomeou seu monumental volume sobre Shakespeare A invenção do humano. Do mesmo modo, caberia muito bem chamar os autorretratos de Rembrandt “A invenção do rosto”. Pela primeira vez, na civilização cristã europeia, o homem mostrou, à vera, seu rosto pessoal e mortal. Sentimos o halo do frio, ou do álcool, que exala o pintor enquanto pinta. A chama de vida nos retratos de juventude, a amarga e digna sabedoria naqueles de sua velhice. A alma encarna de cima para baixo em Michelangelo; em Rembrandt, a alma encarna de baixo para cima.
Iberê tem um pequeno autorretrato, capa de um dos livros reunindo sua obra, que resume sua trajetória de sulista visceralmente ligado à terra. É de um verde pastoso, acinzentado, com uma tinta espessa e viscosa, enlameada, que vai se revolvendo até plasmar a fisionomia incomum do artista. “Sou um homem da planície”, costumava dizer, isto é, reduzido ao básico, sem o sublime das montanhas, distante do mar atraente ou tempestuoso. Tinta, matéria orgânica.
O que vemos no espelho é uma imagem do passado. Nosso rosto atual jamais coincide com ela. Tanto que está sempre mudando, e não enxergamos o processo. Ninguém conhece o próprio rosto. Estamos à mercê dos outros. O onipresente dito sartriano, contudo, é só uma frase de efeito – o inferno são os outros. Mentira: não conhecemos nenhum dos dois.