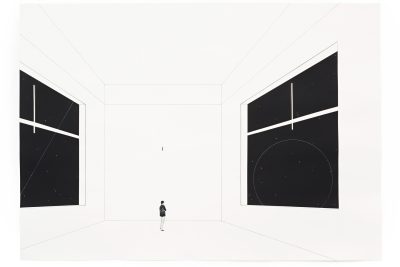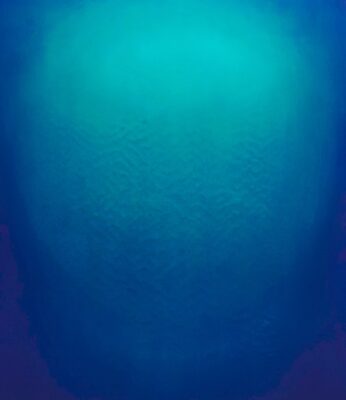Era 13 de janeiro de 1854 em Santo Amaro. Nascia Hilária Batista de Almeida. Desde muito jovem, Hilária já se destacava por seus feitos. Com apenas 16 anos teve papel fundamental na criação da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, no Recôncavo baiano. As irmandades eram organizações que agregavam indivíduos de diversas origens sociais, estabelecendo laços de solidariedade que se organizavam com o propósito de promover a devoção a um santo padroeiro e também para fins beneficentes para os membros que se comprometeram a participar das atividades da irmandade. Os benefícios oferecidos – como assistência em caso de doença, invalidez ou morte – variavam de acordo com os recursos disponíveis na irmandade, sendo proporcionais às posses financeiras de seus membros. Num período de total ausência de direitos e políticas voltadas para as populações negras, as irmandades foram essenciais na garantia da dignidade destes indivíduos. Essa irmandade, que é fundamental nas historicidades negras até os dias de hoje, faz parte do seu legado. Como filha de Oxum, foi iniciada nas tradições religiosas da nação Ketu na casa de Bambochê.

Aos 22 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde construiu uma nova família ao casar-se com João Baptista da Silva, um funcionário público. Segundo relatos históricos, tiveram quatorze filhos. Ela continuou a seguir as práticas e os ensinamentos religiosos na casa de João Alabá, onde foi Mãe Pequena. Hilária passa a ser conhecida por outro nome. E, assim, firma-se o legado cultural e religioso de Tia Ciata.


Ciata finca raízes na região que hoje conhecemos como centro do Rio de Janeiro. Morando primeiramente na Pedra do Sal, passando pelo Beco João Inácio, posteriormente residindo no número 304 da Rua da Alfândega, com passagens pelas ruas General Pedra e Rua dos Cajueiros. Entre 1899 e 1924, residiu na Rua Visconde de Itaúna. O centro da cidade do Rio de Janeiro tem muito de Ciata. Durante esse tempo, ela desempenhou um papel crucial na solidificação do samba carioca e tornou-se uma figura de destaque nas comunidades negras da Pequena África e do Rio de Janeiro como um todo.



Ciata desempenhou um papel crucial como uma das tias baianas pioneiras na introdução da tradição das baianas quituteiras no Rio de Janeiro. Essas mulheres, as tias baianas, foram responsáveis por estabelecer esta tradição e por uma estética própria e africanizada, com suas roupas coloridas, colares, contas e pulseiras enquanto mantinham uma base sólida religiosa e política que permeava suas atividades. Foi nos quintais de baianas como Tia Ciata que nasceu o samba, e nesses mesmos espaços eclodiram movimentações culturais e simbólicas que forjaram identidades negras na diáspora brasileira. Considerado o primeiro samba, “Pelo telefone” foi composto numa roda de samba no quintal-terreiro de candomblé de Tia Ciata.


O século XX teve seu início marcado por uma grave crise habitacional. A população aumentou, e a quantidade de habitações não. Nessa equação, os mais fragilizados faziam parte da população de baixa renda. Isso resultou no aumento constante da superlotação e na interferência das casas alugadas. A ausência de habitações populares a preços acessíveis forçou uma grande parcela de trabalhadores com baixo poder aquisitivo a viver em condições insalubres e precárias, amontoados em casas e cortiços no antigo centro da cidade. Essas eram habitações coletivas que tinham deixado uma marca profunda na paisagem urbana da cidade ao longo do século XIX, sendo alvos da chamada “ação modernizadora” da República. A localização central desses cortiços despertou grande interesse entre os setores envolvidos na especulação imobiliária, que viram ali uma oportunidade de negócios lucrativos. Além disso, as teorias higienistas viam nos cortiços a grande causa para epidemias de doenças respiratórias, contagiosas e toda sorte de má saúde que assolava a cidade. Era um caso evidente de racismo e preconceito de classe mascarado de política pública de saúde e urbanização.
Segundo essa perspectiva, dos cortiços emanavam não apenas doenças e epidemias, mas também indivíduos desocupados, dependentes químicos, praticantes de jogos de azar, delinquentes, pessoas embriagadas e “marginais”. Consequentemente, esses locais eram vistos como territórios perigosos, habitados por indivíduos com potencial para representar ameaças. Assim, era necessário traçar estratégias para conter essa população e os efeitos por ela causados na cidade. Começa o processo de erradicação das habitações populares por meio de sua remoção física e deslocamento de seus moradores da área central da cidade. O primeiro alvo da ação de demolição da modernização republicana foi o famoso cortiço conhecido como “Cabeça de Porco”. Situado na Rua Barão de São Félix, era o maior cortiço da cidade. Os cortiços e seus moradores deveriam abrir espaço para a construção de amplas avenidas destinadas ao trânsito comercial e para a edificação de novos edifícios de escritórios, armazéns, cafés, teatros e cinemas. Porém, não houve preocupação com os novos locais de moradia desta população e nem foram propostas políticas de longo prazo para resolver as questões de habitação no Rio de Janeiro.



Assim, famílias inteiras que precisavam manter-se próximas da região central para trabalhar, começaram a subir os morros. Como os moradores tinham as mesmas origens dos que habitavam os antigos cortiços – é importante notar a carga de preconceito embutida em toda essa “História” – os estigmas subiram o morro também. Então, para as elites, era imperativo exigir a luta que havia começado contra os antigos cortiços, uma vez que o “adversário” – ou seja, as “classes perigosas” – permanecia o mesmo, apenas se manifestando em maneira e localidade diferentes. Começa assim uma série de movimentos, às vezes incisivos e diretos e por vezes ambíguos, para “resolver o problema das favelas”. Um que merece destaque foi promovido pelo prefeito à época: Pedro Ernesto. Ele foi um dos pioneiros em adotar uma política de aproximação com as favelas e seus moradores, registrando as dificuldades enfrentadas e, ao mesmo tempo, buscando capitalizar politicamente a partir dessas mesmas adversidades. Um exemplo disso: Pedro Ernesto tinha pelo menos 100 afilhados em várias favelas da cidade e se colocava como uma espécie de intermediário entre os interesses dos moradores de favelas e o governo. Esse mesmo Pedro Ernesto foi figura emblemática e importante para pensarmos a história das baianas no Brasil.
A partir de 1929, o poder público começa a organizar o carnaval popular, que acontecia em periferias da cidade e também era visto como manifestação cultural das ditas “classes perigosas”. Cortiço, favela, carnaval e baiana têm muito em comum. Nesse processo são definidas as rotas dos desfiles, o apoio financeiro às associações, bem como a criação de estatutos e regulamentos para a distribuição desses fundos, e é nesse contexto que se firmam no âmbito carnavalesco figuras como a baiana e o malandro. Em 1933, o prefeito Pedro Ernesto criou a ala das baianas nas escolas de samba, através de decreto de lei. Assim, ela passa a ser oficialmente incorporada aos desfiles das escolas de samba. Desde então, o grupo de baianas passa a ser elemento significativo que dialoga entre a tradição e as inovações dos carnavais das escolas de samba. Essa ala carrega não somente uma tradição carnavalesca. Ela simboliza também um pedaço da história do Brasil e apresenta um repertório estético específico.
O uso do termo “baiana” para se referir às mulheres negras trabalhadoras da Bahia começou a surgir no final do século XIX e foi associado mais ao estilo de vestimenta de origem africana e às tradições culturais que essas mulheres mantinham, como suas crenças em religiões afro-brasileiras e habilidades culinárias, do que à sua procedência geográfica. As baianas extrapolaram as fronteiras de cidades, estados e países. A representação da baiana é formada por elementos visuais que se relacionam com a variabilidade de contextos sociais e históricos.



O traje tradicional da baiana, tal como conhecemos atualmente, é composto por diversos acessórios e elementos visuais diversos, incluindo uma saia longa e redonda, que por vezes esconde uma anágua ou armação. Saia essa enriquecida com rendas, turbante ou torço na cabeça, pano da costa, batas rendadas e balangandãs. Essa vestimenta é uma evocação às roupas usadas pelas “tias baianas”, mulheres que migraram da Bahia para o Rio de Janeiro com suas famílias, muitas das quais eram vendedoras de acarajé e iguarias, e que estabeleceram comunidades com sua própria expressão cultural nesse novo ambiente e fizeram brotar, em seus quintais, ervas, incidência política e muito samba.
Assim como o primeiro samba, “Pelo Telefone”, o Império Serrano nasce na casa de uma mulher negra, liderança local, Dona Eulália do Nascimento. Fundou-se em 23 de março de 1947, durante uma reunião na Rua Balaiada, número 142, no Morro da Serrinha.


A agremiação surge de uma dissidência da escola de samba Prazer da Serrinha. Entre os seus fundadores há nomes essenciais no cenário do samba carioca como Sebastião Molequinho, Elói Antero Dias, Mano Décio da Viola, Silas de Oliveira, Aniceto Menezes, Antônio dos Santos (Mestre Fuleiro) e Eulália do Nascimento. O nome “Império Serrano” foi sugerido por Sebastião Molequinho e faz alusão ao Morro da Serrinha. As cores da escola, verde e branco, foram escolhidas por Antenor Rodrigues de Oliveira. O símbolo do Império é a Coroa Imperial Brasileira. São Jorge é reverenciado como o santo padroeiro da agremiação.
E é essa miscelânea que nos leva à Avenida Edgard Romero, 114, em Madureira, no Rio de Janeiro. Lá, Geni Lopes, presidente da ala das baianas, recebe-nos com sorriso e braços abertos. Chegar ao Reizinho de Madureira – forma carinhosa de chamar o Império Serrano – e ser recebida pelas baianas é como mergulhar num mar verde e branco. Cheio de histórias, movimentos, cheiros e sorrisos. As baianas são o coração de qualquer Escola de Samba, e no Império Serrano não é diferente. São senhoras, idosas, mães, avós, tias que carregam a ancestralidade e o axé do samba. A ala teve muitas personagens emblemáticas como Jovelina Pérola Negra, Tia Maria do Jongo e Dona Ivone Lara. Segundo Marta D’Oyá, baiana do Império:
“A baiana é a mãe do samba e o Império sempre foi uma escola democrática, cantando a democracia. Nós tivemos mulheres importantíssimas na ala das baianas. Se estamos aqui é porque essas mulheres botaram o pé. Elas foram pastoras da escola, foram baianas. O samba só era aprovado quando passava pelas pastoras. Pastoras e baianas sempre andaram lado a lado. A religiosidade que existe aqui é muito forte. Isso tem que ser falado.


”Assim, agradecemos as Yabás Dalva Reis (59 anos), Sônia Conceição (68 anos), Lucia Iara (65 anos), Márcia Helena (60 anos), Marta D’Oyá (56 anos), Lucimar da Silva (61 anos), Maria de Lourdes (67 anos), Maria Elisabeth (75 anos), Maria Lúcia (74 anos), Sandra Maria (69 anos), Regina Antunes (79 anos), Vera Lúcia dos Reis (68 anos), Vera Lúcia Cunha (61 anos), Geni Lopes (57 anos) e Vera Lúcia do Nascimento (76 anos). São essas algumas das guardiãs do samba imperiano e, mais do que isso, guardiãs da história, do tempo e da memória daquelas que plantaram a semente da cultura brasileira.