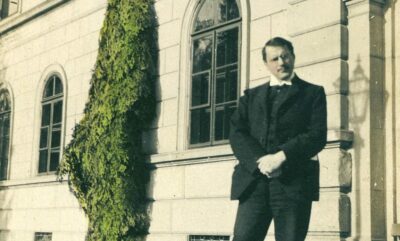Em 1994, época em que era candidato à presidência, Fernando Henrique Cardoso causou polêmica ao declarar em entrevista: “Tenho um pé na cozinha. Eu não tenho preconceito.” A fala faz referência à origem mulata de Cardoso e foi uma resposta às provocações de que ele governaria com “mãos brancas”. Na lógica da afirmação, dita por alguém que viria a governar o país por dois respeitosos mandatos, cozinha e população negra são praticamente sinônimos. O enraizamento da ideia é tão aprofundado que ultrapassa contextos informais e vira recurso linguístico para quem for. Considerando o emblemático caso, pensemos — o que representa a cozinha na história do trabalho de mulheres negras no Brasil?

No livro Um pé na cozinha: Um olhar sócio-histórico para o trabalho de cozinheiras negras no Brasil, de Taís de Sant’Anna Machado, “a cozinha é uma metáfora para entender o lugar e o papel essencial de mulheres negras na história brasileira e o esforço sistemático de invisibilização de sua importância por parte das elites e de autoridades governamentais”. O fio condutor da obra, analisado às minúcias, é o trabalho culinário doméstico e profissional como um recurso de ação social e política, considerando a criatividade que essas trabalhadoras empregam para construir e manter laços familiares e comunitários em prol da sobrevivência. Adaptado da tese de doutorado da socióloga, Um pé na cozinha é uma impactante investigação dos processos de profissionalização dessas mulheres na cozinha doméstica do pós-abolição até a gastronomia contemporânea.
É a partir de processos históricos e trajetórias individuais, tendo como base registros documentais e entrevistas que realizou com cozinheiras e chefs negras, que Taís constrói um panorama da resistência de mulheres negras. Ao longo de 400 páginas — lançadas em cuidadosa edição da Editora Fósforo —, expõe as dinâmicas de poder que se estabelecem entre patrões brancos e cozinheiras negras que permitem a manutenção do estilo de vida das classes média e alta do país em detrimento da qualidade de vida de mulheres que trabalham em condições exaustivas, precárias e miseravelmente remuneradas.
“Considero a expressão ‘um pé na cozinha’ elucidativa da naturalização da presença de pessoas negras nesse lugar, bem como da efetividade de narrativas que romantizam as condições desse trabalho e de suas vidas — e de como o racismo antinegritude opera no Brasil.”
Entre os capítulos — divididos em uma parte I e uma parte II —, a autora detalha algumas histórias que, por ilustrar tão bem os pontos do livro com nada mais do que a realidade, chegam a pesar nas entranhas de quem está lendo. São trajetórias arrebatadoras de cozinheiras importantes na construção da culinária brasileira, relatos de feitos que, infelizmente, não figuram com o devido destaque nas narrativas mais consumidas na gastronomia (nem aqui e nem em nenhum lugar). É o caso, por exemplo, de Bené Ricardo, a primeira mulher no Brasil a conseguir se profissionalizar como cozinheira — mulher, e mulher negra. Ao ler as idas e vindas da cozinheira, fica clara a construção de um campo gastronômico brasileiro no século 21 e o (não) lugar reservado às cozinheiras negras. O talento inquestionável de Benê, e o de tantas outras, nunca poderia ser maior do que a narrativa colonial, misógina e racista constantemente ratificada com brutalidade ao longo de nossa história.
Reflexão, dor e provocação — esse é Um pé na cozinha, um livro para lá de necessário.
Confira a nossa conversa com Taís de Sant’Anna Machado.
Em termos de representação do racismo multiestrutural que trespassa, e perfura, toda a história brasileira, poucas coisas são tão palpáveis quanto a figura da cozinha. A gênese dessa tese, agora transformada em livro, vem um pouco daí, dum desejo de apontar aquilo que acontece em cada e de, a partir daí, ampliar a ideia de como isso acontece em cada esquina, de todas as cidades, desde sempre?
Taís de Sant’Anna Machado: Um dos objetivos do livro é exatamente mostrar como a cozinha é um dos espaços mais importantes para entender as hierarquias raciais, de gênero e de classe que estruturam a sociedade brasileira. Assim, uma parte da história é evidenciar, a partir da cozinha, o lugar e o papel essencial de mulheres negras na história brasileira e o esforço sistemático de invisibilização de sua importância por parte das elites e de autoridades governamentais. Ao mesmo tempo, como a manutenção do estilo de vida e da alimentação das classes médias e altas, majoritariamente brancas, depende (e sempre dependeu) do trabalho culinário de mulheres negras em condições primeiramente escravizadas e, mais tarde, precárias, violentas e miseravelmente remuneradas. Nesse sentido, sim, a intenção do livro é utilizar a cozinha para mostrar como o funcionamento da sociedade brasileira se fundamenta na exploração econômica e na violência contra a população negra, como é o caso das cozinheiras negras.
Escrito em meio à pandemia e também, de um jeito ou de outro, sobre a pandemia, já que o livro comenta a amplitude de suas consequências especialmente para as trabalhadoras negras. A intensidade de sensações proveniente de escrever no “calor do momento” e a celeridade dos fatos novos que iam, e vão, aparecendo a cada dia impactaram a sua produção de que jeito?
TSM: Como socióloga, aprendi desde o começo com outras pesquisadoras negras que o tempo em que vivemos afeta a nossa produção intelectual. No caso de uma pandemia, era algo ainda mais evidente, uma vez que toda a minha existência, durante o processo de escrita, foi impactada por esse momento histórico. Mas isto ia para muito além de mim. Um exemplo disso era que enquanto eu ouvia parte da classe média sugerir que a solução para o contágio era ficar em casa, e pedir a entrega de comida e afins, era inevitável pensar que, para isso, cozinheiras majoritariamente negras teriam de sair de suas casas para atender essa demanda. Ou também o caso de alguns estados e municípios que incluíram o trabalho doméstico no rol de trabalhos essenciais na pandemia, e que recuaram apenas pela pressão da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad) sobre o Ministério Público do Trabalho. A pandemia expôs ainda mais as desigualdades raciais, de gênero e de classe da sociedade brasileira, e os dados estatísticos apontam que mulheres negras foram um dos grupos que mais sofreram com suas consequências — estudos têm mostrado como a taxa de mortalidade de trabalhadoras negras por Covid-19 foi maior do que o de qualquer outro grupo em ocupações que exigem menor grau de instrução.

A expressão que dá nome ao livro — “um pé na cozinha” —, à exemplo de tantas outras, elucida a antinegritude que opera há tempos no Brasil. É o discurso dando forma e propagando preconceitos. No meio das infinitas pautas em prol da quebra das estruturas racistas, símbolos de um país que ainda tem muito a reparar, a correção linguística consegue ter o fôlego que deveria?
TSM: O título do livro não se propõe a ser uma correção linguística. A intenção é a de mostrar como a expressão reflete muitas camadas de sentido da história. A primeira que destacaria é o uso corriqueiro – e racista – da expressão, que é muito utilizada por pessoas brancas para defender uma ancestralidade negra e negar sua brancura. A segunda camada de sentido, que se articula e em certa medida responde a esse uso cínico da história da presença de mulheres negras na cozinha, é mostrar como essa expressão, usada de maneira leviana, esconde as condições de trabalho exaustivas, precárias, miseravelmente remuneradas e, não raro, marcadas por episódios de violência sexual. Além disso, também parece ignorar a discriminação e exclusão de mulheres negras no mercado de trabalho que, com base em uma política racista de “boa aparência”, confinou essas trabalhadoras à cozinha (e a outras funções do trabalho doméstico e do trabalho informal). E a terceira camada que defendo, e a mais importante, é que, a partir desse confinamento à cozinha, mulheres negras constroem repertórios de conhecimento culinário, redes de sociabilidade, de apoio e de afeto, além de projetos de disrupção de suas condições de vida.
Você fala sobre um “passado irrecuperável” quando explica o porquê de usar a fabulação crítica, expandindo algumas histórias contadas pela metade por falta de documentação. Seria essa uma ferramenta benéfica, até central, para muitas das revisitas históricas que precisamos fazer?
TSM: Uma vez que a história e as perspectivas de cozinheiras negras são consideradas como algo menor, ou mesmo irrelevante, como parte do racismo antinegritude que também afeta as políticas de arquivo e de produção de conhecimento, a fabulação crítica pode ser a única opção possível para parte do trabalho histórico. No entanto, ainda há muitos registros históricos que precisam ser revisitados ou considerados, especialmente a partir de um olhar que considere a agência e a percepção crítica de cozinheiras negras, algo que historiadores negros e/ou antirracistas tem feito nas últimas décadas, tanto no Brasil quanto no exterior.
Pego um gancho de um trecho citado no livro, se não me engano do Robert Kelley, que diz: “A aparência do silêncio e da passividade não só enganou, mas frequentemente teve a intenção de enganar.” Você mesma arrebata e diz que esse “anonimato delas, no entanto, não implica aquiescência”. Nos moldes de hoje, considerando até redes sociais e que tais, como isso se dá? Se é que se dá. Estamos andando para frente?
TSM: Meu trabalho não trata de redes sociais, mas, como eu discuto no livro, penso o racismo como uma tecnologia que se atualiza constantemente, como definido por Ruha Benjamin. E, quando se fala de redes sociais, é preciso considerar que mulheres negras são as principais vítimas do discurso de ódio nestes espaços, como mostra o estudo de Luiz Valério Trindade. Nesse sentido, o que eu diria é que mulheres negras continuam precisando se proteger e se guardar em espaços violentos como a Internet e, assim, que isso continua acontecendo em razão do racismo antinegritude e da misoginia.
As figuras de Dona Benta e Tia Nastácia são particularmente cruéis quando pensamos que estão presentes em obras infanto-juvenis, cujo teor tem o caráter formativo como intrínseco. Ou seja, as ideias de Monteiro Lobato representadas nas duas, de um jeito ou de outro, seguirão sendo passadas adiante através da popularidade do Sítio do Picapau Amarelo. Qual é o melhor jeito de ir contra marés canônicas que carregam ideias ultrapassadas? As “reflexões iniciais” de Um pé na cozinha, para usar o mesmo termo que você, são um caminho?
TSM: Eu diria que o melhor jeito de combater o racismo na literatura é difundir o trabalho de intelectuais negros e negras, que não recebem o mesmo espaço que esse autor e nem ao menos o mesmo destaque que o debate em torno do racismo de sua obra. Quanto a esse autor, por exemplo, são diversas as contribuições críticas de ativistas, pesquisadores e pesquisadoras negras, e Um pé na cozinha é só uma pequena contribuição a essa corrente.

Você permeia os capítulos com interlúdios, como os de Maria de São Pedro e Benê Ricardo, cozinheiras negras que quebraram todo tipo de barreira, mas que, mesmo assim, viveram sob a vigia constante da violência racial fora e dentro de seus contextos profissionais. Histórias como essas inspiram ou, infelizmente, mais expõem o quão arraigada está a sistemática antinegra?
TSM: Como eu defendo no livro, não se tratam de histórias meramente inspiradoras ou de mostrar apenas como o racismo antinegritude afeta todas as camadas da vida de mulheres negras, e sim o de entender a complexidade de suas formas de agência e de resistência considerando esse contexto. Nesse sentido, são histórias grandiosas ao mesmo tempo em que expõem as condições impossíveis de sobrevivência a que foram submetidas em razão do racismo e do sexismo. Uma coisa não se dissocia da outra.
Um aspecto importantíssimo do seu trabalho é ilustrar a continuidade dos problemas com histórias de cozinheiras negras reais. Como foi esse processo de entrevistas e pesquisas?
TSM: A intenção do livro é mostrar como existe uma história de longa duração das condições de trabalho e de vida de cozinheiras negras. Na verdade, esse processo aconteceu de trás pra frente: a tese seria sobre chefs de cozinha negras, então as entrevistas foram o primeiro material produzido para a pesquisa. No entanto, a análise do material descortinou experiências de trabalho que eu não parecia encontrar ferramentas teóricas ou metodológicas adequadas para explicar nos estudos do campo da gastronomia. E, assim, foi necessário voltar um pouco mais no tempo e produzir uma análise sócio-histórica do trabalho culinário feminino e negro no Brasil — algo muito mais ambicioso do que eu havia previsto inicialmente. Sem pensar nessa história criticamente, como um contraponto ao caráter romantizador sobre o papel de cozinheiras negras e de suas condições de trabalho — que ainda é bastante comum em estudos da área de alimentação — não seria possível entender as experiências contemporâneas das chefs de cozinha e cozinheiras profissionais negras que entrevistei. E foi assim que as chefs se tornaram uma parte do trabalho, em uma história de longa duração do trabalho íntimo, invisibilizado e essencial de mulheres negras na cozinha.
O que você acha da ideia — ilusão? — do brasileiro como um povo cordial que celebra a sua miscigenação?
TSM: Essa ideia é parte de um projeto de nação que busca manter a estrutura de exploração econômica e de violência racial contra pessoas não-brancas. A cozinha é um dos espaços utilizados por essa narrativa racista, como discuto no livro.