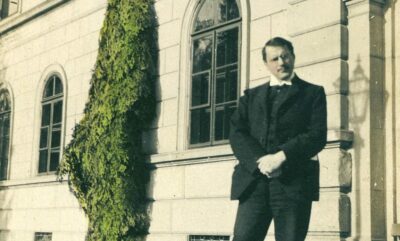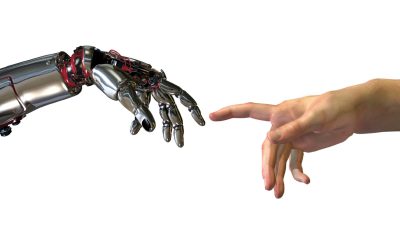Dizer que algo ou alguém é criativo — via de regra — é um elogio. Dentre os elogios, aliás, é dos mais lisonjeiros, digno de fazer com que rostos fiquem enrubescidos. Isso porque a criatividade ganhou uma importância monumental, um tanto por oportunismo mercadológico e político, outro tanto por um rol de gritos presos na garganta de uma ou duas gerações.

Toda essa relevância, de tão imensa, faz com que esqueçamos, ou sequer comecemos a pensar, que a criatividade como a entendemos é, na verdade, uma noção relativamente nova. Muito se debate sobre de onde ela vem — é inata, cultivada, uma combinação dos dois? —, porém antes de entrar em tais méritos é pertinente definir o que é a criatividade. A questão não é tão simples quanto aparenta. O que logo vem à cabeça, claro, é aquela força motriz capaz de produzir arte, que, por sua vez, é o epítome de um “pensamento fora da caixa”, também alardeado como uma característica louvável para qualquer pessoa. O ser criativo, então, é comumente associado a todo tipo de criação artística. Certo. No entanto, o conceito pode ir muito além: desde atividades que se apropriam de técnicas e dão outro propósito para as artes, à exemplo do que fazem as agências de publicidade, passando pelo mercado financeiro e chegando — por que não? — em consultórios médicos.
Dá para criar um layout, fazer um investimento e receitar um remédio, tudo dentro do mesmo campo, que, de acordo com o Dicionário Houaiss, pode ser definido como “inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no científico, esportivo etc.” — e não necessariamente com um sendo mais criativo do que o outro.
No fim, criatividade lato sensu é também aquela solução arrojada para qualquer que seja a bricolagem de domingo, do mesmo jeito que é aquele caminho inusitado mas efetivo até a estação de metrô mais próxima. Ou será que, nesses casos, já estamos falando de outra coisa? Muito embora o Houaiss tenha uma leitura mais ampla, é verdade que esses tipos de soluções cotidianas não são tão valorizadas como as de cunho artístico e as de caráter corporativo. Isso quer dizer que vêm de um lugar diferente ou é somente mais uma construção cultural? Difícil dizer.
Voltemos algumas décadas.
Os primeiros estudos sobre a criatividade foram realizados por psicólogos, como William James (1842-1910) e Alfred Binet (1857-1911), que buscavam entender como as pessoas criavam ideias novas e originais. Mas o conceito de criatividade, como essa manifestação quase divina que conhecemos hoje, surgiu nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. O que a princípio era mais um objeto de estudo reservado ao campo da psicologia logo se proliferou para inúmeras outras áreas. Como a medição de atributos mentais era importante nas abordagens da época, numa visão extremamente rasa do que era ou poderia ser a criatividade, depois de pesquisas psicólogos sugeriram que as pessoas mais criativas tinham pensamento divergente e tolerância à ambiguidade, além de preferirem arte abstrata e imagens assimétricas. No entanto, esses estudos pareciam condicionados a atribuir o dom da criatividade principalmente às classes mais altas, já que elas eram privilegiadas o suficiente para, a partir da instrução que tinham, elaborar interpretações de mundo um tanto mais complexas — compreendidas à época como sinais de inventividade.
Mas a tentativa de justificar a criatividade por meio de uma causa psicológica somada à predisposição a fazer vista grossa diante dos diferentes níveis de escolaridade aprisionou a comunidade dos pesquisadores em um vai-e-vem tautológico. Os sintomas levavam às causas e as causas levavam aos sintomas. A frustração foi inevitável.
Enquanto isso, um pouco depois de 1945, a criatividade fervia no caldo de outros contextos. As organizações do pós-guerra — não só empresas, mas até mesmo as forças militares — valorizavam novas maneiras de pensar e agir. Não muito mais tarde, o pós-guerra virou a Guerra Fria e a competição com os soviéticos, estimulada pela ansiedade sobre uma lacuna tecnológica, levou o país a buscar melhores maneiras de obter o máximo de seus recursos humanos. Enquanto a URSS oferecia uma vida monocromática, cujos valores mais fechavam portas do que abriam, os estadunidenses fizeram de tudo para se mostrar como o contraponto colorido e cheio de possibilidades. A propósito, apesar de acontecerem ao mesmo tempo, as demandas de negócios surgiram independentes das pesquisas psicológicas, como resultado de um momento específico de um país que precisava chacoalhar a maneira com a qual crescia economicamente e culturalmente.
O american way of life ainda era relevante, mas já não pulsava com a mesma força. Os EUA eram a terra da criatividade e dos sonhos (“the land of the free and the home of the brave”, como proclama o hino); a URSS, por outro lado, era a representação da existência sem imaginação.
Para se ter uma noção, em 1956 o número de trabalhadores de colarinho branco (que não envolve trabalho físico) excedeu o número de trabalhadores de colarinho azul (que envolve trabalho físico) pela primeira vez na história norte-americana. O momento pode ser resumido em uma palavra: consumismo. Como nunca se tinha visto antes. E não demorou para que o fenômeno atingisse escala global.

No centro dessa revolução, o que borbulhava era a capacidade de incutir inventividade em soluções mercadológicas. Novas ideias mudariam o mundo. Como a criatividade está ligada ao conceito de autenticidade, ela é, em sua essência, um meio de autoexpressão. Numa época em que a dicotomia ressoava com vigor pelos alto-falantes dos noticiários e pelo lero-lero da vizinhança, valorizar a individualidade era valorizar a liberdade. A indústria que, com unhas e dentes, mais se agarrou à insurgência do “criativo” para glamourizar o seu modus operandi foi a da publicidade. Nas décadas de 1950 e 1960, as agências de publicidade abandonaram toda e qualquer ingenuidade na hora de anunciar um produto, substituindo-a pelo branding, termo repetido à exaustão na atualidade e que, apesar de naqueles tempos ainda estar em fase de engatinhar, era uma ideia que engatinhava às pressas. Eles não estavam mais vendendo um produto, estavam vendendo uma ideia sobre um produto. Os argumentos agora tinham ares de abstração e projeção, deixando para trás o simplório “este produto faz xis coisas e por isso você deveria comprá-lo” para preconizar o “este produto representa algo para o seu status social e fará com que você se sinta bem consigo mesmo”.
A apresentação sedutora e persuasiva dessa lógica ficava a cabo dos Don Drapers da época, símbolos de uma agitação sociocultural que ainda ecoa (as Peggy Olsons, infelizmente sabemos, eram minoria).
No entanto, à guisa da precisão conceitual, não é verdade que o glamour e o prestígio do artista estavam relacionados a uma crença popular de que esses Artistas, com “A” maiúsculo, não se interessavam por coisas mundanas ou práticas? De que se tratavam de mentes que funcionavam por outros parâmetros e era isso o que as tornava especiais? Sim. Mas o contrasenso era benéfico. A criatividade levada ao ambiente de trabalho era boa para os negócios, aumentava a produtividade e fazia mais e mais dinheiro. Os negócios, no fim do dia, poderiam cooptar a reputação das artes plásticas e literárias, conectando a alegria da criação a uma boa renda. Artistas emprestavam o seu know how, mandachuvas preenchiam cheques que não lhe fariam falta: satisfação de ponta a ponta. Uma transação perfeita. Foi o melhor dos dois mundos.

Curiosamente, o ponto de partida para tal aceleramento do consumismo e a construção de impérios propagandísticos foi a contracultura. Os valores contraculturais que protestavam contra a Guerra do Vietnã e erguiam a voz pelo movimento dos direitos civis — para além do “paz e amor” e dos dedos em V pelos quais costumam ser reconhecidos — revelaram-se inteiramente compatíveis com o capitalismo de consumo na era da informação. O culto à criatividade do pós-guerra foi impulsionado pelo desejo de transmitir à ciência, à tecnologia e à cultura de maneira geral algumas das qualidades reivindicadas pelos artistas, como o inconformismo, a paixão pelo trabalho, a humanidade perante à sociedade, a sensibilidade moral e, claro, talvez acima de tudo, o gosto pelo novo. Esbarramos, então, em outro aparente paradoxo. É do capitalismo, o vetor-mor do consumismo, que nasce a criatividade movedora de montanhas. Mas ela não existe só de uma maneira que faz as engrenagens girarem, alimentando as máquinas que produzem dinheiro sem parar, ela se manifesta também como um meio de fuga da austeridade do próprio sistema que a pariu.
Em meio a realidades cada vez mais rígidas, a criatividade ganha ares de romantismo. O termo escapa até hoje de uma definição clara por promover justamente a ampliação de ideias e o questionamento de verdades absolutas, permitindo que todos os tipos de pessoas e instituições o tomem como uma solução para os seus problemas, desde a monotonia corporativa até o declínio urbano. Considerando o quadro, nada poderia ser mais justo. Talvez flanar sobre contradições seja o grande poder da criatividade.
Como um dos principais valores da sociedade, há quem diga que a criatividade é o nosso grande diferencial enquanto humanos. Na medida em que as inteligências artificiais se aperfeiçoam, a criatividade é a nossa única vantagem competitiva (ao menos por enquanto). Estima-se que empregos de execução mais mecânica serão progressivamente perdidos para a tecnologia, o que quer dizer que exercer a individualidade será mais necessário do que nunca para sobreviver em qualquer mercado de trabalho. A guerra entre criador e criatura já começou e o alento é que a mesma criatividade que ajudou a desenvolver IAs é também a que, possivelmente, vai vencê-las — outro paradoxo?
O tempo do conhecimento — puro, simples, factual — está com os dias contados. Se as ferramentas de busca já vinham cavando essa cova, o Chat GPT e seus congêneres chegaram para jogar a pá de cal. O que fazer, então? Coloquemos a imaginação para jogo. Sejamos complexos, contraditórios, únicos, com um pé no sistema e outro na revolução. Responder “o que é a criatividade” não é possível — ou mesmo interessante, partindo de um ponto de vista mais filosófico e menos de dicionário. Refletir sobre de onde ela veio ajuda a entender o momento em que estamos, mas, inevitavelmente, o pensamento morre na praia. Agora, saber que há um sem-fim de mundos habitáveis aos quais as criatividades, com ésse no final, podem nos levar? Isso tem um potencial multiplicador.
E nada é mais criativo do que abrir páginas em branco, lotadas de possíveis definições.