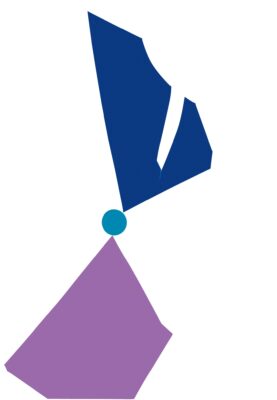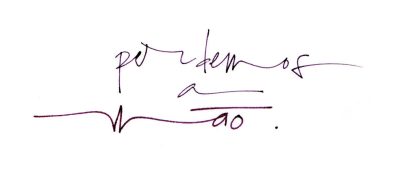Cuidado com a língua
1
Entre os anos 1990 e 2000, li muitas vezes textos bem-humorados que tratavam de questões da língua portuguesa, falando sobre curiosidades regionais ou apontando as formas “corretas” de falar determinadas palavras ou de estruturar certas frases. Nesse período, saber Português (com letra maiúscula) estava muito associado, no imaginário comum, a ser um profundo conhecedor da norma culta e de seu compêndio infinito de regras e, com especial triunfo, de exceções. O debate público contemporâneo, porém, tem substituído essa perspectiva predominantemente normativa por um questionamento permanente sobre o caráter ético e político de certas palavras e sobre o sentido social das variações e dos preconceitos linguísticos.
2
Não é que o estudo da norma não seja importante, afinal, é ela que dá estabilidade à língua e, sobretudo, acesso a uma quantidade expressiva de textos que pertencem à cultura erudita, além de ser um recurso importante de legitimação discursiva. No entanto, há um salto importante quando entendemos que essa norma não é neutra, pois também está marcada socialmente: ela reflete a normatividade de grupos sociais de prestígio, especialmente centrada em elementos culturais das elites, com seus devidos atravessamentos de raça e gênero, isto é, da cultura branca europeia e urbana e do gênero masculino heterocisnormativo. Tal como na política, as minorias são maiorias; há sempre muito mais gente fora da norma do que dentro. Além disso, a própria norma culta move-se, embora mais lentamente, mas sempre na direção de só assimilar as variações que esses mesmos grupos de prestígio incorporam. De outro lado, as variantes utilizadas por grupos sem prestígio social são associadas ao erro, à ignorância, à falta de educação e de cultura.
3
Cultura é um conjunto de costumes, crenças, valores e conhecimentos que um grupo cultiva, estimula, conserva, passa de geração em geração. E, é claro, cada um dos estratos sociais tem sua cultura. As narrativas, as canções, os entendimentos de mundo, os saberes da cidade e os usos linguísticos que compartilham nunca representam falta de cultura, mas seu justo oposto: a preservação de uma cultura, outra. Os preconceitos linguísticos não são inerentes aos fenômenos linguísticos; eles são fruto de preconceitos culturais que, por sua vez, estão amparados em preconceitos sociais.
4
Em célebre texto, a cientista social Lélia Gonzalez defendeu a existência do “pretoguês” ao analisar as relações de racismo e sexismo na “Améfrica Ladina” (o trocadilho é dela também). Essa América, africana e astuta, teria sabido desde sempre resistir aos processos colonizatórios, subvertendo os dados culturais e linguísticos impostos. Assim, o rotacismo do “l” para o “r” (como em “probrema”), a falta de flexão nominal no substantivo (“as pessoa”), a falta de concordância com o verbo (“eles vai”), a dupla negativa (“não vou, não”) e tantos outros fenômenos linguísticos podem ser relacionados a processos de africanização da língua portuguesa. Ou seja, a contribuição linguística de povos africanos vai muito além de questões de vocabulário: está na fonética e também na morfossintaxe. Assim, isso que é estigmatizado como “erro de português” pode ser lido como um acerto anticolonial: a persistência de formas de falar é justamente a resistência de formas de ser e de existir no planeta.
5
Os caminhos da língua são ardilosos. Lembremos o clássico debate sobre o caráter racista da marchinha “O teu cabelo não nega”, de Lamartine Babo, que diz: “O teu cabelo não nega, mulata / Porque és mulata da cor / Mas como a cor não pega, mulata / Mulata, eu quero o teu amor”. A discussão passa pela semântica do verbo “pegar”, que parece empregado aqui no sentido de “ser contagioso”, de modo que o sujeito só aceita a mulata porque sua cor não “pega”. De outro lado, há quem argumente que “não pegar” também tinha o sentido de “não ter problema”, isto é, isso de ser mulata não pega, não é problema, não tem grilo, o que desfaria a hipótese racista. Independente da versão que adotemos, o próprio termo “mulato” gerou em si grande questão. Primeiro, por sua relação com o mito da democracia racial, que tem encoberto processos de violência histórica contra populações indígenas e afrodescendentes, e dificultado a formulação de políticas públicas de inclusão. De outro lado, discutem-se etimologias possíveis para “mulato” e sua possível origem na palavra “mula”, denunciando um processo de animalização na própria raiz do termo. Outros, como a historiadora Lita Chastan, defendem uma origem árabe para a palavra, que viria de “muwallad” e significaria “mestiço de árabe e não árabe”.
6
Independentemente da origem, é preciso lembrar que muitas palavras pejorativas tiveram seus sinais invertidos pelas próprias comunidades que sofreram violências. Isso quer dizer que a etimologia de um termo não basta para descartá-lo; é preciso observar seu devir. Lembremos, por exemplo, o uso da palavra “vadia” na “Marcha das vadias”, ou da palavra “queer” no universo LGBTQIA+. O mesmo pode se dar com “mulata”, e com aquela palavra de língua inglesa que devemos não pronunciar, mas que aparece em letras de rap ou hip hop, cantadas por artistas negros. Aliás, vale registrar que é diferente quando um termo é dito pelo próprio grupo social que subverte seu sentido originalmente depreciativo, e quando é dito por alguém de fora dessa comunidade.
7
Durante uma edição recente do BBB, o participante Babu Santana afirmou que preferia o uso do termo “preto” em vez de “negro”, que teria sentido originalmente negativo. Em reportagem do Estado de Minas, o cientista político Cristiano Rodrigues avalia a questão em termos geracionais. Segundo ele, nos anos 1970, houve uma forte recontextualização afirmativa da palavra “negro”, o que explica os “Cadernos Negros” na literatura e o “Movimento Negro Unificado” no campo das lutas políticas. A geração mais recente, mais distante daquele momento de troca de sinal do termo, tem preferido “preto” – curiosamente, nos anos 1990, havia quem dissesse que esta era uma palavra racista e que “negro” seria mais adequado. No mesmo conjunto, temos ainda os termos das cotas raciais, que se dirigem a estudantes “pretos, pardos e indígenas”. Sem dúvida, o termo “pardos” contribui para a inclusão de pessoas não marcadas pelo privilégio da branquitude, ainda que haja todo o debate entre o colorismo (a importância de observar privilégios ou prejuízos específicos dependendo das tonalidades de pele) e o imperativo de se afirmar negro (independente da tonalidade, evitando subdivisões internas e os muitos termos que, de algum modo, idealizam a miscigenação à brasileira). Vale lembrar, também, a provocação em uma recente exposição de Maxwell Alexandre, chamada Pardo é papel, que apresentou, sobretudo, representações artísticas de corpos negros.
8
Nas duas últimas décadas, tornou-se comum que entidades públicas e privadas lancem cartilhas apontando termos que devem ser evitados no cotidiano por seu caráter preconceituoso. Lembro, por exemplo, de uma que apontava o problema da palavra “denegrir” (que tem caráter pejorativo e se relaciona com “tornar negro”). Anos depois, o professor Renato Noguera escreveu um artigo chamado “Denegrindo a educação: um ensaio filosófico para uma pedagogia da pluriversalidade”, defendendo que devemos tornar os currículos mais “negros” em suas abordagens e bibliografias, ou seja, invertendo o sinal. Na mesma linha, a professora Aza Njeri diz muitas vezes em suas aulas que gostaria de “escurecer” determinado ponto (no lugar de “esclarecer”) e escolhe elementos para “sulear” a discussão (em vez de “nortear”). Ela também se entende como “digital confluence” no lugar de “digital influencer”, pois de fato é muito estranha essa profissão ocidental que se baseia em exercer influência sobre alguém. Aliás, Nego Bispo explica que nós, brancos, não somos exatamente “aliados” na discussão racial, mas que podemos exercitar a “confluência”, confluindo na luta contra as desigualdades. Assim, ainda que não se não apaguem nossos privilégios de classe e raça, podemos ao menos concretizar, com gestos efetivos, nossa não anuência com as estruturas que perpetuam nossos próprios privilégios, segundo nos lembra também Sueli Carneiro em recente entrevista a Mano Brown.
9
Nas aulas de História também há lugar para a discussão linguística. O tempo todo temos que pensar sobre escolhas como “invasão” ou “descobrimento”, como nos lembra um recente samba da Mangueira. Outro exemplo é a palavra “escravos”, antes tão naturalizada, que passa a ter um sufixo que a complexifica: “escravizados” (isto é, a escravidão não é uma condição intrínseca aos seres, mas uma processo imposto por alguém: escravo, escravizar, escravizado). Além disso, é importante repensarmos as substantivações que fazemos de termos que são, na verdade, adjetivos. Assim, também não pensemos em “os escravizados”, mas nas “pessoas escravizadas”.
10
O escritor indígena Daniel Munduruku nos ensina que “índio” não existe, que é um apelido pejorativo e generalizante. Por isso, defende “povos indígenas” (a palavra “indígena” quer dizer que são povos nativos da própria terra) ou ainda “povos originários” (que enfatiza seu caráter de origem). Nos dois casos, recomenda-se o uso do plural, deixando claro que há diversidade apesar dos traços em comum.
11
Há quem questione o aumento da sigla LGBTQIAPN+, que veio a substituir GLS. Na sigla anterior, o gay vinha na frente da lésbica, e só sobrava como opção ser um heterossexual simpatizante (ou, o que me parece mais assustador, um “não simpatizante” do movimento). A passagem do L para frente e cada elemento novo acrescentado à sigla veio trazer a notícia de outras formas de existir e outras particularidades de colocação no mundo social, oferecendo a dupla oportunidade de estar em um grupo de pertencimento.
12
Aliás, a homofobia, a bifobia, a transfobia carregam esse sufixo derivado do grego “phóbos”, que tem mais a ver com medo do que com ódio, dando a dimensão de que só o conhecimento nos leva a abandonar o medo e o ódio do que nos é diferente. Isso se aplica não apenas às questões de gênero e sexualidade, mas ao ódio contra estrangeiros (xenofobia), contra as pessoas que não estão adequadas aos padrões corporais impostos pela norma social (gordofobia) e contra os pobres (aporofobia) – este último, como nos vem ensinando o padre Júlio Lancellotti.
13
O surgimento de novos termos também vai tornando visível o que antes não era. Se mulheres são interrompidas por homens, temos o “manterrupting”. Se homens partem do princípio de que mulheres não conhecem determinado assunto ou que podem explicar melhor do que elas qualquer coisa, temos o “mansplaining”. Se uma pessoa tenta convencer uma mulher de que ela está louca, inventando coisas, ou fora de proporção, é “gaslighting”. Nomear é, também, dar a ver o que existe, permitindo que as mulheres se defendam, se posicionem e sobrevivam a essas formas de dominação.
14
Fico pensando no termo “barraqueira” (por vezes declinado no feminino) e sua provável origem na palavra “barraco”, que dá nome a habitações populares e estigmatiza um comportamento supostamente deselegante de pessoas associadas às classes mais baixas (ou seria melhor “classes mais pobres”, ou ainda, “classes mais pauperizadas”?). Soma-se a isso a relação com o gênero, reforçando a ideia de que mulheres são descontroladas, instáveis e histéricas. Aliás, a etimologia da palavra “histérica” vem exatamente de útero, e, não por acaso, a loucura, no avesso da norma, frequentemente estigmatizaou e perseguiu pessoas que não acompanham a normatividade homem-branco-classe-média, que exibe sua pretensa racionalidade a despeito de todo o horror que a masculinidade europeia promoveu e vem promovendo a partir de seus mitos “civilizados”.
15
Outra discussão importante é a do gênero “neutro” (embora eu tenha reservas ao uso dessa palavra; melhor seria “linguagem inclusiva”). Diacronicamente, há a explicação de que o “o” que termina palavras masculinas tem origem na declinação de gênero neutro existente no latim. Nesse sentido, o que marcaria o gênero feminino seria apenas o “a”, e o masculino, a simples ausência do “a” (e não o “o”). Por isso, quando nos referimos a um grupo misto de pessoas, no plural, usamos o masculino (“Olá, amigos”). Mas, sincronicamente, é indubitável a associação do “o” ao masculino. E é evidente que, quando não marcamos a presença de mulheres, elas se invisibilizam. Por que não reafirmar, na língua, a presença das mulheres nos espaços? E aí caímos em outro problema: “amigos e amigas” ou “amigas e amigos”? Os homens na frente é um problema óbvio. O feminino na frente também não ajuda, se pensarmos no padrão cavalheiresco, de uma pretensa gentileza sexista do “ladies first”, tal qual “senhoras e senhores”. E nas duas hipóteses não ficam invisíveis as outras possibilidades de gênero, não binárias? Por isso, é uma opção adicionar o “e” como em “amigues”. Mas, se deixarmos só “amigues”, voltamos parcialmente ao problema do “todos”, generalizando ainda que pontuando a diversidade. Pois é, amigos, amigas e amigues, a questão é difícil. Outra opção é “amigxs”, mas há quem reclame dessa forma, difícil de pronunciar (e difícil de ler para aplicativos usados por pessoas com deficiências visuais).
16
A questão conservadora segue sendo defender um apreço não crítico pela norma culta, quando não uma reclamação interminável sobre a problematização dos termos (o “mimimi”, mais um neologismo de nossos tempos). Defendem a norma porque sabem que precisam dela para conservar o mundo tal qual está (mas fingem defendê-la por outros critérios). O fato é que a língua é sintoma e prenúncio, consequência e causa, acompanha as tensões sociais, traz dela questões novas e projeta futuros possíveis. E, ainda que não saibamos decidir o melhor termo para usar, é bom saber que o desconforto com a língua neste momento é sinal do desconforto com a estrutura desigual que nos atravessa a “todes”. Por isso, precisamos de cuidado com a linguagem – isto é, é preciso cuidar dela, oferecer-lhe o nosso cuidado.