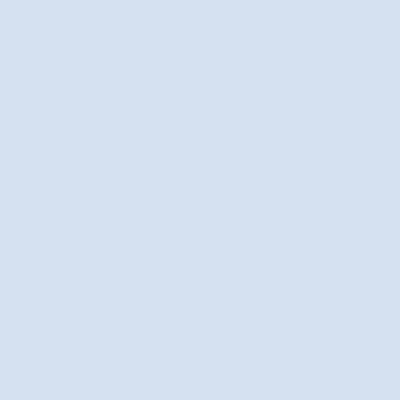No hay banda
O silêncio sempre é um palco para uma série de experiências. Vem antes do primeiro beijo, ou quando encontramos a pessoa amada. Pode ser a festa que for, o trânsito, o caos; basta olhar para aquele alguém e tudo se aquieta, ao fundo, e a gente só ouve a