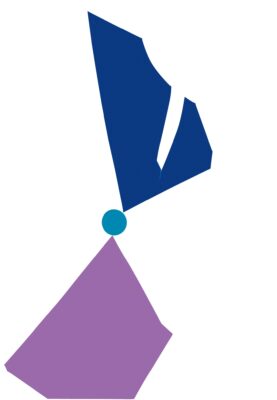A cidade é feita de encontros. Humanos se aglomeram em cidades para se relacionar, para potencializar suas redes sociais.
Nossas cidades cresceram para atender a essa vontade – necessidade? – de estarmos próximos uns aos outros.
O passado é uma herança de bons exemplos, nas antigas cidades europeias, nos nossos centros históricos anteriores às utopias. Neles, tudo parece próximo, são “caminháveis”, o espaço público é vivo e a verticalização ocorreu como uma resposta natural a uma demanda por solo urbano.
Algo aconteceu de lá pra cá.
Nossas cidades se tornaram “paliteiros”, uma infinidade de torres isoladas umas das outras. As torres pouco respondem às demandas por espaço, pois ocupam a cidade com garagens e áreas condominiais esquecidas e empoeiradas. Cada vez mais o que liga esses espaços não é mais a rua, mas o carro – uma moderna cápsula de isolamento.
O resultado não foi por acaso, mas por consequência: o urbanismo modernista, obsessivo pelo controle humano da natureza, tentou “organizar” o que é o organismo vivo de uma cidade.
A verticalização em edifícios soltos – os tais palitos – era pregada como forma de liberar a cidade para áreas verdes, tentando garantir, de forma ingênua, uma quantidade de sol e de espaço de lazer para todos.
A tentativa de controle da natureza desta vez não foi inconsequente.
O isolamento inviabilizou o contato das edificações com a calçada e umas com as outras. O comércio no térreo sumiu. Não por falta de interesse, mas pelo afastamento do pedestre. Não só as atividades ficaram mais distantes como parecem ainda mais, dado o ambiente inóspito da rua vazia. Em um ciclo destruidor, a insegurança gerada pela falta de vida levou as torres a se isolarem ainda mais, com suas cercas e seus muros.
O isolamento dos espaços edificados incentiva o isolamento no trânsito entre eles. Em uma triste ironia, a tentativa de promover sol e espaços de lazer resultou justamente no contrário, cidadãos presos nas suas salas, nos seus carros.
A acessibilidade do pedestre é muito mais importante do que as pessoas imaginam. O pedestre é a raiz de todas as formas de transporte além do carro. É preciso caminhar para chegar na parada de ônibus, na estação do metrô, para guardar a bicicleta, para entrar na loja. Cidades que inviabilizam a caminhada inviabilizam todo o resto do sistema de transporte – e, por sua vez, o encontro, mesmo que desproposital e inusitado.
Isolamento não deve ser confundido com privacidade. Privacidade é nossa relação com o ambiente privado, preferência totalmente natural de termos nosso canto, nosso espaço na selva metropolitana. Já isolamento se refere à nossa relação com o ambiente público.
O isolamento, a falta de contato com pessoas e ambientes diferentes, eliminando as surpresas positivas que a cidade constantemente nos oferece, deixa o cidadão cego ao que acontece ao seu lado. Leva a segregações tribais e, no limite, reforça os preconceitos apesar da vida cosmopolita da metrópole. Leva a críticas sobre espaço e transporte urbano das próprias pessoas que contribuem para que os problemas existam, sem sequer imaginarem que isso seja possível. Ter privacidade não requer tal isolamento.
A privacidade, no entanto, deve ser balanceada, com seu limite de abrangência no próprio cidadão, já que sua extrapolação pode comprometer a própria existência da cidade. A metrópole é, por definição, um massivo organismo social, que tem seu bônus e seu ônus. É contraditório querer o bônus – uma vasta gama de oportunidades, atividades, opções, relações, enfim, pessoas – e, ao mesmo tempo, pregar por características rurais de privacidade total: silêncio, paz e falta de contato humano. Nenhuma opção é melhor ou pior, mas o cidadão deve estar pronto para escolher qual o seu ponto de preferência, e pronto para aceitar as consequências da sua decisão, pois cidade não existe sem gente.
A vida gerada por esse planejamento inconsequente, nos tornando dependentes do uso do carro, é ainda pior. O paulistano que anda de carro gasta três horas dentro dele por dia. Em um quinto do seu tempo acordado está preso. Preso pois está sozinho atrás da direção, obrigado a executar uma única atividade para evitar assassinatos com a sua grande máquina de metal.
O que já foi um símbolo da liberdade se tornou o do isolamento, e o que era para ser planejado se tornou um caos – ou pelo menos provou que com o caos não se brinca.
A cidade nos deu uma privacidade muito além do que se esperava, pois a morte dos encontros é a morte da própria cidade.
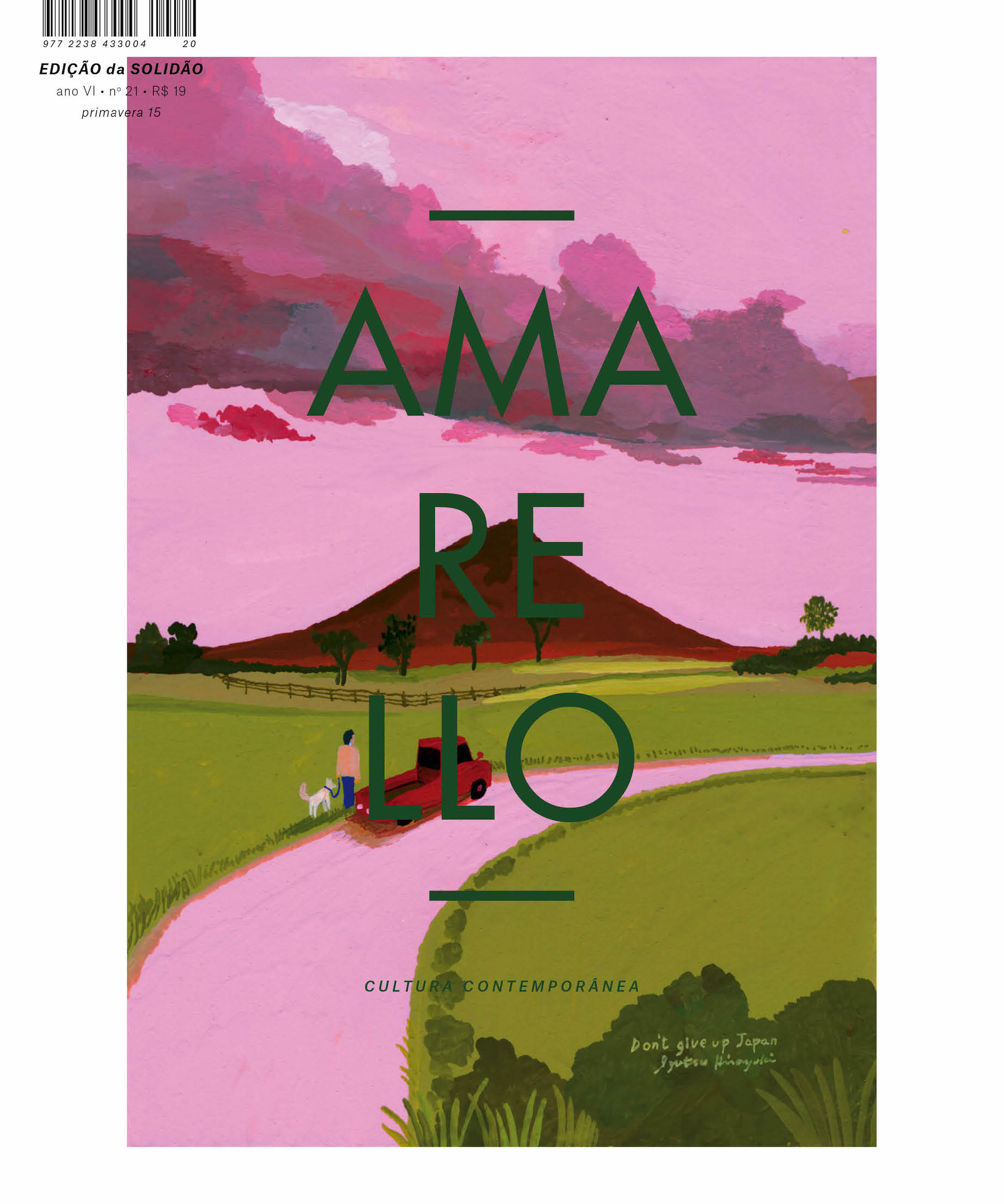
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista