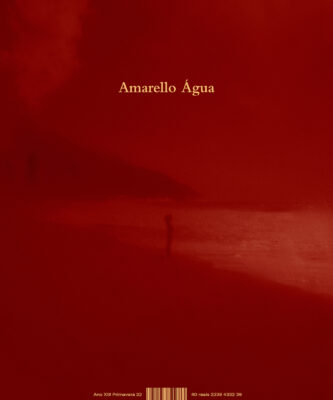Tarsila romântica em duas mãos
Há tempos eu não acordava com a sensação que tive hoje pela manhã ao abrir os olhos. Adormeci na casa de meus pais, onde já não moro há mais de 15 anos, e ali, entre palpitações e calafrios, passei a infindável madrugada. Ao despertar de uma noite mal dormida