Na tradição judaica, a Torá sugere o primórdio, a gênese, a fonte fundamental. A Torá vem antes da figura do deus abraâmico, e sem ela nada existiria, nem mesmo o grande protagonista de toda a Criação e testemunha das nossas mais corriqueiras intrigas e paixões. Sem a Torá, Deus não existiria – ainda que o livro mais sagrado dos judeus a Ele esteja condicionado. Desrespeitar a Torá, como objeto de culto e adoração infinitos, revela-se muitíssimo mais grave do que afirmar o ateísmo, por exemplo. A Torá a Deus precede.
Penso em uma associação muito parecida quando me debruço sobre o tema do romance, assunto privilegiado por esta edição de Amarello. Popularmente, e muito corretamente, o termo está ligado a certa concepção de amor, de amor romântico, de uma aventura sentimental guiada pelo coração. Estaríamos todos destinados a buscar romances em nossas vidas? É o romance que traz um pouco de sentido a uma existência sem muitas respostas e sem muitas motivações? Ou seria o amor, esta instituição tão celebrada dentre todos os sentimentos humanos, o grande motor para algum sentido? Penso que o romance precede o amor.
Somos matéria feita de memória e de romance, já nos dirão os grandes escritores românticos em todos os tempos. E nossa memória acaba por revelar que muitos dos amores aos quais nos apegamos partiram essencialmente de algo anterior, de uma subcamada sentimental que liga os pontos entre o coração e a mente, e que gosto de chamar de romance. Criamos uma fantasia amorosa, uma intriga com repentes bruscos, e nos envolvemos, tudo isso muito antes do amor. Leva-se um tempo para dizer “eu te amo” porque aguardamos o trânsito, os destinos e os desdobramentos dessa narrativa para então abrir o coração e nele inserir esta que é uma das frases mais universais de toda a história. Como a ignição ao motor.
Não se trata de diminuir o sentimento, de rebaixá-lo a uma subcategoria presa a lógicas próprias da ficção que criamos de nossos cotidianos e de nossos estímulos. Vivenciar, ou tentar, uma narrativa não compromete o amor que dela resulta; ao contrário, penso que o romance reverbera o amor. Uma boa história, um romance, costuma criar os amores mais apaixonados ou os mais cinematográficos.
Se tomarmos o conceito mais próximo do literário, ou aristotélico, o romance é uma obra geralmente em prosa que se destaca pelo tipo de abordagem eleita pela narração: enquanto a poesia se demarca pelo subjetivo e pelo eu, em versos que se dirigem sem intermediário a um leitor ou a um determinado objeto de sua paixão, a prosa pressupõe um narrar com maior mediação entre todos os elementos da história: eu conto algo a você, te mostro onde aquilo se passa, em que tempo, quem são as personagens que vão viver comigo (ou sem mim) aquela história, que não necessariamente será de amor. Uma história ou um romance não precisa ser de amor, embora em quase tudo já escrito ele esteja ali presente – o que se varia é a maneira como se olha para este amor. Diferentemente também do gênero dramático, em que os diálogos são reproduzidos para a posterior representação de atores em um palco, o romance não precisa se prestar à representação. Tudo nele basta.
Ao longo da história, o termo já foi moldado ao sabor das épocas e das escritas. O romance já foi uma língua, já foi até mesmo uma forma peculiar de versos épicos; hoje chamamos de romance o que James Joyce apresenta em Ulysses ou o que Machado de Assis relata nas páginas de Dom Casmurro. No entanto, se voltarmos à origem do termo, é possível estabelecer associações interessantes com seu significado mais moderno. Começa a ser usado entre os séculos XIV e XV, do francês antigo, romancier/romanz, e estava ligado à ideia de “traduzir uma narrativa para o francês”. Para nossa surpresa, tinha o valor sintático de um advérbio! Essas narrativas medievais figuravam, em geral, guerreiros e heróis em suas aventuras épicas.
Mas foi do latim romanus, para designar tudo o que vem de Roma, a partir de 1300, que todas as suas adjetivações e acepções surgiram. Traduzir o que vinha de Roma para o francês, em romancier/romanz, adquiria um papel importante na narrativa daquele período da história, em que o tom aventuresco dos antigos relatos romanos precisava se desprender um pouco de seu estrato latino e ganhar uma cara mais “moderna”, por assim dizer, francesa. Fato é que, desde sua origem, o termo tem intensa ligação com um contar de história, como processo criador de universos, de intrigas, de aventuras, de amores.
O romance tem seu ápice com Balzac, na mesma França, que é quem determina basicamente tudo o que será e continua a ser escrito até os nossos dias. Balzac foi o grande mestre do romance universal e não me parece exagerado associá-lo a uma tradição do romance também no sentido em que trato na introdução deste texto: os amores de Balzac lidam com essas intermitências da narrativa que, para existirem, precisam deste grande narrador que, ao colocar dois personagens juntos, revira o cenário, do íntimo, até o social e parisiense, para fazer surgir algo que se compreende como amor. E não seríamos nós frutos de uma influência abstrata e invisível de uma comédia humana? Somos, ainda, um retrato balzaquiano em nossas relações. Como um Lucien de Rubempré atrás de suas glórias, seus amores e suas ilusões.
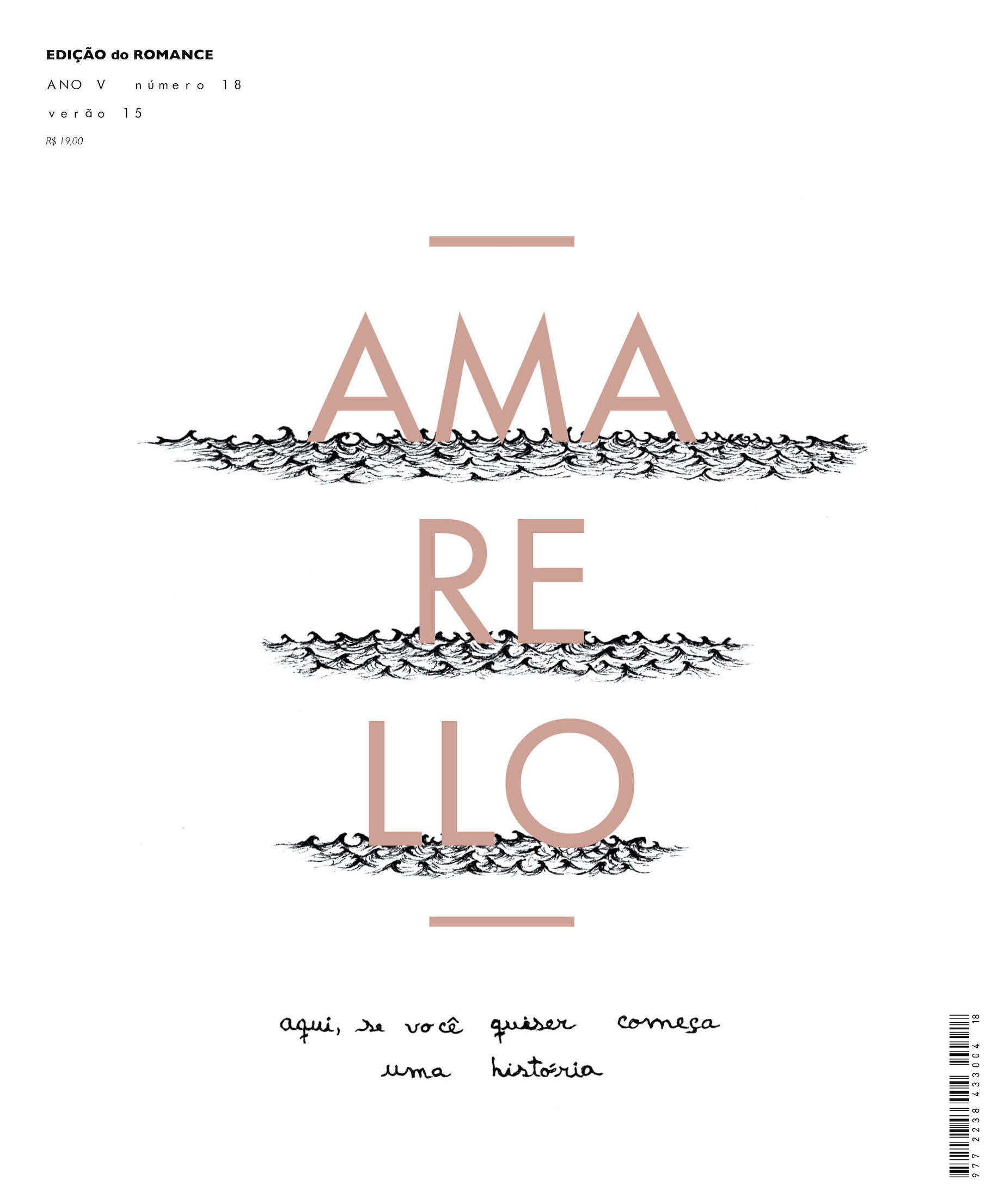
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista












