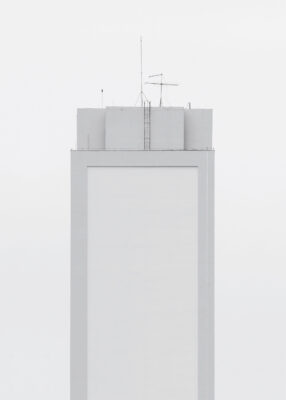A essa altura da vida (e da morte), quando o destino me concedeu o prazer de olhar para o meu passado com olhos de descoberta e de mirar o futuro sem tantas ansiedades, quando tenho uma certa aceitação das vergonhas e já não levo tão a sério a ideia de que sou especial ou bom, penso que o verso que mais me agrada em toda a extensão e profundidade do cancioneiro pátrio, da nossa música popular, é um que devemos ao gênio de Caetano Veloso: “Eu sou neguinha”.
É claro que preciso explicar melhor esse negócio – por isso, topei escrever o artigo que se segue. Às pupilas que me seguiram até aqui, rogo que não desistam. Não vou decepcioná-las de todo ao fim da curta jornada que nos aguarda.
Começo por dizer que nós, brasileiros, não somos brancos. Não apenas não somos brancos: nós não podemos sequer nos pretender brancos. Um pouco de África, ou mesmo muito, corre em nossas veias sem memórias, quero dizer, em nossas veias cujas memórias são guardadas por entidades inacessíveis às nossas vãs consciências. Mas o que mais me interessa agora não é a questão da cor, senão a questão do gênero que vem inscrita no verso “eu sou neguinha”. Aí é que mora o encanto. Eu realmente tenho dúvidas quanto às armaduras de masculinidade que emolduram aqueles que nasceram com um pênis – coisa que se deu comigo. Duvido das armaduras que nos amordaçam, que nos armam, que nos asfixiam. Eu mesmo, que me sinto gente – e de modo tão apaixonado, embora tímido – posso dizer que me sinta “homem”. Definitivamente, não sou como esses homens aí que tanto se jactam de ser homões. Eu não. O meu gênero não é o mesmo deles. A minha sexualidade não é igual à deles.
Pelo que sei de mim, digo que há tantas sexualidades quanto pessoas na face da Terra. Cada um é uma sexualidade. Cada um tem um jeito masculino e feminino de ser que é único, não é categorizável. Nessa matéria, o que mais me atrai é atirar-me. Deixe-me dizer melhor: o que me atrai é atirar-me “no acaso e amar o transitório” – para fiar-me em outro bom verso, este de Carlos Penna Filho.
No mais, se pararmos para pensar em que consiste o gênero a que chamamos “masculino”, talvez não encontremos grande coisa ali que não seja um invólucro, um sarcófago, um rótulo desprovido de espírito. Ou duvidamos disso agora, ou empenharemos mais e mais as nossas almas a emprestar vida artificial a invólucros ressequidos que não somos nós.
Tomo para mim o que Simone de Beauvoir disse sobre as mulheres: “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. Bem sei que a frase virou um chavão. Bem sei que os chavões são insuportavelmente insuportáveis. Bem sei que o uso indiscriminado e panfletário dessa frase de efeito – uma frase com defeito – logrou empobrecê-la e reduzi-la a uma palha morta do discurso político. Uma pena. No trecho em que a filósofa rabiscou essas palavras, no começo do livro “O Segundo Sexo”, ela carregava pensamento com ela e pretendia discutir mais o gênero do que o sexo. Ela queria dizer, e de fato disse, que é a cultura, não a biologia, que impõe o padrão de gênero, de tal sorte que a mulher só vira mulher depois de construída assim por força dos valores sociais que moldam a personalidade infantil de um ser em formação. Nas palavras de Simone de Beauvoir, “é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino”.
E por que eu, que sou um suposto homem, tomo para mim uma passagem tão ardentemente feminista? A resposta é simples: porque me ocorre que ela vale também para mim, assim como vale para as mulheres, isto é, vale para mim e para todos os homens do mesmo modo que vale para todas as mulheres. Também homem não se nasce. Também homem, torna-se. É tormentoso e sangrento o método pelo qual a civilização esculpe, com navalhas, formões e cinzéis simbólicos, o feitio do homem másculo sobre um pedaço de madeira virgem chamado criança. E esse processo não é indolor, assim como não é bom.
Ser um ser masculino é arcar com um arquétipo vazio – insisto no vazio – e pesado. Um estereótipo absurdo, porque anacrônico e ultrapassado. “Homem que é homem não chora”, canta Martinho da Vila. Ele tem razão, se o oposto de “homem” for a criança. Mas não tem razão, se o oposto de homem for a mulher. Homem chora quando perde a mãe. Todas as vezes em que perde a mãe. Mulher também. O resto é cultura.
Falemos um pouco mais de cultura. Atribui-se ao masculino uma certa agressividade perfunctória, invasiva, incisiva, que seria parte essencial da experiência humana. Tenho dúvidas. De outra parte, atribui-se ao campo dito feminino virtudes como acolhimento, abrigo, maternidade. Tenho dúvidas também. O masculino leva traços de linhas retas e ângulos arestosos; o feminino tem formas arredondadas, aconchegantes. Não sei não. O masculino encarna força; o feminino, leveza. O masculino governa; o feminino aquiesce. Ora, por favor.
A menos que se lide com essas categorias como polos de uma tensão indivisível, ou seja, a menos que se aceite que o feminino e o masculino não se apresentam sozinhos, mas sempre conjugados, como o yin e o yang, não há mais sentido – se é que um dia houve – em alguém se ver como uma península masculina ou uma baía feminina. Somos sempre as duas formas geográficas.
Eis, em suma, por que duvido da masculinidade que a mim se atribuiu. E mais ainda duvido da masculinidade que se proclama em certos brados tão em voga. A masculinidade – veja que ironia, que contradição – vem se tornando uma afetação gestual. Na onda de autoritarismos que varre o mundo se encena essa apoteose de masculinidade, com pelos como espinhos, com músculos feito aço, com armas e trejeitos alegadamente testosterônicos que, francamente, não passam de teatralizações performáticas e ficcionais.
E olhe que não me refiro apenas ao machismo, esse fator de ordenamento de discursos que nos submete a todos e a todas. Eu não me refiro apenas ao estreitamento linguístico e político do machismo, que, por vezes, pode até ser cavalheiresco sem deixar de ser machista. Eu não me refiro apenas ao machismo que oprime as mulheres e ultraja os homens que, como eu, duvidam desses padrões de masculinidade afetada, essa masculinidade exibicionista e tresloucada. Eu não me refiro, enfim, apenas ao machismo que só pode ser desmontado conforme se desmontem os enunciados peremptórios com os quais ele ergue suas fortificações. O combate ao machismo que se impõe como um grilhão sobre o que é humano (pois o machismo é desumano) só se faz por meio da costura e da descostura das palavras de que ele se serve. O machismo se enfrenta no enfrentamento dos signos. Só assim vamos nos livrando desse machismo que tantas vezes consegue nos transformar em seus agentes inconscientes (o pior do machismo aparece quando nos flagramos falando o machismo – ou pior, quando nos flagramos tendo falado o machismo por tanto tempo e tão bestamente).
Mas, além do machismo, eu quero e devo me referir à caricatura do macho que vem sendo agora convertida em signo político. É constrangedor quando nos damos conta da miséria ridícula das autoridades que “falam” em furos como se com essa palavra, “furos”, pudessem demonstrar sua superioridade fálica sobre as mulheres. Não vejo humanidade nisso. Duvido dessa hombridade funesta, um tanto escatológica. Penso que não quero isso para mim. Sinto que não tenho parte nessa barbárie dessas figuras medonhas que erguem o braço como uma cancela de quartel, que fazem cara de malvados, que se deleitam empunhando coronhas, eles, com sua vaidade ignara e seu desejo adestrado – um aterrador desejo obediente.
O que há de masculino em mim, nesta hora, diz “não”.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista