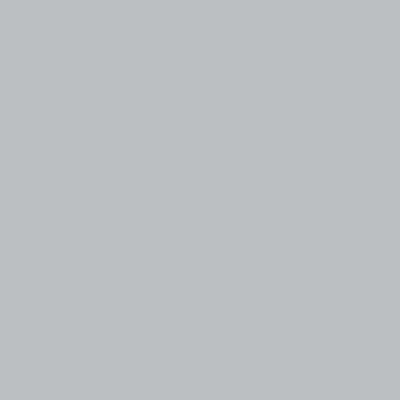À Lilian Jacoto, pelas ruas de Sevilha
“Quando eu vos amarei?
Talvez nunca, talvez amanhã.
Mas hoje, certamente não.”
— Carmen, na ópera de Bizet,
quando abordada por jovens soldados
Sentada normalmente à espera da música, não se advinha, o estrondo, o susto, a antecâmara do grito que a percorrerá toda. Falo da ópera Carmen, composta por Bizet e estreada em 1875 no Opera-Comique de Paris, inspirado no romance de mesmo título, de Mérimée, escrita em 1845. Nesses dois minutos iniciais da ópera (experimente), nos é dado, como um tapa seco ou uma aguda queda, a brutalidade doce dessa personagem que o tempo todo canta e dança para si e para o além de si, a presença física e constante de sua própria morte.
Nada ali é pequeno ou contido, e a maneira abrupta com a qual irrompe já anuncia o plano da obra, o lugar em que se desenrolará a trama: no picadeiro de uma tourada, no ritual antiquíssimo e trágico, dionisíaco, de fazer da vida um espetáculo de fogo, letal, em que tudo começa e termina ali – na arena, no jogo de forças, na arte de pisotear o medo e dar-se para a morte, astuta e fogosamente, no reverso absoluto da cantilena cansada da elevação moral cristã da dor culposa ou do elogio da longa vida calma, amena e sem fantasmas – a vida domada.
Antes de olhá-la, a essa grande narrativa musical que magistralmente ouvimos, gosto de, sem rodeios, ver a Carmen que se apresenta a mim: furta-cor, imagem de um labirinto vivo, pulsante, absorto com o sol dentro, completamente irrefreável, leve e perversa como uma criança, sóbria e densa como uma velha que conhece o efeito de sua ação e não choraminga pelos tropeços que sua escolha a faz pagar. É a moral do não-arrependimento, ou seja, da integridade plena à entrega do corpo e de si à ação, colhendo as consequências disso como se cantasse, alegrias ou elegias, tanto faz, Carmen canta – celebra a sua experiência –, ainda que a consequência última seja – e sempre é – a morte. Nisso vejo uma lucidez impressionante, rara, porque somada à ignição de uma vontade imperiosa; um misto resiliente de direção da vontade e de resignação. Como se Carmen, ela mesma, personificasse a alegoria da liberdade responsável, acolhida no caldo de sua especificidade: seu sexo.
Quero tentar especificar um pouco mais a maneira como trato a ideia de ‘resignação’ aqui, e o que entendo sobre a especificidade dessa liberdade feminina em Carmen. Por resignação, penso algo muito diferente do que ronda a ideia de desistência, de aceitação vitimada. Há uma negatividade na resignação, uma tensão, que não faz do sujeito que se resigna um sujeito que simplesmente acatou seu destino e aceitou-o como prêmio ou punição. Na aceitação punitiva ou premiada há uma leve felicidade, um torpor melancólico ou mesmo uma renúncia passiva que tira o sujeito do embate e da arena. Já na resignação vejo uma lucidez da perda, uma atitude clara de que de nada adianta continuar ali, mas que mesmo assim, não se dobra perante isso, não faz disso o sinal de uma passividade, ou de uma tolerância autocomplacente perante si mesmo. A resignação não é conformista. É mais fria, mais mental, calculada. É um gesto estratégico para bem perder, o que pode ser sinal de, entre outras coisas, poder. Na ideia de resignação que quero traçar, sai-se de cabeça erguida, nem insolente, nem vitimado: apenas consciente de que se experimentou o efeito das próprias forças lançadas ao mundo. Esse é um traço fundamental da Carmen que me comove, a Carmen que gosto de olhar, a Carmen que leio.
Outro traço que puxa o meu interesse é o fato dessa atitude bravia, de uma resignação forte, se dar numa mulher. E numa mulher que, apesar de traços solares (normalmente acentuado no caráter de heróis varonis), está inteiramente de acordo com seu corpo, está à vontade nele, ou seja, sabe e usa os seus mistérios. Não sei quantos já repararam, mas é extremamente difícil encontrar um personagem feminino nos romances literários e, principalmente, no cinema, que exponha sua opção libertária sem ter que negar ou esconder o seu corpo. As personagens femininas estão muitas vezes confinadas a esposas (a maioria esmagadora delas), amantes dependentes, pintadas com moral pejorativa (ainda a maioria) que, quando passam por um processo de individuação, ou seja, quando descobrem – tiram o véu, para si mesmas – sua presença, o fazem, normalmente, através de crise na família e no casamento. Como se o processo de individuação da mulher tivesse que, necessariamente, passar por aí. Isso pode ser compreendido como um atestado, proveniente de uma longa tradição cultural, de que estamos, ainda, sob os efeitos de representação da velha bula comportamental machista. Outro exemplo são as individuações através da completa masculinização da mulher, desde a mulher-todo-poderosa-treinada-para-ternos até a mulher-virgem, as virgens-guerreiras, como Joana d’Arc, que só puderam se individuar (no nosso imaginário patriarcal) porque mascararam sua feminilidade sem dono, sem casamento. Nada contra a opção de ninguém, adoro as virgens guerreiras, as matronas lacrimejantes, as meninas perigosas inspiradas em femmes fatales, as executivas histéricas. O que quero dizer é que, em Carmen, pode-se vislumbrar uma outra representação do feminino que se elabora em seus próprios termos, que negocia a partir de sua própria experiência: é uma mulher absolutamente sedutora, modelo arquetípico das tais fêmeas fatais, decotada e lúgubre, mas que se movimenta a partir de seu próprio centro. Em relação, como tudo que vive, mas não a partir do outro, como, normalmente, vemos a mulher ser representada. Carmen não é fruto da costela de Adão.
Carmen parece escapar desses dois grandes esquemas (esposa e guerreira) que formam a tríplice imagem do feminino convencional (mãe, amante, virgem), que, fora de conotações patriarcais, não deixam de ser um manancial de riqueza e complexidade. Mas…já começo a tergiversar. Voltemos à Carmen. Ela é extremamente feminina no trato com seu corpo, ou seja, não esconde seus seios e sua vulva, mas, habilmente joga com eles. Com uma complexidade alta que a leva da autopercepção como toureira ao seu reverso como touro. Assim, não se impõe como uma santa guerreira, através de sua virgindade. Pelo contrário, está mais próxima de um perfil de heroína trágica romântica, mas não daquelas que morrem de amor. Carmen se entrega, ama enquanto ama, mas está fora dos afetos oficializados ou da oficialização dos afetos (compromisso, casamento, etc). É libertária.
O impacto da mulher toureira, que é por sua vez amante do toureiro – ou seja, a imagem da mulher que duplamente mata e dá-se à morte – fascinara Picasso que, entre os anos 1933-34 criara o ciclo ‘Toureiras’, fundindo num binômio erótico entre a mulher e o touro. Ainda depois, Picasso não hesitara em pintar, ele mesmo, em 1964, a sua Carmen, para ilustrar uma edição do romance de Mérimée. A Carmen de Picasso, inteiriça, é fortemente marcada pelo tal olhar farouche, selvagem, que, na descrição do novelista, diz “jamais ter visto noutro rosto humano, olhos de bohémien, olhos de lobo”. Ora, a meu ver, esse olhar, antes de um escudo, antes de uma faca – imagens de uma agressividade passiva ou ativa – é a imagem pontuada de uma concentração, de uma presença. A ameaça que o outro, em seu contato, diz sentir, “olhos de lobo”, não a vejo como dispositivo intencional daquele que olha, a Carmen. Muitas vezes, a sensação é de que ela não olha para fora, mas que está concentrada sobre si mesma, naquela hora em que o ser se reúne, hora de êxtase que também pode ser um espelho de uma hora de morte. Isso pode, obviamente, assustar quem olha, essa ‘possessão dionisíaca’ da presença sem medo. Bizet, intencionalmente, desloca a morte de Carmen para dentro de uma arena (diferentemente de Mérimée), logo após a morte do touro. Essa marcação aproxima ainda mais a experiência da paixão amorosa da ‘corrida’ de touros, o ritual preciso e transgressor da tourada, que sempre motivará a energia criativa do pintor espanhol. Picasso é também uma espécie de Carmen. Ou melhor, ambos, em sua virilidade e em sua feminidade – e na ambiguidade e mascaramento que esse encontro cria – são tocados por essa presença destemida, são tocados por Dioniso, ou por, quem sabe, aquilo que Nietzsche chamou ‘potência’. A própria palavra ‘carmen’ vem do latim carmina, que designa o canto, a forma rítmica e, posteriormente, o canto mágico, o encanto. Carmen canta para si mesma, e por isso encanta, nubla as coisas edificadas sobre estruturas densas, faz tudo girar, embaralha as referências, seduz, porque não teme as consequências de seu ser, responde firmemente ao seu propósito de ser livre, nem que tenha que morrer para isso. Morte jubilosa, altiva, autônoma.
Jean Baudrillard escreveu um livro provocador, Da sedução, em que elabora a ‘feminilidade’ como indistinção de peças num jogo sem razão, sem ser, sem possibilidade de concretude. Para ele, esse ‘poder’ do feminino revela-se na sedução que é mais um exercício estratégico do que uma luta com objetivos meramente sexuais. Ele diz: “A feminidade como princípio de incerteza. Ela faz vacilar os polos sexuais. Não é o polo oposto ao masculino, é o que elimina a oposição distintiva e, portanto, a própria sexualidade tal como se encarnou historicamente na falocracia masculina, tal como amanhã pode encarnar-se na falocracia feminina” . Trago esse texto porque, além de entender a liberdade como uma alta expressão sedutora, já que ela pode ser pensada como um bom drible, de corpo e raciocínio, entendo Carmen como um ser em movimento, um corpo em movimento, algo que não se pega, que não congela em tempo e espaço algum. Ela improvisa. Ambígua, deslizante, assim como o mecanismo sedutor, que ultrapassa o argumento unicamente sexual. Aquela imagem já gasta, mas belíssima, do centro concentrado e da periferia em expansão móbil, dançante. No texto de Mérimée, essa andança é física. Carmen está, a cada página, em uma cidade diferente da Andaluzia, e exercendo ofícios distintos, tal como é de praxe na representação da mulher ‘cigana’ e da feiticeira. Lembro, por exemplo, de A Celestina, de Fernando de Rojas, escrito em 1492, já prenhe do gênero picaresco e satírico, em que a alcoviteira Celestina se desdobra em ofícios e malefícios na intenção de se aproveitar do amor de um jovem por uma jovem que lhe dificulta o acesso. Carmen vende laranjas, dança para os oficiais da guarda espanhola, é chefe de uma quadrilha de contrabando, etc. Você não sabe o que Carmen é, nem onde está. E ela está aí, à sua frente.
Por motivos de época e mentalidades históricas, Carmen é descrita, muitas vezes, por Mérimée como uma ‘prostituta’, já que é casada e parece ser ‘usada’ por seu marido criminoso. Essa é uma leitura rasa, que evito. Como se, ultrapassando as lentes do contexto de produção da obra, vendo na personagem a figura lendária que ela viria a ser, preferisse ler, sempre, em Carmen, o gesto de recusa a enlaçar-se. Não por medo de amar – afinal, ela se entrega, sim, apaixonadamente a D. José, o que o faz perder a cabeça. Simplesmente, ela é assim. Movimento, bombas axiais, presença. Não por acaso, a metáfora dos nós e do enlaçamento percorre todo o texto da ópera, e cada vez que Carmen é presa, em segundos ela reverte a situação e está solta. Tal como Dioniso, nas Bacantes, de Eurípedes. Não se prende Carmen, todo laço é uma ilusão.
Outra leitura ainda fundamental e contextual está na abordagem culturalista do tema, quando vemos D. José como um oficial de alta patente no exército andaluz, ou seja, símbolo explícito da autoridade oficial, versus Carmen, uma cigana sem pátria nem regimento, absolutamente à margem e causando ‘confusão’ na Espanha que se quer uniformizar a partir do Norte e não do Sul. Esse caminho de leitura é também vasto e pode muito bem vir a calhar no atual momento de exaltação dos estudos culturais.
A presença de Carmen se assemelha muito, na maneira como gosto de notá-la, a uma bela dança flamenca, bem tocada, bem dançada, intensa, que provoca um desconforto e uma emoção catártica, que provoca um tête-à-tête com seus próprios demônios. O bailador flamenco não está ali para encantar ou seduzir o outro, ele, ali, não dança para ninguém além de si mesmo, como se, exteriormente, na presença de outros (mas não para os outros) elaborasse, no espontâneo do ritmo, irrepetível, um ritual de cortes, estocadas, contornos, carinhos entre ele mesmo e sua dor. É o seu próprio terreno subjetivo que está sob a visada da sedução. Ainda quando a cena íntima do bailarino traz ao corpo a memória dos prazeres, e não de suas dores, não se trata de um autocortejo para o ego. Trata-se de insuflar a presença, não o eu. Quem está ali, habitando aquela dança, ultrapassa o esquadrinhamento do banal, do cotidiano e do profano. Como nas danças místicas, para o flamenco conta muito mais um corpo que se abra à presença do que um corpo fisicamente hábil, jovem e belo. Vê-se, muitas vezes, nas mulheres idosas, que dedicaram sua vida ao abrir-se à dança, o impacto denso e penetrante, viçoso até, desse corpo experimentado, requintado. Carmen, a meu ver, é uma dessas sacerdotisas que espantam o medo pisoteando-o. Sacerdotisa em que sol e escuro se confundem, e na qual a obra alquímica se elabora entre o vermelho e o negro, entre o vermelho e o branco.
Pulsão controlada, olhos-adentro, precisão explosiva – jogo fatal em que se esquiva como se dança – seduzindo com o canto não exatamente o outro mas aquilo que ultrapassa a própria percepção de si, o outro de si mesmo; seduzindo assim, muitas vezes, o próprio medo. Carmen, esse tablado, essa arena – fenda destemida, oscilante entre entusiasta e resignada, fenda que não hesita, fenda que me protege, diversas vezes, dos meus embotamentos psíquicos, das minhas preguiças criativas. Como um amuleto, priápico e cheio de fertilidade, Carmen elabora essa imagem da arena em que se dança para pisotear o medo. Poema-canto de pés talhados para o risco. Com saia, leque, e castanholas. Com cabelos soltos e debaixo do sol. Entre o vermelho e o negro, entre o vermelho e o branco, num tom de rosa tocante, apaixonante, quase lilás, misterioso e fúnebre.