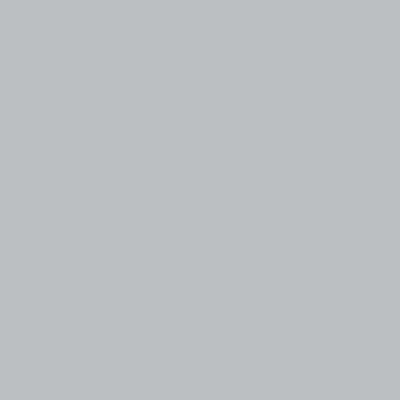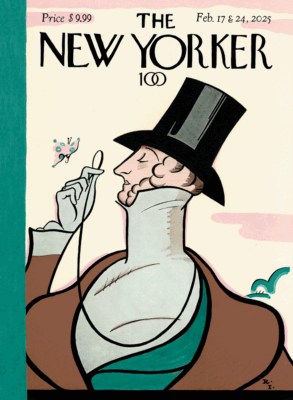Amarello Visita: Alberto Pitta
Criar e estampar os tecidos. Há mais de 40 anos, essa é a vida do artista plástico baiano Alberto Pitta, idealizador e fundador do Bloco Cortejo Afro – bloco que nasceu no bairro de Pirajá (Salvador) e, nos seus mais de 20 anos, tem exaltado a fantasia, a poesia e a cultura negra com um repertório relevante e original, valorizando aspectos da cultura africana contemporânea.
O filho da educadora, bordadeira e ialorixá Mãe Santinha de OYÁ – grande inspiração e razão para ter seguido o caminho das artes – sonhava em ser goleiro de futebol, até que surgiram os blocos Afro, que trouxeram toda uma proposta estética de empoderamento para o carnaval baiano no final dos anos 70 – um discurso que nos trouxe até aqui e que faz da Bahia um lugar diferente no Brasil.

“A partir desse movimento do Ilê, da década de 70,
tudo foi mudando na cidade”
SUAS ORIGENS E INFLUÊNCIAS
Minha arte vem da minha mãe (Ialorixá Anísia da Rocha Pitta e Silva, Mãe Santinha de Oyá), como era conhecida a antiga líder do terreiro Ilê Axé, porque ela, além de educadora, trabalhando em escolas, era uma bordadeira. Então, tinha todo um processo criativo ali, para você bordar, fazer um Richelieu, e tudo aquilo desde o início me interessava. Um segundo ponto era pelo fato de minha mãe ser uma ialorixá. Isso significa terreiros de candomblé, histórias, religião, religiosidade e os elementos que compõem os terreiros, além das indumentárias, das ferramentas dos orixás, dos animais, dos adereços. Tudo isso foi me chamando atenção por uma questão, a princípio, estética. Um terceiro ponto foi o surgimento dos blocos Afro. Eu já gostava muito dos blocos de índio, então me interessavam muito os desfiles do Apache, do Comanche, Caciques, Guaranis e Tupis. Depois, vieram os Blocos Afro e surgiu o Ilê Ayê, com toda uma proposta estética de empoderamento, um discurso pan-africanista, e tudo aquilo foi me interessando. Como eu já gostava do carnaval, resolvi mergulhar no universo dos Blocos Afro e Afoxés. Na época, eu já fazia serigrafia, e dali para passar para o processo criativo e ser convidado a fazer parte de grupos e blocos, foi um pulo. Estamos falando do final dos anos 70. Antes disso, era mais o interesse pelos desfiles: como aquilo era feito, de onde vinham aqueles grupos, acompanhar ensaios. Porque tinha uma negrada se movimentando e interessada num discurso – um discurso que nos trouxe até aqui e que faz da Bahia um lugar diferente no Brasil, a partir das cores do Ilê Ayê. Eu sempre entendo assim: a partir desse movimento do Ilê, a partir da década de 70, passando pelos Blocos de índio, tudo foi mudando na cidade. Então meu trabalho foi esse. Ele vem nessa esteira, do chamado carnaval negro baiano, e eu estou organizando, justamente agora, um livro contando essa história, esses mais de 40 anos fazendo tecidos para os Blocos Afro e Afoxés.

RELAÇÃO COM O ESPORTE
Eu sempre quis ser jogador de futebol. Não é como hoje, que os pais colocam os filhos na escolinha. Na época, jogar bola era sinônimo de malandragem.
Meu pai não tinha interesse que eu fosse jogador, gostaria que eu fosse mecânico, chapista, assim como ele. Que tivesse uma profissão que me garantisse financeiramente. Se de fato eu mergulhasse no futebol, sei que teria toda possibilidade, e numa posição difícil, de goleiro. Então treinava nos times aqui de Salvador tranquilamente, fui aprovado e fiquei um tempo no Botafogo, mas aí deixei e me enveredei pelo caminho das artes.
RELAÇÃO COM O ESPORTE CLUBE YPIRANGA
Eu tinha um primo de Cachoeira (BA), Evandro Soares, que era juiz de futebol e advogado. Ele era torcedor do Ypiranga, e o futebol da época não tinha grandes empresários. Teve um momento em que ele até levou o material do time na minha casa, para minha mãe benzer, aquelas coisas do futebol baiano. O time do Bahia fez muito bem isso, essa aproximação com as religiões de matrizes africanas. Quando vi aquelas cores, me interessei por tudo aquilo. Quando cheguei a treinar na Vila Canária (Time Ypiranga) em 1977, fui até convidado por Emerson Ferreti (que foi goleiro do Bahia, Flamengo, Grêmio e Vitória) para fazer parte da Diretoria do Ypiranga. No ano em que ele saiu como candidato a presidente, me convidou para ser vice na chapa, e aí eu fui vice-presidente do clube por 4 anos. Isso eu estou falando de 4 anos atrás. Mas até hoje faço parte do Conselho do Ypiranga, com reuniões de 15 em 15 dias. O clube surgiu em 1906, como um time feito, na época, para negros jogarem bola. Essa foi a ideia do Ypiranga, com suas cores amarelo e preto, e por isso que a capoeira angola tem essas cores. Ypiranga era o time de muitas personalidades, como Mestre Pastinha, Irmã Dulce, Jorge Amado e Zezinho (pai do Caetano Veloso).


“Por que eu vou fazer só para negros comprarem
meu tecido e vestir?“
USO DAS SIMBOLOGIAS DO CANDOMBLÉ ALÉM DOS BLOCOS AFRO
Eu acho que tudo faz sentido. Lógico que você tem que saber como. O que é que você está usando? O que é que você está fazendo? O que significa isso? De onde vem? Você tem que ter ideia dessas coisas. Mas, por outro lado, também é uma forma de perpetuar e divulgar. Hoje nós temos vários cânticos e várias músicas de candomblé, gravadas por artistas que usam algumas como refrões de suas canções e muita gente acha que não deveria, mas essas canções podem sumir. Tem dezenas delas que ninguém sabe mais e que se foram com a Mãe Menininha do Gantois, por exemplo. Eu lembro que Zeno Millet (neto de Mãe Menininha) chegou para mim uma vez e falou: “Poxa, Pitta, sobre essas coisas de símbolos, de signos, dessas histórias, você sabe mais do que eu. É verdade! Minha avó compôs várias canções que nós não soubemos aproveitar e tornar isso público. Terminou virando canções de domínio público. Quem fez? Quem é o autor? Ora, alguém escreveu”. Ele estava falando sobre essas coisas, e até cantou uma ou duas canções.
O próprio Carybé foi isso a vida toda. Um cara que sai da Argentina, chega nesse lugar e diz: vou ficar por aqui. Porque me identifiquei com isso! E a vida dele toda foi isso. A arte de Carybé é pautada justamente no terreiro de candomblé. Enfim, mas também está registrado, senão essas coisas se perdem. Daqui a 50 anos, um monte de coisa você não vai mais saber sobre. Se não estiver registrado, se não estiver pintado, se não tiver virado publicação, se não for cantado, some. Isso é fato! Nesse sentido, eu não tenho nada contra.
Eu acho que tem que se ter respeito em tudo que se faz. Pode ser nas religiões de matrizes africanas, de outras matrizes ou qualquer coisa na vida. E também sobre a questão da apropriação cultural, eu não tenho muita preocupação com isso. Lógico, como eu falei, tem que ter respeito. Você vê uma mulher loira com o cabelo trançado, ornado com contas, e diz “aquilo não pode, é apropriação cultural!” Eu não vejo problema, porque a questão não é ela ter feito isso, e sim eu fazer isso e ser barrado no shopping ou coisa semelhante, por conta da minha estética, e ela não. Então é esse equívoco que temos que combater, e não o fato de as pessoas usarem as cores, saírem com uma roupa nas cores do Ilê Aiyê, com o cabelo trançado, sendo pessoas brancas. Acho que a conversa é outra. Até porque você vai no Centro Histórico e dezenas de turistas o tempo todo estão fazendo tranças com as trançadeiras negras, que sobrevivem disso. Porque dificilmente vai aparecer uma preta e sentar ali para ser trançada. As pretas trançam seus cabelos em casa. Elas já se conhecem, ligam ou vão até sua trançadeira e já têm quem pega na sua cabeça. Porque nem todo mundo gosta que qualquer um pegue em sua cabeça. Mas as pessoas brancas não estão nem aí. Eles se interessam pela estética, vão lá, sentam, pagam cinquenta, cem reais, e a trançadeira resolve a vida. Como é que você conta essa dita apropriação cultural? A mesma coisa digo dos tecidos. Eu estampo em tecido, e um metro de tecido meu é caro! O de Goya Lopes é caro, a arte de J. Cunha é cara. Então, se você pode comprar, você vai comprar. Por que eu vou fazer só para negros comprarem meu tecido e vestir? Não. Quando eu faço, eu quero vender. Porque aí eu sei que vou poder fazer mais. Vou poder fazer mais coisas. Então tem o interesse comercial. É você aprender a lucrar em cima da arte. Caetano já fala isso na música. Se você ouvir o álbum O Sorriso do Gato de Alice, tem um trecho da canção “Bahia, Minha Preta” que fala isso: “Vender o talento e saber cobrar, lucrar”. Tem que entender até onde vai o limite dessas coisas.
Se você pensar em cota, aí já é uma outra história. Eu tenho meu bloco aqui com 100 fantasias e vou priorizar segmentos, porque é de interesse meu para a construção do meu próprio trabalho e do que eu estou fazendo ali. Mas, de fato, eu quero que todo mundo saia no bloco e quero que paguem. Tem uma classe média branca que se interessa pelo Cortejo Afro, e eu quero que paguem por isso. Não tenho nenhum problema! Até porque 70% do público do Cortejo Afro, nos ensaios, são brancos e LGBTQIA+, e quando eu saio dali, venho e boto aqui.
Se você olhar as salas lá em cima, que estão em reforma, eu tenho a vista da bacia. Pego a grana e faço coisas, porque eu gosto do que é bom. A pobreza tem que passar longe da gente. Eu trabalho com estética, e não posso pensar em pobreza. Preciso pensar em riquezas, que é uma herança nossa. Você não pode ter medo das coisas. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu tenho medo de mim, pelo fato de não ter medo de nada. Eu vou e faço minhas coisas o tempo inteiro. Faço uma história no carnaval, as pessoas olham e dizem “não entendi”. Ótimo que você não entendeu, mas só pelo fato de você dizer que não entendeu, você já observou, você já pensou sobre o processo e, depois, você busca a resposta. A que você encontrar, é! Então não tenho nenhuma preocupação com essa questão de apropriação, de símbolos, signos ou da questão estética das roupas, das batas, dos vestidos.

Outro dia eu vi uma mulher no shopping com um vestido preto longo, de Goya Lopes, e estava lindo demais aquilo. Uma mulher branca, aparentemente de classe média, que foi ali e pagou uns R$ 600, naquele vestido. E, com certeza, Goya já pôde pagar o funcionário que estampou aquele tecido, e está resolvido. Daqui a uns anos, a mulher que comprou ainda terá o vestido e vai lembrar da artista Goya Lopes. Uma artista negra engajada, que tem um discurso, sabe das coisas. Eu quero que Goya se dê bem, e eu também quero me dar bem. A gente tem que se dar bem, e não podemos ter medo de comprar o carro e pensar que vão falar: “Olha lá o cara. O dono do bloco”. É o quê? Vovô do Ilê vai ter que ficar andando a pé para provar o que, para quem? João Jorge (diretor do Olodum) tem que ter o carro dele. Carlinhos Brown fala isso o tempo inteiro: “Como é que eu vou ter vergonha de comprar uma cobertura? Se eu tiver a grana, eu vou comprar mesmo e acabou a história”. Quando ele fez Guetho Square lá no Candeal, foi um efeito estético. Depois do Guetho, de toda história de Brown com a Timbalada, pode descer, é tudo pavimentado. Antes era um esgoto a céu aberto. Não havia interesse e ninguém olhava aquele lugar. Hoje as casas são pintadas, decoradas, com grafismo que veio através desse processo.
BLOCO CORTEJO AFRO
O Cortejo Afro foi idealizado e fundado por mim em 1999 e surgiu da necessidade de reafirmação dos valores e aspectos da cultura negra na Bahia, respeitando a diversidade e incorporando novos elementos, visando ao crescimento das comunidades do século XXI.
A concepção artística do Cortejo Afro se apresenta através de releituras de sons e ritmos e resgata as cores perdidas do carnaval baiano, reafirmando seu conceito ético e estético.
Minha intenção é resgatar as cores, sons e ritmos do carnaval que o tempo se encarregou de apagar, tornando a maior festa popular do mundo numa pasta só. Daí a introdução predominantemente do branco sobre branco, azul e prata, que são cores de Oxalá. Já os grandes sombreiros visam passar o visual dos reinados das tribos africanas, especialmente de Benin, Costa do Marfim, entre outros países africanos. Arto Lindsay, Davi Moraes, Caetano Veloso, Gerônimo, a cantora islandesa Björk, Dog Murras, além de participarem dos tradicionais Ensaios do Cortejo Afro, no Centro Histórico de Salvador, também fizeram participações nos Carnavais, junto com o Cortejo Afro em cima do trio elétrico.
ARTES PLÁSTICAS COMO DESLOCAMENTO E TRANSFORMAÇÃO
Eu estou fazendo agora um trabalho com a estilista Mônica Anjos. Ela quer fazer um trabalho com dança que vai lançar no São Paulo Fashion Week. Eu disse para ela: tenho um limite. Então eu estampo 200m de tecido com três tipos de estampa, que vão lhe sugerir movimento. Ela esteve aqui e já sugeriu outras coisas. Ou seja, seu trabalho, por si só, já causa um deslocamento estético. Eu estou com uma série que chamo de Mariwô. Primeiro, eu faço as ferramentas dos orixás e, depois, estampo o Mariwô sobre elas. Aí essas ferramentas passam a ser a coisa secundária. O Mariwô, falando de modo geral, é aquela palha de Ouricuri que fica nas janelas e nas portas dos terreiros de candomblé, que é um elemento de proteção. Essa série terá 16 orixás, criando símbolos e signos que os representam. Você pode ver, aqui, que eu sou um artista da contramão nessas coisas das telas. Normalmente usam cavaletes, sentam e ficam pintando. Eu coloco a tela aqui e faço aí. Então, se um metro de tecido meu custa R$100 essa tela aqui vai custar R$20.000.
Eu estou com uma série que chamo de Mariwô. Primeiro, eu faço as ferramentas dos orixás e, depois, estampo o Mariwô sobre elas. Aí essas ferramentas passam a ser a coisa secundária. O Mariwô, falando de modo geral, é aquela palha de Ouricuri que fica nas janelas e nas portas dos terreiros de candomblé, que é um elemento de proteção. Essa série terá 16 orixás, criando símbolos e signos que os representam. Você pode ver, aqui, que eu sou um artista da contramão nessas coisas das telas. Normalmente usam cavaletes, sentam e ficam pintando. Eu coloco a tela aqui e faço aí. Então, se um metro de tecido meu custa R$100 essa tela aqui vai custar R$20.000.

Capa do livro , composto por obras feitas no primeiro ano da pandemia e inspiradas nas pinturas rupestres
Também estou com uma série Tempos de Cárcere, que fiz de março até o final do ano. Com a coisa da pandemia, que ninguém esperava, eu pensei: na pandemia, o que eu vou fazer? Acabou o carnaval e eu sou um cara do carnaval. Mas eu percebi que iria piorar, porque já saímos do carnaval 2020 com notícias disso. Só não levamos fé! Então o que vou fazer? Estou em cárcere. Como eu gosto das figuras rupestres, me baseei nisso, nessa paleta de cores das cavernas. Porque estamos em lockdown, ou seja: estamos em cavernas. Para mim, a tradução de lockdown é caverna, movimento rupestre. Isso foi no ano passado. Agora estou na série Mariwô, que também é tudo por trás, tudo escondido. Tudo nesse sentido. Criações em tempo de pandemia. Quem tem essa sorte, de se dar ao luxo de trabalhar com arte como eu, consegue atravessar, mas tem gente que não tem para onde correr e cai em depressão.
PROJETOS SOCIAIS DO INSTITUTO OYÁ
Aqui é um Terreiro de Candomblé, e nós temos o Instituto Oyá de Arte e Educação. Foi fundado pela minha mãe (Mãe Santinha de Oyá) e minha sobrinha, que herdou a casa. Ela toca o trabalho social do Instituto, que é um trabalho junto à comunidade, com crianças e adolescentes, acompanhamento escolar e pedagógico, como parte do Oyá Educa e o Oyá Criativa, que é esse da questão estética, com cursos de estamparia, moda, corte e costura, percussão, teatro e capoeira. Tem essas duas vertentes dentro do trabalho social do Instituto. É o Candomblé mais uma vez dizendo: olha, estamos aqui, a serviço da comunidade.
PROJETOS ARTÍSTICOS FUTUROS
Saímos recentemente do projeto Histórias em Tecidos, com três lives, sobre a ideia de escrever e contar histórias nos panos dos Blocos de Índio, Blocos Afro e Afoxés. Porque os tecidos dos blocos têm essa função de contar histórias. Agora o outro resultado disso é o lançamento do livro Histórias em Tecidos – O Carnaval Negro Baiano. Vai ser uma série de estampas, que será lançado em novembro pela Fundação Pedro Calmon, que já demonstrou interesse.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista