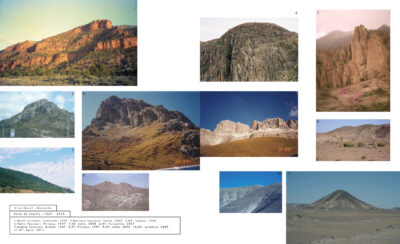Tinha uns dez anos quando vi O Beijo da Mulher Aranha, filme icônico de Hector Babenco, pela primeira vez na televisão. O filme conta a história de Luis Molina, um gay exuberante interpretado por William Hurt, e do seu companheiro de cela, Valentin Arregui, interpretado por Raúl Juliá. Molina está preso por causa do seu comportamento sexual; Arregui, por conta das suas atividades políticas. Os dois homens estão em uma prisão sinistra de São Paulo durante a ditadura militar. Eles escapam do desespero e da violência cotidiana através de trechos de um filme que Molina nos conta, dia após dia e noite após noite, sobre a trágica história de amor entre uma glamurosa cantora francesa e um soldado nazista, por quem ela morre ao final.

Quando criança, só me lembrava de dois momentos do filme, ambos próximos ao fim: em um deles, a aparição da mulher aranha, no outro, os protagonistas encontram finalmente a liberdade em uma praia do além. Não me lembrava que o filme acontecia em São Paulo, e não tinha a menor ideia de que 30 anos mais tarde assistiria a esse mesmo filme sozinha, no meu sofá, prisioneira voluntária do meu próprio apartamento na mesma cidade, e que ficaria encantada ao ver suas ruas animadas, cheias de vida na tela.
Isso me deixou com a sensação estranha da história se repetindo, de que a experiência que estava tendo do meu sofá poderia também ser um filme, uma vertiginosa “mise-en-abîme”. Tento me tranquilizar, pensando que a vida evolui como a espiral de uma concha, passando pelo o mesmo ponto, mas em um nível mais alto. Nós não estamos no mesmo lugar; é somente uma fase parecida e, mesmo que a maioria esteja confinada em casa, não estamos no meio de uma ditadura militar. Ou estamos?
A realidade pode, aliás, ser pior do que a ficção. E, ao olhar o atual circo político brasileiro mais de perto, poderíamos pensar em um filme de Romero, no qual mortos-vivos assaltam cidades, não temos como fugir, e defensores raivosos do atual presidente a.k.a. o chefe dos zumbis atiram em seus opositores políticos quando protestam pelas suas janelas. Enquanto o resto do mundo aplaude e canta para encorajar doutores, ou outros heróis da Covid-19, no Brasil, eles são baleados, e carreatas pedem o fim do confinamento e o retorno dos trabalhadores aos seus postos, bloqueando entradas de hospitais. No fim das contas, o líder deles vai cair, pois não é sério o suficiente para satisfazer as exigências dos marionetistas; ele foi suficiente no início, agora não é mais. Vamos terminar com os militares, que estão, de fato, manipulando as cordas.
Nessas circunstâncias confusas, se pode facilmente perder o contato com a realidade: será que é um pesadelo, um filme ou será que é real mesmo? Melhor tentar não cair no desespero, não imaginar a volta oficial de um regime que nos impediria de beijar quem bem quiser na boca, seja um namorado ou uma namorada, quando eventualmente nos reunirmos, arriscando a liberdade ou a vida para um drinque no Cabaret da Cecília, curtindo uma noite queer no decor vintage desse pequeno aconchego no centro de São Paulo. Em que ano estamos? Será que os alemães estão prestes a deportar e matar milhões de pessoas ou será que é um inimigo invisível que mata tantos? Será que estamos no meio dos anos 1970 em uma ditadura ou estamos no século 21, prontos para afrontar um regime militar legalmente instaurado?
O tempo está borrado, tudo está misturado; dinossauros ainda existem, assim como fascistas e zumbis. Eles são machos, brancos, velhos e raivosos, porque sabem que o reino deles está acabando, portanto ficam mais violentos e loucos.
A situação em que vivemos parece uma rachadura no tempo linear: uma fissura social, político-sanitária, é exatamente onde estamos agora. Talvez seja nessa fenda que a luz finalmente entrará. Talvez esta crise possa trazer uma mudança no paradigma atual e nos ajude a criar um mundo um pouco mais humano. É quase engraçado pensar que esse deslocamento potencial seria induzido por algo tão pequeno que nem podemos ver a olho nu.
Esse é o assunto exato da conversa que tive com o artista Simon Fernandes. Queria visitar o ateliê do Simon há um tempo, mas agendas cheias, viagens e a quarentena decidiram o contrário. O dia da nossa ligação parecia somente um outro dia. Acabou sendo diferente. A tranquilidade e o leve tédio desta quarta-feira ordinária se iluminaram quando nossa conversa começou e as sincronicidades surgiram. Achava que o trabalho de Simon tratava da tecnologia, um assunto um pouco afastado da minha pesquisa sobre o maravilhamento, a alteridade e o sublime; mesmo assim, estava interessada. Contudo, falamos das mesmas coisas, só que com outras palavras ou imagens.
De fato, se as obras de Simon podem parecer frias, sua proposta – através de suas esculturas híbridas, instalações ou pinturas – é uma volta ao afeto e à condição humana, usando a tecnologia para ressaltar esses assuntos. No trabalho dele, uma outra temporalidade surge, na qual metal e luz fria coexistem com elementos baratos, como sacolas de plástico transparentes, em uma mistura despretensiosa de alta e baixa tecnologia e cultura. A pesquisa de Fernandes também aborda a tensão e o movimento permanente entre a matéria e elementos digitais, que não estão tão distantes como podemos inicialmente pensar. Para ele, a imaterialidade acaba se encarnando em nós na forma de sensações, percepções, e voltam sempre para a matéria e o humano.
À medida que a nossa conversa fluía, o encantamento, a genialidade e a magia da vida viraram o foco do nosso papo. Acordamos que, ao final das contas, a arte tem essa capacidade única de deixar visível o laço que existe entre nós e o que nos cerca, desvelando o que normalmente ficaria escondido por um simples deslocamento, reanimando a vida, no senso de trazer sua alma, sua anima, de volta.
Esse exercício poderia antecipar o futuro, explorando os elementos invisíveis do nosso presente. Veiculando a hipótese de Berrardi sobre o pós Covid-19, sugiro que o futuro possa conter a rejeição da tecnologia como trauma vinculado à nossa experiência da quarentena. Simon tem uma outra hipótese e considera que a tecnologia poderia recobrar parte do seu charme inicial e da sua pureza, liberada dos aspectos tóxicos da nossa relação como o digital e sua consumação. Acho animador e escolho adotar essa perspectiva.
Acabamos conversando sobre a arte contemporânea e o que realmente significa. Simon cita outro filósofo italiano, Agamben. O que ele escreveu sobre o contemporâneo resume bem nosso entendimento da situação atual e o papel da arte neste contexto. Nossa habilidade de olhar no retrovisor e através do para-brisa ao mesmo tempo, sem julgamento, percebendo a repetição de padrões e a emergência de novas formas em um lugar onde nada é permanentemente definido e, em vez disso, está em suspensão: isso é o contemporâneo. A capacidade de olhar para o presente com distância.

Como o sugere Agamben, concordamos que talvez estejamos no caminho certo, pensando a arte como A Ferramenta para redesenhar relações de poder. O artista aparece, nesse contexto, como um vetor de algo maior do que ele, um tipo de mensageiro do inconsciente coletivo.
Somos compostos de átomos, e átomos são compostos de energia. Somos energia, a nossa e a que está flutuando a nosso redor. Algumas pessoas conseguem catalisar e traduzir nas suas palavras ou imagens esse tipo de sabedoria atemporal, como xamãs, responsáveis por trazer de volta o afeto como fundamento de nossas vidas. Talvez a arte possa criar esse novo território, sem fronteira definida; um tipo especial de heterotopia, como se fosse uma ilha mágica ou um jardim a se expandir de forma infinita. Isso nos obriga a ter a capacidade de prender a respiração e observar, ficar imóveis e quietos, olhando para nosso passado coletivo e para nosso possível futuro a partir de um tempo presente que pode ser reinventado. Isso é provavelmente o que estamos fazendo, de forma intuitiva, enquanto confinados, experimentando a própria definição do que é o contemporâneo, das sincronicidades e fendas temporais. O que significam a arte, o amor e a vida, e o que esta crise pode nos trazer? Esse é também o motivo de às vezes nos sentirmos presos em um filme. E também o motivo que deixa os dinossauros furiosos e os zumbis assustados, e alguém se perguntando “de qualquer forma, que horas são agora?”