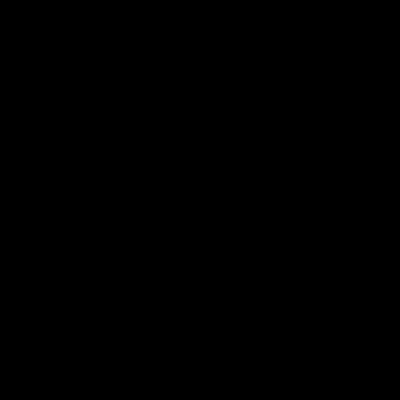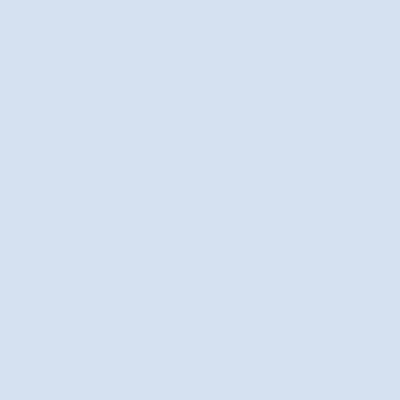Minha alma cativa
“Por outro lado, minha mulher de 52 anos me parece tão atraente quanto no dia em que a conheci. Se eu dissesse isso em voz alta ela diria: ‘Que clichê, Douglas! Ninguém prefere rugas, ninguém prefere cabelo branco’. Ao que eu responderia: mas nada disso me surpreende. Espero para observá-la envelhecer desde que nós nos conhecemos. Por que isso deveria me incomodar? É o rosto que eu amo. Não este rosto, não este rosto aos vinte oito, trinta e quatro ou quarenta e três anos. É este rosto.”
(David Nichols, Nós
Meu rosto é um acervo
Meus olhos são herança do meu avô. Meu nariz tem as raízes italianas do meu pai, meu queixo é igualzinho ao da minha mãe. No meu filho, enxergo os olhos do meu marido, castanhos, profundos, e em seu sorriso, os dentes da minha sogra. Na minha filha, encontro meus olhos e cabelos, as mesmas sardinhas de quando eu era criança, que com o tempo sumiram. E elas logo são a ponte para a lembrança da textura dos dedos jovens de minha mãe, acariciando minhas bochechas quando chegava do trabalho.
Meu rosto atual revela minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos – como diria Ney Matogrosso. É a soma de todos os genes que me foram ofertados, desde que nasci. Minha avó espanhola, meu avô mineiro, o avô italiano que nem conheci. Eu sou todos eles quando me olho no espelho. Meu rosto é um acervo.
Como diz Freud: “o Eu é um precipitado de catexias objetais abandonadas”. Sou todos que passaram pela minha vida de alguma maneira e em mim investiram afetivamente, seja de forma direta ou indireta. E essa presença deixa vestígios tanto externos quanto internos.
Numa cena do filme Extraordinário, o menino que havia feito várias cirurgias em função de uma síndrome rara pergunta para a mãe porque sua face é tão marcada por cicatrizes. Ela responde que nosso rosto é o mapa por onde nosso coração passou: “essa ruga aqui é da primeira briga que tive com seu pai, já esse pé de galinha das inúmeras vezes que você me fez sorrir, essa ruga da testa conta quanto tempo durou sua primeira cirurgia”.
Há alguns anos, minha mãe fez na casa dela uma parede de porta-retratos que ela chamou de “parede dos meus mortos”: tem meus avós na lua de mel, sua melhor amiga que partiu e todos que marcaram sua trajetória de 82 anos, mas que dela não mais participam. No começo achei tudo aquilo esquisito e mórbido, mas o amadurecimento me revelou a importância daquela parede. Em cada retrato, um alguém que a construiu; um laço do seu tecido de memória está pregado e emoldurado em seu museu pessoal, feito obra de arte. Assim, ninguém desaparece por completo.
Por vezes, esqueço o rosto das pessoas que amei, que já partiram, e sou tomada por um desespero, como se estivesse na iminência de perder lugares sagrados onde meu coração pousou. Quando a imagem vem, numa lembrança, eu escorrego para dentro dela, tento agarrar aqueles rostos com tanta força que fico até com medo de abrir os olhos e perdê-los outra vez. Semana passada fui visitada pelo sorriso de uma amiga que morreu. A imagem era tão nítida que quase a ouvi gargalhar. De vez em quando, esqueço da minha tia; fecho os olhos com força e a resgato. Estou salva, ela preservada. Sorrio secretamente quando me pego lembrando do olhar do meu pai. Rostos são sagrados.
Meu rosto é um produto
Atualmente, vivemos uma banalização de nossa imagem: o celular que destrava com face ID, o reconhecimento facial no banco, minha foto que avisa minha passagem pelos lugares.
Assim como João e Maria, vamos deixando migalhas de pixel por onde passamos. O tempo todo somos filmados num experimento sem precedentes, invadidos na nossa história pessoal. Grandes empresas colhem nossos dados e estão sempre alertas, tratando-nos como um produto a ser investigado. O objetivo é obter mais lucros, traqueando nossos caminhos, segredos e buscas. Meu rosto hoje virou produto.
O histórico da internet é um mapa do tesouro contemporâneo que revela o que pensei e pesquisei. O aplicativo de trânsito, por onde andei. Tudo que compartilhei já não me pertence mais, e aquilo que não compartilhei, mas procurei, busquei, pesquisei, fica também aprisionado. Há algo que é recolhido de mim, sem que eu mesma perceba.
Shoshana Zuboff descreve a violência dessa experiência no livro A Era do Capitalismo de Vigilância. As grandes empresas funcionam, de acordo com a autora, como os antigos colonizadores que entravam nos países invadindo e doutrinando aqueles que estavam lá anteriormente.
Num conto chamado “Livro de areia”, Borges descreve um livro amaldiçoado, que não possui começo, meio ou fim, cujas páginas são hipnotizantes e aprisionantes – assim como nosso feed, que nos alimenta todos os dias, e alimenta os outros com pedaços de nossa história. Não por acaso, chama-se feed. Nossos dados são alimentos para uma indústria ávida cujo alcance não conseguimos sequer dimensionar. A voracidade do mundo virtual é capaz de engolir nossas almas, nossa imagem, tratando nossa história como mercadoria. Recentemente, li numa matéria que a Amazon está dando desconto de cerca de 10 dólares em crédito promocional se você registrar suas impressões palmares nas lojas sem pagamento que abriu e vinculá-las à sua conta da empresa. “Os dados biométricos são uma das únicas maneiras pelas quais empresas e governos podem nos rastrear permanentemente. Você pode mudar seu nome, você pode mudar seu número de Seguro Social, mas você não pode mudar sua impressão palmar. Quanto mais normalizarmos essas táticas, mais difícil será para escapar delas”, disse Albert Fox Cahn, diretor executivo do Surveillance Technology Oversight.
Nossas digitais estão sendo deliberadamente entregues; damos as linhas da nossa vida de mão beijada.
Minha alma cativa (obrigada novamente, Ney) hoje é cativa da internet.
Meu rosto resgatado
Num trabalho recente, alguns ativistas se uniram para um movimento antivigilância. Iniciado em 2012, realizam oficinas gratuitas conduzidas por tecnólogos que ensinam as pessoas a usar a internet de forma anônima, criptografada. A criptografia nada mais é que o anonimato online. O objetivo: proteção de dados e a tentativa de garantia da liberdade individual, usando aplicativos que não são facilmente rastreáveis, tais como Telegram e Wire, cujas conversas não ficam salvas.
Protestam também contra a banalização de algo tão privado como a imagem pessoal pintando seus rostos, numa tentativa de camuflagem, desenhando formas geométricas, para evitar o reconhecimento facial, que recebe o nome de “antirrosto”.
Por trás desse manifesto há a revelação de um desejo de voltar a se apropriar de si. Ao mesmo tempo, se preciso mudar meus traços para não ser reconhecido pelas grandes empresas, preciso de um disfarce para continuar sendo eu? Só posso ser eu mesma me camuflando?
Ao ler essa notícia, lembrei de um e-mail que recebi de uma amiga que tinha um canal de YouTube. Dizia que havia se cansado da persona que ela havia construído para estar na internet. Contou sobre sua exaustão por tentar editar uma versão de si que lhe trouxesse mais seguidores, o quanto percebeu-se sequestrada em sua identidade ao longo desse processo. Carol voltou a se sentir Carol quando se despediu do canal que ela mesma criou. Qualquer semelhança com Fausto de Goethe ou O Médico e o Monstro não é mera coincidência.
Porém, como amiga, percebia que mesmo quando a via na internet, conversando com as seguidoras, logo era transportada para o tempo em que eu e ela mais jovens morávamos fora e íamos todo domingo comer falafel, lá pelos anos 2000. Minha amiga não era aquela. Em mim, ela nunca deixou de existir. Ninguém me tira as lembranças da juventude que vivemos juntas e o prazer que sinto ao rememorá-las. Nem a internet, nem o envelhecimento, nem a morte.
Uma história engraçada: numa noite, derrubei vinho em seu laptop. O teclado ensopado chegou até a soltar fumaça. Na manhã seguinte, saímos as duas desesperadas atrás de assistência técnica. Quando finalmente encontramos, o técnico nos olhou, apontou o computador e decretou: “il est mort” (ele está morto). Chateadas, voltamos para casa, até que ela se deu conta de que, estando offline, não precisava mais checar se o ex-namorado estava online no MSN. Isso a libertou para viver sua vida fora das telas. Posso dizer, então, que já é a segunda vez que a vejo se libertar.
A verdade é que, ainda que a internet tente capturar nossa imagem, há algo que sempre será impossível de ser armazenado: a força de nossas memórias. Estas seguirão sempre sendo só nossas. São alimento do meu feed subjetivo, pessoais e intransferíveis. Eu as alcanço ao fechar os olhos, sem precisar de Wi-Fi, e lá sou sempre livre – ando nua, sem pintura, sem tecnologia. Nossas lembranças são um refúgio pessoal e moram numa parede viva dentro de nossos labirintos mentais. Esse tesouro não será entregue jamais para as grandes empresas. Eis nosso ato de resistência.
Não há gigabyte que alcance o cheiro da canja da minha infância ou a visão de minha tia amassando pão de queijo.
E, de vez em quando, passeio por Paris, gargalhando jovem com minha querida Carol, tomando vinho e falando sobre música, ainda que meu rosto revele que há tempos não tenho mais vinte anos.