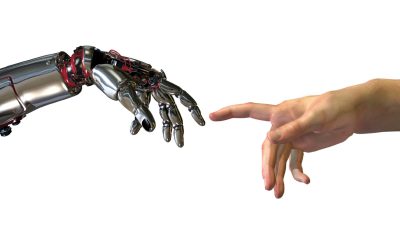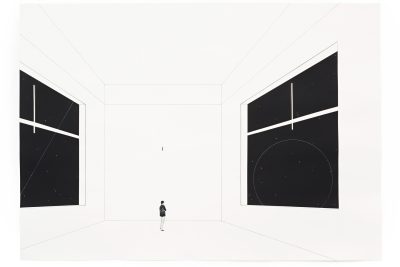Um cafezinho com Vivi Sampaio
Como é a sua história com essa casa?
Essa casa foi inventada, desenhada e construída pelos meus avós, entre os anos 50 e 60. Eles compraram o terreno, que tinha uma casa pequena que dava para a rua, e iam nas demolições do centro do Rio, na Lapa, nos fins de semana, e catavam azulejos, catavam mármores, catavam essas portas. Tudo isso vem de outras casas. Ela é uma junção de várias casas. A única coisa que eles compraram foi tijolo e cimento. Até as telhas eram telhas antigas de outras casas. Como não tinha essa moda de demolição, muitas vezes as pessoas que estavam se desfazendo desses materiais davam para eles, com a condição de que fosse lá retirar, para poder se livrar disso. Eu tinha uns 10 anos e, junto com a minha irmã, íamos muitas vezes lá para botar azulejos em caixinhas, descascar a parede para tirar os azulejos. Fui fazer isso novamente mais tarde, quando dona de antiquário. Refiz esse mesmo percurso com outras coisas, mas já dentro de um mundo que dava valor a isso. Na época deles, não se dava.
Quando você teve o antiquário?
O antiquário foi de 95 a 2008. Então, por exemplo, isso aqui são duas bases de balcões de uma casa na Lapa. Essa é a base. Aqui, acima disso, vem um gradil para a pessoa pôr o pé. Aquelas frentes de casa que são todas de pedra de cantaria que tem muito na cidade. Então isso formava com aquilo, vários outros granitos que iam naquela casa, importados e tudo, formavam as frentes das casas, que eram derrubadas, e as pessoas não sabiam o que fazer com isso, porque ninguém queria isso.
Mas quem que era a pessoa que tinha essa criatividade?
Os dois. Aí eles desenharam, depois que ficaram 10 anos juntando. Você vai ver que não tem uma porta aqui igual à outra, as janelas também não são iguais.


Por conta disso, agora entendi, a casa parece ser muito mais antiga do que ela é. Parece ser uma casa dos anos 30, 40.
Mas o que você vê que é o pulo do gato, porque ela é uma casa com a cozinha aberta para a sala, que é uma coisa muito moderna, não tem porta na cozinha. É uma casa que não tem fundos. É uma casa que não tem grandes corredores. Todas as casas do século XIX e do começo do século XX tinham uma estrutura articulada de pequenos cubículos, um banheiro do lado de cá, vários quartos ao meio e o banheiro no fundo do corredor. Nesta casa, por exemplo, no meu quarto, tem o quarto de vestir e o banheiro; nos outros quartos, tem banheiro. Então são quatro quartos com banheiro, o que não é uma prerrogativa de casas mais antigas, em que a sala de banho era comum a todos. E ela tem um design de uma casa muito moderna, porque a cozinha é totalmente aberta, de frente para a vista, e não nos fundos. Não tem fundos. Todos os lugares dão para a frente. A lavanderia é aberta. Você está na sala de jantar e está vendo tudo. Não existe aquele outro lugar, entende? Aquela segregação. Todos estão desfrutando do mesmo verde do jardim.
E isso também vem muito da cabeça dos seus avós?
Que eram europeus e tinham outra cabeça, outra maneira de pensar. Essa casa foi desenhada por eles e, depois, pintada pelo meu avô.
E eles moraram aqui até quando?
Eles moraram aqui quase 40 anos. Você vê, por exemplo, aqui é uma mesa que foi feita para fazer polenta e macarrão. Eles eram italianos, né? Então você vê que nenhum lugar dessa casa fica escondido. É um outro uso do espaço. E eles desenharam a casa toda com lápis Caran d’Ache. Eu tenho os desenhos.


Quando você veio para cá e assumiu a casa deles?
Eu vim em 95. Arrumamos a casa e tentamos vender, mas não conseguimos. Até alugamos um tempo para uns franceses, mas, quando eles precisaram voltar, nesse momento eu vim. Foi por volta de 1995.
Então você veio e já fez o antiquário?
Eu já vim para fazer o antiquário. A ideia era morar em cima e deixar a parte de baixo como antiquário. Eu sou museóloga e já trabalhava com isso. No fim, tanto a parte de cima como a de baixo viraram antiquário, porque acabava que… ah onde é que vai botar a mesa para mostrar para o cliente?” Era assim, todo mundo que chegava jantava numa mesa diferente. Um dia você poderia chegar aqui e ter uma mesa de terreiro. Se viesse quinze dias depois, jantaria numa mesa inglesa.
E, a princípio, era a mesa da casa?
Era a mesa que estava ali, como o lustre também… Uma coisa com que eu me surpreendi muito durante esses 15 anos de antiquário foi o encontro das belezas, das estéticas. Porque, como eu tinha que pôr a mesa que tivesse chegando para vender, eu poderia ter a mesa de terreiro com as cadeiras de Jacarandá Dom José, porque eram de outra pessoa e tinham que estar aqui de alguma forma, em algum lugar. E aí, quando eu passava pela casa em outros momentos, olhava e pensava: “Nossa, não é que combina?”
Mas antes você não tinha essa cabeça? Porque a gente consegue ver essa mistura aqui hoje.
Não, eu tinha. Mas eu não bancava ela tanto quanto eu banquei durante o antiquário. E ninguém também bancou ela tanto quanto eu, porque ninguém comprou uma mesa de terreiro com cadeiras Dom José. Todo mundo olhava e dizia assim: “Ah, está espetacular essas cadeiras com a mesa de terreiro”. Claro, porque a mesa do terreiro, com as cadeiras do terreiro, morre. Quando está sem as cadeiras, acende. E a discussão entre ela e a cadeira Dom José é que é a graça. Não é que se põe tudo com tudo; um pensamento estético tem que estar presente, porque, senão, a coisa não vai dar certo. Mas essa coragem estética, ou estética com coragem, é interessantíssima. Óbvio que, muitas vezes, não dá certo. Certa vez, uma pessoa deixou aqui vários móveis lindos, africanos, mas você não conseguia encostar neles, tinham presença per se. Então não era que fossem menos interessantes. Tem tanta coisa assim que você vai reparando e o seu olhar vai afinando.


O gosto, pelo menos assim eu tenho aprendido, muda muito com o tempo.
Muda muito. Tem uma coisa que eu também utilizo, dentro da minha experiência, que é a humildade da mudança. E a surpresa da mudança, que às vezes não é feita por você, mas por outra pessoa. Como eu deixo as pessoas mexerem na casa, eu me surpreendo profundamente com algumas coisas. Por exemplo, móveis que por vinte anos estiveram aqui, às vezes a pessoa chega, muda de lugar e encontra onde sempre deveria ter estado.
E quando a casa assumiu o jeito que está agora? Quando você fechou o antiquário?
Eu não tenho essa sensação de que a casa se “fechou” como está agora. Tem horas que ela fica mais assim, depois muda. Aparece algo por que eu me apaixono e penso “é aqui que eu quero botar”.
Você continua comprando coisas?
Não, porque eu não tenho um tostão. Se tivesse, compraria. Todo dia me apaixono ou vejo o site de leilão e falo ”ai, eu quero!”. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu compraria aquele do Paulo Roberto Leal que eu amei.
Você se apaixona muito pelos objetos?
Me apaixono. Na hora que quebram… Porque tem aqueles que basta tocar para quebrar, ainda mais quando tem sessão de fotos aqui. Quando quebra, pego os cacos, guardo… E o meu mais novo desejo é comprar uma cola para porcelanas. Eu tenho essa coisa totalmente século XIX, então você não tem ideia da quantidade de cacos lindos que eu quero fazer, refazer objetos quebrados.
Mas depois que eles quebram, você desapega?
Eu desapego. Acabou, acabou.



Como acha que o seu gosto se formou?
Bom, você adoraria ver os álbuns que eu tenho das casas das minhas duas famílias, que, de alguma forma, foram meu convívio com a beleza desde pequena.
São os italianos que vieram?
São, mas tem os brasileiros. Eles tinham casas bem interessantes sempre. Minha avó era, assim, uma pessoa que tinha um jeito próprio de fazer as coisas. E, como eles tinham muito dinheiro, eles faziam tudo que eles imaginavam. “Ah, eu quero fazer um lago aqui e botar no meio do lago uma ilha com um templo dentro”. Põe! E tinha, aliás, quando eu era pequena. Eles eram extravagantes; se uniram por um saber, vamos dizer assim, de bancar o que você está querendo fazer. Além da cultura atávica, de família brasileira. As casas em que eu vivi na infância, as de campo, as daqui (Rio de Janeiro) e as de Petrópolis, moldaram esse gosto.
Onde eram essas casas?
No Rio, tinha na Urca, depois no Rui Barbosa. Tinha uma casa na Avenida Keller, ali em Petrópolis. Tinha sítio, tinha fazenda de café. Essas casas da família do meu pai eram muito interessantes, pois eram extravagantes e, ao mesmo tempo, eles tinham um olho para peças, móveis e suas combinações. Algo inusitado para a época. Meu gosto vem dessa liberdade de olhar e viver nas casas que não eram óbvias. Essa casa em que estamos tem muito de uma coisa que eles aprenderam uns com os outros, na minha família, da cultura europeia daquela época. A proporção da casa não é pequena, pois não foi feita com olhar acadêmico de sala de jantar, depois copa e cozinha e não sei o que, e os cubículos e tal… A toda essa experiência, juntei meus estudos em Museologia e História, além das viagens incríveis que fiz nas décadas de 60, 70 e 80.



Quais lugares você visitou?
A Índia dos anos 70 e, em especial, a casa das pessoas. Eu tive o prazer de conhecer casas de pessoas muito diferentes por conta dos amigos que fiz no colégio na Suíça. Tenho um grande prazer em parar e ficar olhando.
Você é uma pessoa observadora?
Muito. Até gosto de festa em que não conheço ninguém, porque fico numa posição estratégica. Se a pessoa disser: “você quer ir tomar um chá com um velhinho de 90 anos, mas temos que andar 4 horas de carro, 50 graus…”, eu vou! Ninguém quer ir para a casa, mas eu vou, com prazer. Então fiz muito isso em vários lugares do mundo e, inclusive, aqui no Rio. Na época do antiquário, vinha uma velhinha: “eu moro em Nova Iguaçu, mas eu herdei dos meus bisavós o mobiliário, gostaria tanto que a senhora visse”. É uma beleza. Às vezes, eu via coisas incríveis, como uma casa toda Art Noveau em Nova Iguaçu. Mas aquele Art Nouveau que eles chamam em alemão de “jugendstil“, em que as pernas das cadeiras são caules e se transformam em flores entalhadas em madeira cara. A casa inteira, quarto, sala, banheiro. Impossível de vender, claro, mas com o melhor estilo austríaco. Art Nouveau num apartamento em Nova Iguaçu.
O que você viu de mais impressionante nas suas andanças?
Eu vi muita coisa impressionante. Comecei a ser antiquária quando não tinha computador, não tinha Google, não tinha internet, não tinha outra informação a não ser o seu saber. Eram os livros, apenas. Tinha que ler, pegar, estudar, ir à Biblioteca Nacional. A gente corria às vezes para uma biblioteca para poder ver o que era aquilo, poder dizer o preço para a pessoa, achar uma pessoa que também entendesse daquilo para comprar. Hoje em dia, existe uma globalização que tornou tudo possível. Você tem poucas descobertas a serem feitas. Eu me lembro, por exemplo, quando descobri o Jean-Michel Frank. Ele é dos anos 40, e eu fui descobri-lo nos anos 90. A relação, o processo, era diferente. Você via algo em algum lugar e pensava: “Ah! Eu vi isso naquele livro”. Nos anos 90, vendi o mobiliário completo de um apartamento na Avenida Atlântica para Paris, porque o apartamento todo era com móveis do Lelé. O cinzeiro, a cozinha, a sala, a mesinha de lado. Outra coisa que também lembro é a Casa Julieta de Serpa, que eu conheci quando era ainda o palacete da família Seabra. Nem pode-se dizer que eu amo aquele estilo, mas o fato de ver aquilo como era, com todos os seus defeitos, com suas manias, com suas gracinhas… Hoje em dia é tudo parecido.



Não é necessariamente do seu gosto, mas é um coisa boa.
É incrível. E as misturas são vitorianas.
O que você levou desse know-how para o cinema?
Eu trabalhei como figurinista, e levei meu conhecimento sobre cor e textura. Aprendi muito também sobre como as roupas ficam diferentes quando filmadas. Você pode estar com uma roupa linda, mas, quando ela é filmada, talvez não funcione. Minha avó era modista e costureira, então aprendi muito com ela. A museologia me ajudou também a saber o que era roupa do século XVII, XVIII, XIX, e não obrigatoriamente a trabalhar com reconstituição de época. Às vezes, era apenas o olhar sobre uma época. Tanto que eu fiz filmes em que as pessoas comentavam: “ai, mas que beleza, isso é o Brasil rural”… Não, não era. Era Botticelli, porém servia àquele personagem, e você faz para que pareça o Brasil, colocando talvez a cor da borboleta que passa atrás. Agora, se ele é um personagem que é o príncipe encantado da moça, ele não pode estar vestido com uma túnica, descalço e chapéu de palha, que era como as pessoas se vestiam. Ele tem que estar vestido como D’Artagnan, só que um D’Artagnan brasileiro, para ninguém notar que eu usei o D’Artagnan por completo. Esse aprendizado vindo da magia do cinema foi muito importante.
Porque você tem que colocar no seu trabalho parte do imaginário coletivo sobre aquilo.
Lógico, e trabalhar com figurino não tem nada a ver com moda. Nada, nem que seja um filme feito hoje. Figurino é uma coisa, e moda é outra, totalmente diferente.





Qual é a diferença fundamental?
O figurino serve à cena. Então, se sua cena é uma cena de beijo, não interessa qual é o sapato, ou se a manga é bufante. Se o figurino serve a uma mulher que tem de tirar a roupa em uma cena de sexo, não interessa se a roupa é da moda, interessa se a roupa sai bem do corpo em três gestos. É outra outra lógica, e tem que ser estudada para cada item. Tem que ser estudada junto, inclusive, com o fotógrafo e o cenário. Tem que ter esse estudo preliminar, porque tudo pode mudar com a luz. Esse é o aprendizado da imagem. A moda, que é fascinante, procura outras coisas. A pessoa que é esperta na moda olha para quem está na rua, para quem ainda não entendeu o que está vestindo.
Você aproveita muito o bairro? Qual é a sua relação com Santa Teresa?
Eu aproveito o bairro, mas aprendi a gostar muito do Cosme Velho, de Laranjeiras. Acho um bairro interessante. Vou muito ao cinema. Eu gosto do bairro mesmo ele não estando um show. Mas eu uso e gosto.



Sua mãe chegou a morar aqui antes de você?
Nós moramos com minha mãe quando meus pais se separaram. Eu tinha uns 14, 15 anos. Minha mãe voltou para a casa dos pais com os filhos. Mas doida para sair, ir à festa e arrumar outro marido. O que ela fez rapidamente. Ficamos aqui um ano. Eu, minha irmã e meu irmão menor. Detestando, porque a gente morava em Copacabana, do lado do Arpoador. Éramos duas meninas da praia. Tínhamos namorados surfistas. Íamos e vínhamos. Vínhamos de uniforme do colégio direto para a praia. E paramos nesse lugar sem a menor possibilidade de sair daqui, porque a gente não dirigia. Com 15 anos você tem milhões de regras, de horários… Queria me matar. Eu e a Mônica, a gente sofreu, viu? Ficamos um ano até que minha mãe arrumou outro marido, que nos carregou a todos para Copacabana de novo… E a gente: “ah, qualquer um serve, contanto que seja para sair daqui”. E aí acabei voltando mais tarde.


Então a casa passou da sua vó para você?
Exato. Ninguém da minha família gosta. Engraçado, né? Mas eu gosto. Quer dizer, não que eu não goste de ir a Ipanema, mas gosto de ir e de voltar. Por exemplo, só consigo comprar livro na Livraria da Travessa, em Ipanema. Então eu saio daqui, pego um carro para ir à livraria em plena Visconde de Pirajá, me delicio de estar lá naquela esquina, naquela livraria, de comprar os livros, de sentar para tomar um vinho, de olhar o livro, de curtir. Então, para mim, Ipanema é aquilo.