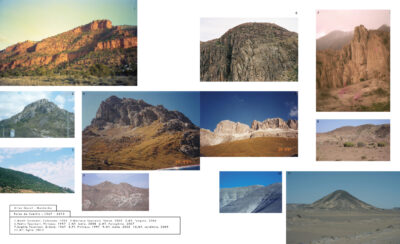Raça e cultura: Ficção Americana satiriza Hollywood e o mundo literário
O que não tem nada de novo: um escritor rabugento que um dia fez sucesso hoje batalha para publicar o seu trabalho mais recente. O que dá uma nova perspectiva para a coisa toda: esse escritor é um homem negro e sua obra não é tida como uma representação da chamada “experiência negra”, o que faz com que ele escreva jocosamente, como uma brincadeira com o poder de ir longe demais, um romance apelativo intitulado Fuck (sim, Fuck), feito para pessoas brancas se sentirem menos culpadas.

Desnecessário dizer que a piada vira realidade e o livro, lançado sob o pseudônimo Stagg R. Leigh, imediatamente vira um best-seller — para o desprezo de seu verdadeiro autor, Thelonious “Monk” Ellison, interpretado pelo sempre excelente Jeffrey Wright (indicado ao Oscar por sua performance). Fica, então, a dúvida: a piada de American Fiction recai sobre a intelligentsia branca, disposta a dar voz a autores negros mas somente sob a condição de que eles escrevam um determinado tipo de literatura, ou sobre o próprio Monk, que, de um jeito ou de outro, surfa na onda do mesmo vórtex reducionista e preconceituoso da catalogação literária?
Se algum dia o autor foi minimamente benquisto pela crítica, o mundo parece ter lhe virado as costas. Com receio, seu agente lhe diz que as editoras acham que seu trabalho não é “negro o suficiente”. Talvez sua rabugice venha daí, de um desdém por tudo que o mercado literário se tornou, mas ele se soma também a infelicidades pessoais passadas. E vale um parêntesis: por que escritores são frequentemente retratados como os de mal com o mundo? Os filmes de Hollywood insistem em retratar essas pessoas como prepotentes e inevitavelmente macambúzias, muitas vezes reduzindo-as a esteriótipos enclichezados. Para ser justo, o personagem de Wright não é reduzido a isso e, além dos esforços do roteiro, o próprio ator ajuda a dar mais camadas ao que poderia ser só mais um escritor chato com mania de corrigir os outros, mas é curioso notar a facilidade com a qual os roteiristas caem nessa vala tão batida.
Seja como for, o conjunto pessoal e profissional do autor o deixou amargurado, mas isso não quer dizer que esteja disposto a sacrificar seus princípios. Ele pode estar abatido, mas não quer contar histórias de pessoas negras envolvidas em tráfico, não quer fazer com que seus personagens participem de tiroteios, não quer sentir a necessidade de concluir um arco narrativo com uma morte melodramática. A “experiência negra” de Monk, cuja família é de classe média alta, é outra e ele não gosta de ver autores negros sucumbirem às demandas de um mercado elitista e predominantemente branco. O semblante taciturno, ainda que lugar-comum, tem lá sua justificativa.
Seu pai, que se suicidou há anos, convivia com uma depressão aguda; sua mãe passa a sofrer com o mal de Alzheimer; sua irmã, que almejava voos altos e era bem sucedida na sua prática médica, tem um ataque cardíaco e morre na primeira meia hora de filme; e seu irmão, um cirurgião plástico, finalmente começa a se assumir gay para o mundo, mas só depois de um casamento de fachada que durou dez anos. Fugindo da narrativa de sofrimento padrão que é quente no mercado literário e cinematográfico, seus livros são releituras de peças clássicas do teatro grego e, por serem assim, despertam nada mais do que a indiferença das livrarias e das editoras. O que foi, já queimou o seu brio; e o que há de novo não excita mais ninguém.
Em sua estreia na direção, Cord Jefferson adapta o livro Erasure, de Percival Everett, para contar uma história agridoce que morde críticas ácidas e assopra o ferimento com todo o humor de seu roteiro e a qualidade inegável de seus atores. Além de Wright, o elenco também conta com Sterling K. Brown (indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante), Tracee Ellis Ross, Adam Brody, Issa Rae e Erika Alexander. Esse morde-e-assopra só não orna quando a mordida tenta abocanhar mais do que consegue, sobrepujando os assopros e resultando numa boca cheia demais para qualquer respiro.
No meio do conflito central do escritor em plena encruzilhada entre o dinheiro e a sua integridade moral-literária, American Fiction tem como âncora um retrato familiar complexo que circunda, e define, Monk. É onde está o coração do filme, bem mais do que nas sátiras que sobram. O que de fato bombeia o sangue da narrativa e faz com que o filme se aloje de maneira tenra na memória de quem o vê são os diálogos dos irmãos, os olhares sinceros trocados com a mãe, as demonstrações discretas de afeto — o que permite, inclusive, que muitos comentários mordazes ressoem com ainda mais pertinência. Em um filme que com orgulho pretende ser muito na cara, ter esses pés no chão é fundamental para que haja um contraponto mais sussurrado e para que, assim, o todo funcione melhor.

Muito embora exista por causa disso, o filme não é sempre grandiloquente em sua maneira de criticar, ironizar, satirizar. O berro, porém, é dado em decibéis altos em dois momentos. Um deles é quando Monk participa do júri de um concurso literário em que seu livro, escrito sob pseudônimo, é concorrente. Entre os jurados, há somente duas pessoas negras: ele próprio e a autora Sintara Golden (Rae), mais cedo vista com olhos tortos por Monk, que a considera uma artista corrompida que dá ao mercado editorial exatamente o que ele quer. Os jurados brancos estão entusiasmados com o famigerado Fuck, mas os dois advogam contra ele. No fim, eles são voto vencido e o livro sai vencedor do concurso, numa explicação quase didática de como o capitalismo opera de maneira oportunista sobre as vozes negras, envelopando as vozes que deveria exaltar. Há, no entanto, um diálogo de autor para autor entre Sintara e Monk, quando os dois estão sozinhos, que faz valer o didatismo das circunstâncias.
O outro momento de afetação — nesse caso, uma afetação cheia de si que se considera bem mais inteligente do que de fato é — gira em torno da adaptação de Fuck para o cinema, quando o diretor (Brody) quer convencer o autor a mudar o ato final, pois quer mais impacto. Como um realizador tarantinesco que “subverte gêneros” com misturas inesperadas e releituras históricas, ele procura por algo que vá pegar a plateia de surpresa. Não quer o final ambíguo e sem graça escrito originalmente. Ele procura a grandiloquência que a própria sequência metalinguística, espertinha e exagerada de American Fiction tem. É então que Monk vai sugerindo novos finais, cada vez mais ultrapassando os seus próprios limites, e é claro que a versão sangrenta é a escolhida.
A metalinguagem está entre os modismos cinematográficos mais fortes do momento, e há filmes que se beneficiam muito dela, mas aqui ela soa sobretudo como evasão elaborada, uma resposta que, no lugar de chegar a um lugar satisfatório, prefere tergiversar e fazer rodeios. Ao som de uma trilha sonora suave e sentida que rege o filme inteiro com eficiência e poesia própria, os créditos aparecem e fica aquela sensação desagradável de que todo o potencial que ali existia não foi alcançado. Uma pena.
Mas há quem defenda que os deslizes são relativos. Esse é um filme de seu tempo e, como tal, se entrega de corpo e alma ao que tem a dizer, como um rechaço ao emcimadomurismo. Os tempos atuais não estão para sutilezas, certo? Fala-se aberta e excessivamente sobre assuntos que antes eram tabu e um filme que trata da mercantilização das vozes negras talvez tenha a prerrogativa de se exceder aqui e ali. Portanto, por mais que se questione a falta de finesse de um ou outro momento, talvez eles sejam necessários para que o cenário fique o mais surreal possível — bem, é uma abordagem válida para retratar uma realidade que, sim, é bastante absurda.
Não surpreende que o filme tenha sido indicado a um bom número de Oscars e em categorias importantes (filme, roteiro adaptado, ator, ator coadjuvante e trilha sonora). Se ganhou ou não, pouco importa — no sapateado entre a crítica mordaz e o bom espírito já existe muita vitória. Sua veia humorística e seus respingos dramáticos no geral funcionam bem e, no final das contas, é melhor que sua mensagem seja explícita do que cheia de dedos. Hollywood, o mundo literário e tantos outros círculos têm a missão urgente de rever a maneira como “reconhecem” as narrativas negras. Nos Estados Unidos, no Brasil e em todo o mundo. Se é sob as condições impostas por um, não é liberdade, é brecha. Com a ajuda da franqueza de American Fiction, essas vozes negras ganham um belo empurrão para ampliar ao menos um pouco esses pequenos espaços que têm lhe sido conferidos arbitrariamente.
Monk, com muita dor e possivelmente na dúvida de quem é a piada de quem, sabe disso bem: por ora, independentemente do que às vezes nos fazem crer, o canto maior e mais livre está em suspenso e não passa de ficção mal ajambrada, datilografada com um tom que chega a ser jocoso. Quem sabe, num futuro próximo e num passado distante, ela possa ser escrita pelas pessoas que a vivem, com a liberdade de fazer com ela o que bem entenderem.