
A difícil — e maravilhosa — tarefa de sonhar o Brasil
Podemos falar abertamente? A sociedade brasileira está rasgada por dentro e por fora. Temos dificuldade de vislumbrar um futuro conjunto. Não almejamos um futuro compartilhado. O coletivo deixou de ser âmbito de diálogo, de convivência, de aspirações comuns. Tornou-se um problema, um dilema, um enigma. Os outros — aqueles que não pensam como nós, que não vivem como nós, que não percebem o mundo como nós — são vistos como fonte de embate. Causam-nos irritação, indignação, desprezo.
Essa abolição do coletivo — o desmoronamento da percepção de comunidade — é muito mais grave do que a tão falada polarização ideológica ou as muitas disfuncionalidades do poder público. Ela é a origem, a causa primária da nossa crise política, do cansaço por tudo o que é público, da indiferença pelo que não é pessoal, palpável, imediato. Perdeu-se a alteridade.
O coletivo tornou-se uma abstração sobre a qual — quando muito — se pensa, se raciocina. Mas não se sonha com ele. Não se cultiva, no íntimo, um futuro possível comum. Não se imagina. Sobram ideias, slogans, lugares-comuns. Falta partilha. Falta desejo.
Não é que o afeto tenha sumido do âmbito coletivo. Nota-se a presença da raiva, do ressentimento, da inveja. Mas o carinho, a empatia, a afeição, tudo isso sumiu do espaço público. Cada vez mais, esses sentimentos estão restritos à esfera privada. A uma reduzida esfera privada: aos amigos, aos iguais. Sequer são orientados aos familiares, que, não raro, são percebidos como inimigos, como diferentes, como a parte de nós — da nossa história, da nossa identidade — que nos desperta vergonha. Uma vergonha com a qual não sabemos lidar.
Também os iguais — aqueles dos quais nos consideramos próximos —, seja por uma leve mudança de circunstâncias, seja pela descoberta de alguma característica inesperada, são facilmente transportados para o campo dos diferentes, dos rejeitados. Há uma contínua ampliação da rejeição.
Nota-se um abismo no mapa do Brasil. Somos uma sociedade desencontrada, que tem dificuldade de se reconhecer, de se entender. Ao pensar, usa-se o fígado, num processo presunçosamente intitulado de racionalidade, de objetividade, de maturidade, de realismo. Mas não há isenção, não há lógica, não há método. O que há é o despejo de um mundo interior não socializado, não dialogado, não entendido, não refletido. É uma matéria-prima bruta, que produz atrito, que gera ruído, que causa divisão. Paradoxalmente, essa brutalidade convive com a hipersuscetibilidade. Dos outros, exige-se suavidade e consideração, ao mesmo tempo em que se distribuem socos, pontapés, cusparadas.
Menos desigualdade. Mais educação. Mais saúde. Mais segurança. Mais liberdade. Menos preconceito. Sim, sabemos elencar os elementos desejáveis para uma coletividade saudável. Mas o próprio anúncio desses tópicos traz a marca da frustração, da desesperança. Temos medo dos sonhos. Medo de sermos ingênuos. Medo de pedirmos paz e parecer que estamos sendo condescendentes com retrocessos, com abusos, com injustiças. Tudo se tornou complicado, cansativo, angustiante.
A imaginação — a possibilidade de uma resposta criativa às questões da vida e do mundo — está bloqueada. Foi lacrada pelo olhar alheio e pelo nosso próprio olhar, pelas nossas inseguranças, pelas nossas incompreensões, pelos nossos afetos.
Qual é o nosso futuro? Há possibilidade de futuro?
Nada é imutável, tudo é humano
Visto sob essas luzes, o cenário brasileiro assusta. Mas — no humano, sempre existe a conjunção adversativa — esse quadro não é a única resposta, a única possibilidade. A realidade não é um monolito definitivo. Suas condições não são imutáveis. Nada é um dado inexorável. Trata-se sempre de uma construção, de uma escolha.
Talvez isto seja o mais desafiador: reconhecer que esse presente, tão marcado por embates, tensões e divisões, não é simples resultado da ação de terceiros. É fruto da nossa própria conduta, das nossas ações, das nossas omissões. Também nós somos responsáveis por esse presente problemático, desigual, violento.
Essa constatação pode nos envergonhar, nos paralisar, mas também pode ser libertadora. Admitir nossa responsabilidade pelo presente é vislumbrar que o futuro não está determinado. Ele está disponível para nós. Está por ser tecido com nossas agulhas, com nossas linhas.
Talvez alguém pense que aqui se romantiza. Somos pequenos. Somos frágeis. Somos incapazes, tantas vezes, da nossa própria vida, que nos supera, que nos engole. Se é difícil ver autonomia em nossa própria trajetória, frequentemente moldada mais pelas circunstâncias do que propriamente por escolhas, como assumir, numa espécie de passe de mágica, o protagonismo pelo futuro do coletivo?
O questionamento é pertinente e nos ajuda a ver outra camada do problema. Não estamos diante de uma mera crise da coletividade. Há uma crise da própria individualidade, da identidade pessoal. Quem nós somos? Como nos enxergamos?
Talvez isso soe teórico; concretizemo-lo, pois. Como educamos nossas crianças? Quanto tempo dedicamos a elas? Como acompanhamos os idosos? Que admiração temos por quem os acolhe e cuida deles? Quem somos para quem vive uma situação social menos privilegiada? Como nos relacionamos? Como cuidamos da nossa calçada? Como gastamos nosso tempo livre? Quais são os nossos desejos? Como cantamos? Como usamos os nossos olhos? O que lemos? Ao que assistimos?
Sociedade não é abstração. É convivência, tempo gasto, cozinha compartilhada, abraço, aperto de mão, beijo, olho no olho. É confiança, é conversa, é confidência, é estranhamento, é aprendizado, é troca. Para viver tudo isso, temos de estar inteiros, minimamente inteiros. Conscientes de quem somos, da nossa história e do nosso presente. De outra forma, o futuro será simples repetição, reprodução de velhos hábitos — ainda que estejamos vestidos com roupas diferentes.
Reimaginar o humano
Não é questão de voluntarismo. De achar que basta querer. Que basta se esforçar. Não é questão de motivação, de pensar positivo. Decide-se o jogo — melhor dito, a aventura — em outra esfera.
É preciso reimaginar o humano sem encaixotar tudo em nossas lentes, em nossas percepções, em nossas sensibilidades. O humano é diverso, plural. E talvez aqui esteja o fio possível para costurar o tecido Brasil: a diversidade, o respeito pelo outro, com suas maravilhosas idiossincrasias.
Nada disso é tarefa intelectual, que se ensina com método e argumentos. É feito com a generosidade de olhar o outro em sua integridade, sem atribuir intenções distorcidas a quem pensa de forma diferente.
Mais do que simples altruísmo, isso é humanidade. Só vendo o outro com generosidade — abdicando de medi-lo com a nossa própria régua — é que saberemos nos enxergar. Só assim poderemos captar nossas limitações e lidar em paz com elas. Só assim poderemos nos transformar.
A preocupação com o coletivo não é uma espécie de sofisticação. É item de primeira necessidade para que possamos viver como humanos. Não se pode tapar o sol com a peneira. Os seres humanos sonham: o presente não é definitivo. Somos seres temporais, abertos à mudança, à transformação. Por isso, uma sociedade dividida é também uma sociedade paralisada, a desperdiçar sua energia com pequenezes.
Os seres humanos sonham, e, se não sonhamos, – se estamos incapacitados de detectar os sonhos profundos que permeiam nosso interior –, algo não vai bem. E é preciso enfrentar o sintoma de maneira genuína.
Vivemos hoje a utopia da tecnologia. Tem-se a expectativa de que, com suas engenhosidades e múltiplas inteligências, ela nos oferecerá as soluções. Mas soluções para quê? Não sabemos sequer formular para nós mesmos as questões que verdadeiramente nos inquietam.
Essa utopia é paralisante, preguiçosa: o futuro torna-se obra dos outros. A nós caberia acompanhar as tendências, aproveitar as novidades, usufruir dos novos gadgets. Mas será que não vemos que a tecnologia, espetacular, por si só, é incapaz de tecer o humano, de costurar o coletivo? Usuário massivo das redes sociais, o Brasil contemporâneo é prova cabal dessa disfunção.
O futuro não é obra dos outros. A vida tem uma dimensão coletiva, mas é sempre também profundamente pessoal. São planos interconectados. Não basta a tendência macro. Não bastam as decisões de Estado. Não basta o que os outros fazem, sentem, dizem. A sociedade é um tecido diariamente costurado por todos – e por cada um.
Falar em sonho não é enganar-se com uma fantasia. É resgatar o que há de mais íntimo e, ao mesmo tempo, mais coletivo, mais relacional. Vivendo nos conectamos. Sonhos não são meras imagens dentro da nossa cabeça. São motores: entusiasmo, impulso de vida. São frestas de futuro, que acendem o desejo de trabalhar mais, de realizar mais, de se conectar mais genuinamente com as pessoas, de contribuir mais.
Sonhos são desejo de vida, imaginação de caminhos. Ao sonhar, ao construir as condições para o sonho, abre-se a possibilidade de se tecer um novo sentido, mais genuíno, menos solitário, mais solidário. Sonhemos, pois, corajosa e suavemente.
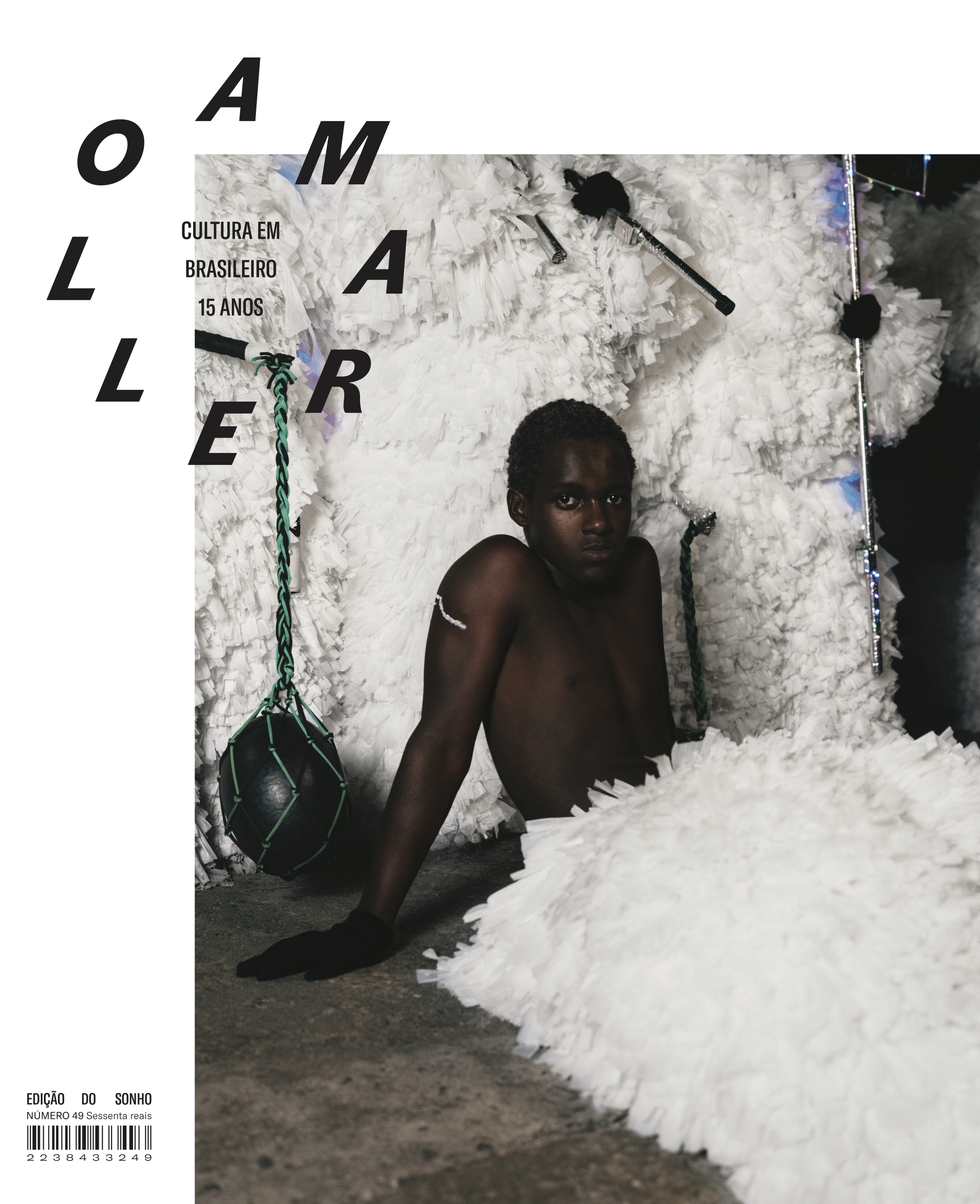
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista












