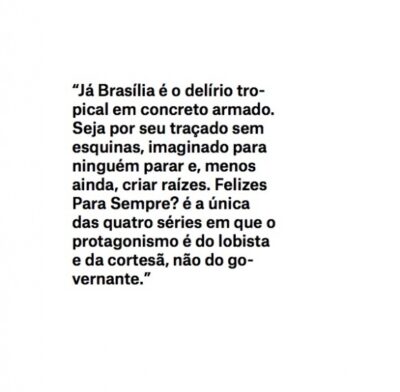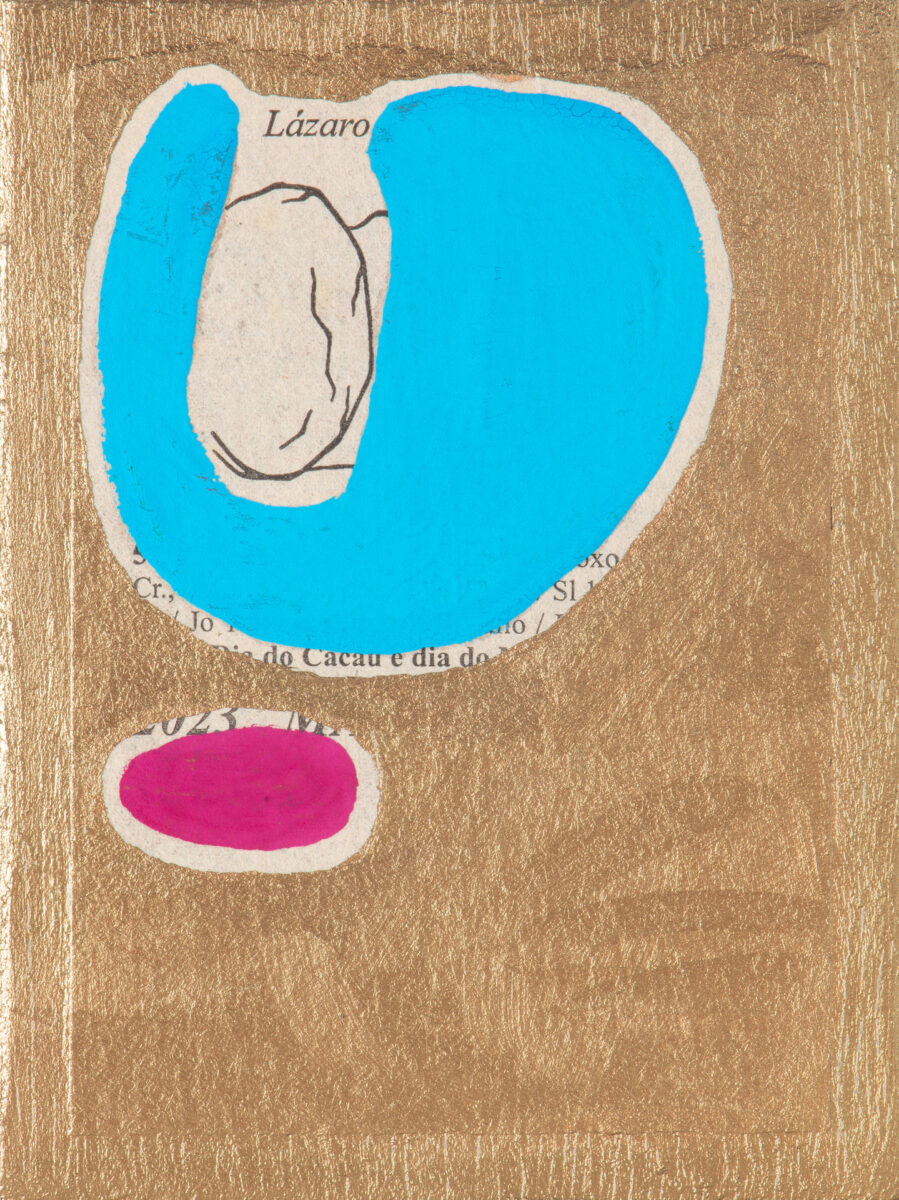
Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais
“Só podemos falar nossa própria
língua quando acertarmos
as contas com a língua
de nossos pais”
— O que é meu, José Bortoluci
Minha avó paterna, quando ficou viúva, achou que um ano “guardando luto”, como mandavam os bons costumes, era tempo demais. Contrariando as fofoqueiras da cidade, encheu a mala com roupas coloridas e batom vermelho e decidiu fazer um cruzeiro. O tempo da dor era determinado por ela, e não pela norma vigente. Era uma mulher moderna para a época: deixou as cartas que enviaria da lua de mel já prontas antes do casamento, para não perder tempo precioso da viagem. Tinha pressa de curtir a vida, sabia que ela passava depressa. Diziam que, quando ia à igreja, o calor do interior era tal que ela erguia a saia na missa para se abanar, e, quando reprimida pelas minhas primas, temendo que mostrasse a calcinha, dizia: “Não quer ver estrela, não olhe para o céu”.
Minha família materna é mineira, e, desde que me entendo por gente, uma cesta com forro de crochê e um punhado de pão de queijo é o jeito mais lindo de ser cuidada por alguém. Quando me casei, decidi dar um almoço para alguns amigos. Em cima da hora, liguei para minha mãe e pedi os tais forrinhos de crochê bordados pela minha tia, pois a casa não estava completa sem eles. Lembro-me tanto dela na cozinha, seus dedos amassando a massa de pão de queijo, sujos de manteiga. Até hoje, quando mexo na massa, recordo a textura das suas mãos. O polvilho preenchia a tigela, sujando seu anel. A pressa em me agradar era tanta que nem se lembrava de tirar a joia, tingindo-a de farinha em um instante. Recordo a voz da minha mãe ecoando pela cozinha, brigando com minha tia por causa do descuido com a joia de família: “Tira o anel da mamãe! Para de mimar essa menina. Você faz tudo o que ela pede”. Outro dia, antes do café da manhã de meus filhos, fui limpar o porta-manteiga e, ao sentir a gordura em meus dedos, era como se estivesse encostando outra vez na sua mão.
Aos domingos, quando era pequena, eu podia escolher: ir à missa com minha mãe ou nadar com meu pai. A verdade é que eu tinha muita dificuldade em prestar atenção no sermão do padre e, às vezes, até fugia para brincar com uma amiga no quintal da igreja. Minha mãe cansou de brigar e acabou cedendo: a piscina vencia. Bem cedo, fazia minha mala com maiô e toalha e íamos aproveitar o dia de sol. Antes de começarmos a brincar na água, eu tinha que aguardar meu pai nadar seus dois mil metros, seu esporte diário. Ele então inventou uma técnica para me ajudar a esperar: a cada piscina que nadava, ele ia até a borda e me contava um pedaço de filme. Depois, nadava outra piscina, voltava e me oferecia mais um pedaço. Eu esperava cada capítulo como quem aguarda uma saborosa fatia de bolo esfriar antes de comer.
Foi assim que conheci a lealdade da amizade. Com Cinema Paradiso, emocionei-me com a história do menino Totó, que salva Alfredo de um incêndio que o deixa cego. Numa manhã de verão, com a história de Cidadão Kane, descobri toda a solidão que grandes fortunas podem trazer. Desde cedo, admirava a valentia de Scarlett O’Hara e o valor do trabalho com sua célebre frase: “Jamais sentirei fome novamente”. Entendi as dores dos desencontros ao conhecer a história do casal de Tarde demais para esquecer, que marcam um encontro no Empire State Building, em Nova Iorque, mas a moça é atropelada antes de atravessar a rua. Compreendi a rivalidade entre irmãos ao assistir Baby Jane. Quando chove, sinto vontade de dançar na chuva à la Gene Kelly, e tenho certeza absoluta de que Fraulein Maria foi minha babá.
São tantos os filmes que nadam de braçada no meu livro de memórias que hoje, adulta, acredito que essas lições tenham sido mais eficientes do que um sermão de missa, pois reverberam dentro de mim com muito mais intensidade do que qualquer oração. Estão em meu altar, como referências pelas quais, muitas vezes, passeio na busca de compreensão do mundo. Hoje, a piscina ainda está lá, mas meu fim de semana tem outros barulhos: crianças correndo pela casa. Às vezes, passo pela piscina olímpica, olho saudosa para a raia e relembro aquela menina sentada na borda, ansiosa pelo próximo capítulo da história. Após tantos anos, há apenas silêncio e águas paradas. A verdade é que essa memória pertence a um outro capítulo da minha história familiar, que foi definitivamente encerrado no ano passado, quando desfiz o apartamento da minha mãe, após sua partida.
Assistir nosso lar se transformar em uma fotografia é uma missão quase impossível. Encaixotar aquilo que nos fazia sentir que havíamos chegado em casa é uma experiência que esmigalha a alma. Uma moldura afetiva se desmantelou quando fechei a porta da casa onde cresci, e todos aqueles objetos tornaram-se resíduos de uma história familiar que não existe mais, da qual sou a única testemunha que sobrou. Ainda temo levar bronca da minha mãe quando vejo suas coisas fora do lugar — quadros no chão, louças embaladas em jornal. Penso que ela brigaria comigo pela desordem e, em seguida, percebo que tanto ela quanto meu pai hoje mudaram-se para a bagunça do meu coração.
Doar os DVDs de filmes clássicos, colecionados por tantos anos pelo meu pai, foi duro demais, assim como as roupas e todos aqueles objetos que um dia me aconchegaram. Antes da chegada do novo inquilino da minha antiga casa, via as caixas de papelão nos cantos e cantarolava em silêncio: “Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada”. Ninguém sai imune ao tempo, e assistir à nossa sagrada família (com todos os seus sagrados defeitos) evaporar é atravessar o abismo do desamparo. Criamos filhos também para aguentar ver o mundo de onde viemos desaparecer. E, ao mesmo tempo, tentamos recriá-lo, consertá-lo a partir de nossa própria experiência. Teremos nossos erros, que certamente serão apontados pela geração sucessora com a mesma intensidade com que, um dia, apontamos os defeitos de nossos pais. Mas tentaremos acertar, assim como eles tentaram, e inevitavelmente falharemos em muitos aspectos. Porque mães e pais são feitos de material humano, e portanto, imperfeitos.
Na família, aprendemos a amar e a odiar, como disse Freud em Romances familiares. A criança, até certo momento, idealiza os pais e, posteriormente, na adolescência, ao descobrir as falhas dessas figuras parentais anteriormente idealizadas, vai em busca de novos heróis, de outros modelos de identificação. Para o autor, “Todo esforço para substituir os pais é uma expressão de saudade, de um lamento pelos dias felizes que se foram”.
Quando crescemos, contudo, somos surpreendidos pelo fato de que há algo das raízes de nossa infância que nunca nos abandona e que segue sendo replicado na rotina do dia a dia. É como um forro de crochê no qual repousa nossa alma. O filme da nossa família original continua dentro da gente, ainda que estejamos maduros, ainda que eles não mais existam. Nunca é tarde demais para esquecer quem já fomos, e nossas estruturas enquanto indivíduo se perpetuam enquanto existirmos.
Hoje sou adulta, mãe, e ocupo um lugar diferente do que já conheci. A verdade é que nossa posição familiar é dinâmica, assim como a vida. Nossos papéis vão se alternando conforme o trabalho do relógio: a filha torna-se mãe, o pai torna-se avô. E esse dinamismo das estações temporais é fundamental também para nosso crescimento e para a compreensão de que nada é estático, tudo se renova. E sempre há uma possibilidade de recomeço, de futuro.
Acompanho, na clínica psicanalítica, de forma muito próxima, essas possibilidades de renascimento e reorganização das relações. Filhas e mães que viviam em atrito e que, quando a filha vira mãe, se reaproximam; pais que conseguem se separar após a saída dos filhos de casa; e por aí vai.
Como dizia meu pai: a chance de ser feliz existe enquanto a gente está vivo. Novos capítulos, novas histórias sempre podem surgir. E é preciso criar laços para tolerar, razoavelmente, o desamparo de assistir às mudanças e ao desaparecimento da nossa família de origem.
Essa sensação familiar é passível de ser recriada pela nossa capacidade de criarmos laços. Aqui, quando me refiro a laços, não são necessariamente filhos; podem ser amigos, planos, sonhos. Qualquer projeto futuro que nos tire das perigosas garras da nostalgia de um tempo que não mais existe, que nos faz viver a vida de olho no retrovisor e nos aponte o norte de uma nova possibilidade, um novo rumo. Uma mala de vestidos coloridos para que possamos dançar novamente.
Atualmente, tenho um novo ritual dominical: cozinho para as crianças. Quando ponho a mesa para a minha família, coloco a toalha da minha avó, os talheres da minha tia, faço a receita de pesto do meu pai e não empilho pratos ao tirar a mesa, como me ensinou minha mãe: assim encontro todos nós juntos de outra forma. Embora meus domingos já não contem com a presença física desses personagens, tudo o que ganhei deles em vida é, de alguma forma, reproduzido e, silenciosamente, homenageado nessas novas reuniões dominicais, uma nova temporada do filme da minha vida. Essa é a maior herança que quero deixar para meus filhos: a crença de que reencontros no tempo e no espaço são possíveis, que nada se perde por completo se for plantado com uma conexão genuína. E conexões genuínas não precisam ser perfeitas para serem imortais; precisam ser inteiras.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista