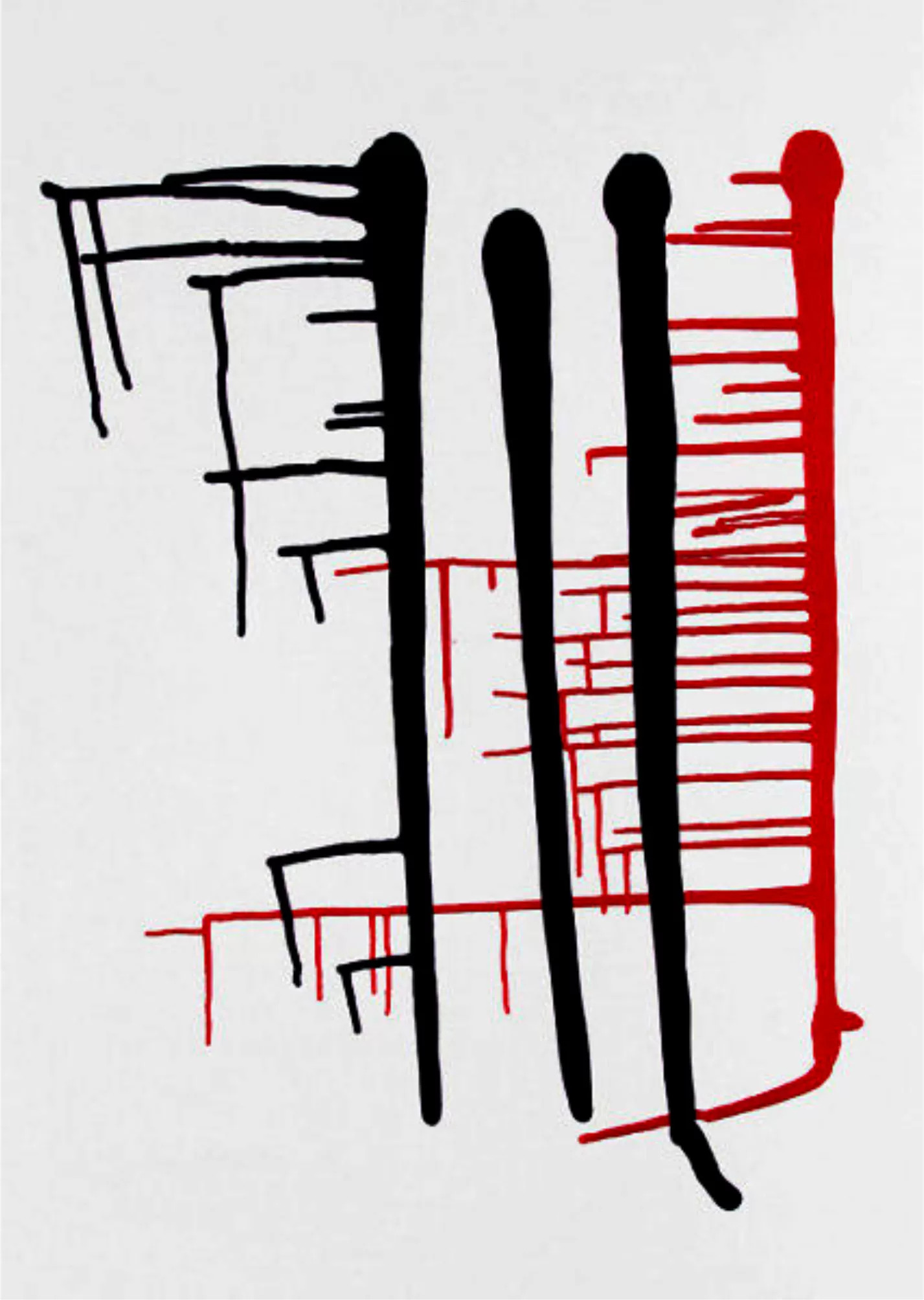Assim nasceu a humanidade
Ao longo da história, nada teve maior impacto na vida coletiva das mulheres do que o ato de dar à luz. O parto é um momento transformativo na vida de uma mulher e o ato definitivo da história da humanidade, sem o qual nossa espécie não teria sobrevivido. Pode ser um momento de profunda realização e conquista, de admiração pela força materna e de infinito amor, mas nem sempre assim é. Às vezes, ele é marcado pelo trauma, pela dor e pela perda, e é sempre um momento de fragilidade e perigo para a saúde das mães e dos bebês.
“Uma lente histórica revela que o parto é também uma construção social, que diverge entre culturas, religiões, classes socioeconômicas e, principalmente, na esfera médica, é construída pelos meios de ganho de conhecimento, economia e tecnologia”
O fato de o parto ser de extrema dificuldade para nós, seres humanos, se deve à nossa evolução. Fósseis de seis milhões de anos mostram sinais precoces do bipedismo, um processo evolutivo que demoraria mais quatro milhões de anos, incluindo o surgimento do Australopithecus, hominídeo bípede. Mesmo andando em pé, seus esqueletos sugerem que a sua forma de andar era bastante diferente da nossa. Aos poucos, nossos quadris diminuíram para comportar sua nova estrutura, em que a pélvis e os ossos da coxa se encaixaram de uma maneira que nos permite andar em pé por períodos prolongados. O Homo erectus, espécie hominídea encontrada na África e datada a cerca de dois a 1,8 milhões de anos atrás, é o nosso primeiro parente ancestral com bipedia estritamente terrestre e não arbórea, com proporções semelhantes à do homem moderno, e por isso com uma forma de andar parecida. Justamente por isso foi batizado de erectus — homem reto ou homem que fica em pé.
Enquanto isso, nosso cérebro vivia sua própria evolução espantosa. Ao longo de milhões de anos, o cérebro humano triplicou de tamanho e tornou-se desproporcionalmente maior em relação ao resto do nosso corpo em comparação a outros animais. Esse conjunto de fatores evolutivos, a pélvis estreita e o cérebro grande, resultou em bebês com cabeças maiores tendo que passar por canais vaginais bem mais estreitos. Assim, o trabalho de parto tornou-se mais lento, mais dolorido e muito mais perigoso.
Por isso nós, mulheres, passamos a necessitar de ajuda durante o parto. A figura das parteiras, papel que, em sua essência, descreve uma pessoa que assiste no parto, surgiu centenas de milhares de anos atrás. Historicamente, elas eram mulheres mais experientes que auxiliavam a parturiente durante o trabalho de parto — que não à toa se chama trabalho. Às vezes rápido, mas frequentemente demorando horas, o parto é uma provação. A função das parteiras era (e continua sendo) o de apoiar a mãe no que for necessário.
Isso tudo pode nos parecer um tanto óbvio. Afinal, o parto é uma experiência cotidiana e universal. As mulheres dão à luz desde o início da humanidade, e nosso corpo está programado para a reprodução da espécie. Nos parece lógico, sabendo que o parto é difícil e doloroso, que alguém deva acompanhar a mãe. Porém, uma lente histórica revela que o parto, assim como o papel da parteira, e mais adiante, dos médicos e hospitais, é também uma construção social, que diverge entre culturas, religiões, classes socioeconômicas e, principalmente, na esfera médica, é construída pelos meios de ganho de conhecimento, economia e tecnologia. O parto, enfim, não se restringe a um ato fisiológico, mas é também um espelho do momento e da sociedade em que se vive. Isso é algo unicamente humano.
Os registros históricos mais antigos que temos são esculturas e imagens de seis a sete mil anos antes de Cristo, encontradas onde hoje se situa a Turquia. Elas retratam uma deusa, sentada em um trono dando à luz, a cabeça do bebê visível entre suas coxas. De fato, na maioria dos registros antigos de várias culturas, vemos que as posições mais utilizadas eram verticais, com a parturiente em pé, ajoelhada, de cócoras ou sentada em alguma espécie de cadeira, trono ou banco especializado. Temos imagens dessas posições no Egito, na Grécia, na Roma Antiga, na Índia, no Japão, na China e pelo mundo afora. Estas posições ainda são praticadas em comunidades onde a obstetrícia ocidental não é dominante, mostrando uma continuidade no ato do parto através da história, interrompida apenas pela medicalização do parto no Ocidente a partir do século XVII.
As cenas de parto no Egito Antigo são numerosas e uma excelente fonte de informações, pois abrangem milhares de anos entre as primeiras dinastias faraônicas até o Império Romano. Em sua maioria, são relatos em papiro, com conteúdo médico e religioso, com magias e encantos para a proteção das mães e bebês, assim como descrições de complicações durante e após o parto e possíveis tratamentos para diferentes órgãos, como o útero, a bexiga, a vulva e o abdômen da mulher. O aspecto místico ou religioso, longe de ser uma indicação de ignorância sobre o corpo, demonstra que o plano espiritual e o corpo físico não operavam em âmbitos separados, mas eram parte comum e complementar dos conceitos de fertilidade e saúde. Não existia cura sem magia nem magia que não estivesse em busca de proteção ou cura. Tão importante era esse aspecto religioso que a faraó Hatshepsut registrou a assistência de vários deuses no seu parto, momento que imortalizou na parede de seu templo mortuário em Deir el-Bahari. Cenas de partos fazem parte de outros templos e de pequenas capelas do Egito Antigo, sempre com a gestante sendo acompanhada por outras mulheres, que lhe prestam assistência. Algumas mostram mulheres em pé; outras, sentadas. Existe até um hieróglifo específico para o parto — uma mulher sentada, a cabeça do feto visível entre suas pernas. De igual importância para os egípcios era o cuidado prático com o momento do parto. Arqueólogos descobriram tijolos de 3,7 mil anos, chamados meskhenet, o nome também dado à deusa do parto. Eles eram posicionados debaixo dos pés das mulheres que davam parto de cócoras para ajudar no posicionamento correto da pélvis.
Universo feminino
Mesmo na Antiguidade, o parto era um domínio feminino. O que essas imagens antigas mostram é que mulheres eram sempre apoiadas e assistidas por outras mulheres, fato que continuou por centenas de anos. Durante a Idade Média na Europa, a medicina era baseada em textos de filósofos da Antiguidade, principalmente Galeno e sua teoria dos humores, Hipócrates e Aristóteles. Estes médicos-filósofos focavam primeiramente na saúde dos homens, e a saúde feminina era pouco estudada (algo que, diga-se de passagem, ainda acontece no século XXI). Portanto, os “assuntos” femininos eram deixados de lado, sob responsabilidade das mulheres, hábito reforçado por tabus que ditavam quais homens tinham acesso ao corpo nu de uma mulher — em muitas culturas, apenas o marido.
“Independentemente de onde o parto se dava, a parturiente estava sempre cercada de outras mulheres. Era um universo estritamente feminino”
As parteiras formavam, portanto, uma parte essencial do nascimento de uma criança. Eram mulheres mais velhas e experientes. A palavra midwife, “parteira” em inglês, vem do inglês arcaico mid e wif, ou “com mulheres”. Na Jamaica, são chamadas de nana, ou “avó”, assim como no Japão, onde até recentemente eram chamadas de sanba, ou “idosa”. Em francês, eram as sages-femmes, ou “mulheres sábias”, e, em dinamarquês, as jordemoder, ou “mães da terra”. As parteiras abrangiam todas classes sociais, e não havia um curso ou treinamento específico para se tornar parteira. Em muitos casos, as “parteiras” eram apenas parentes ou vizinhas mais velhas da grávida, que já tinham passado pelo nascimento de seus próprios filhos. Era o caso principalmente entre as famílias de mais baixa renda ou que viviam em zonas rurais muito isoladas.
Havia também parteiras profissionais, que eram pagas pelo seu serviço. A partir do século XV, essa passou a ser uma profissão mais regulamentada. Alguns municípios na Europa central, como na Alemanha e na Bélgica, passaram leis sobre a prática da parteira, definido os parâmetros dos serviços que elas poderiam oferecer. Mas, em sua maioria, a profissão de parteira não exigia nem uma educação formal, nem era organizada em guildas medievais. O treinamento ocorria através da prática, e muitas parteiras iniciavam sua carreira acompanhando outra parteira, mais experiente, por vários anos, aprendendo o ofício a partir da observação e da participação em partos.
As parteiras profissionais eram mais comuns em centros urbanos, e eram bem pagas se o bebê nascesse saudável, especialmente se fosse menino. Aceitavam moeda, mas, entre famílias mais simples, muitas vezes eram pagas com uma troca de serviços ou bens, como ovos, galinhas, leite, mel e pães, ou em tecidos ou roupas. A parteira profissional trazia mais experiência e ajudava a parturiente de várias formas, como, por exemplo, a trocar de posição e a controlar a dor com bebidas feitas à base de diferentes ervas. Também cuidavam do bebê, monitorando sua posição e, quando necessário, inserindo as mãos dentro do canal vaginal para tentar girar um bebê que estivesse em posição obstruída. Elas ainda estimulavam a respiração do recém-nascido, cuidando para desenrolar o cordão umbilical caso estivesse no pescoço do bebê.
Não era uma profissão sem risco. Caso o bebê nascesse com alguma má-formação, a parteira poderia ser acusada de haver o enfeitiçado. Em 1484, o Papa Inocêncio VII proclamou uma bula que ordenou a investigação acerca da bruxaria e de heresias. Os dois inquisidores encarregados de liderar a investigação, Heinrich Kraemer e James Sprenger, anexaram a bula papal a um dos mais danosos documentos já produzidos, o Malleus Maleficarum, ou “martelo das bruxas”. Nele instruíam homens a identificar uma bruxa, dando início a uma perseguição terrível. Parteiras, muitas vezes mulheres mais velhas em posições sociais mais vulneráveis (por serem, por exemplo, viúvas sem a proteção legal de um marido, ou por terem conhecimento de ervas e curas caseiras), eram alvo fácil dessa perseguição. As parteiras desafiavam, assim, as crenças institucionais cristãs, pois não só levavam a população a acreditar que elas tinham algum poder sobre a vida ou morte de uma criança, como, ao olhos da Igreja, o trabalho delas intervinha na expiação do pecado original, ou seja, ao prestar assistência e amenizar a dor da parturiente, não permitiam que as mulheres se livrassem da mácula do pecado original, que toca a todas as mulheres em função de seu sexo. Entre os séculos XVI e XVII, mais de sessenta mil pessoas foram condenadas à morte por bruxaria; apesar disso, o papel da parteira era tão fundamental que continuou sendo de praxe por séculos.
A grande maioria das mulheres dava à luz em casa, fosse esta um casebre simples ou um palácio. Porém, em algumas culturas, como os maori da Nova Zelândia, as mulheres eram proibidas de fazê-lo, para evitar atrair a presença de maus espíritos para o seu lar. No Japão Antigo, o parto era um evento durante o qual a mãe e o bebê flutuavam entre o mundo dos mortos e dos vivos. Por isso, a mulher dava à luz em uma sala ou cabana especial, que a separava da vida cotidiana. Mulheres francesas campesinas muitas vezes optavam por dar à luz nos celeiros, para ter um pouco de paz longe de outros filhos e para facilitar a limpeza após o parto.
Na Inglaterra medieval, ao pai do bebê era dada a função de ir de porta em porta, avisando amigas e vizinhas, do parto iminente, para que elas pudessem prestar assistência. Uma vez feito isso, ele era proibido de participar do parto. As mulheres ajudavam a trocar lençóis, lavar a roupa de cama, buscar água quente, assim como ajudar a cuidar de irmãos mais velhos, de trazer comida e até de cuidar do marido nos dias seguintes ao parto. O nascimento de uma criança era razão para comemoração, e era um evento social, uma chance para colocar a fofoca em dia, tanto que, em inglês, essas mulheres ajudantes eram conhecidas como God-siblings, ou “irmãs de Deus”, expressão que aos poucos se transformou em God-sibs, e eventualmente em gossips, ou “fofoqueiras”. Isso demonstra o aspecto social e comemorativo do parto, durante o qual se botava o papo em dia. Era um evento de que toda uma comunidade participava, e um momento comunitário de solidariedade com a mãe, que nunca se encontrava sozinha.
Para mulheres da aristocracia, e em especial da realeza, o parto também tinha importância política e ganhava um caráter quase de espetáculo. O nascimento de um herdeiro homem podia garantir a continuidade de um reinado, enquanto nascimentos de filhas geravam a oportunidade de alianças políticas e militares no futuro através de casamentos vantajosos. As mulheres aristocráticas iam à igreja rezar pela saúde do bebê, e, algumas semanas ou meses antes do parto, se recolhiam para um período de repouso dentro de seus aposentos. Lá se criava um ambiente que imitava o útero, quente e escuro: o chão e as paredes eram revestidos de tapetes e tapeçarias; todas as janelas, exceto uma, eram cobertas, para evitar a entrada de vento encanado, considerado perigoso para a saúde da mãe; o fogo era aceso na lareira e assim mantido o tempo todo; e velas providenciariam a única fonte de iluminação. Ali a grávida descansava, rezava e refletia, se preparando para o momento do parto, que era assistido por diversas figuras da corte. O parto era também um dever.
Porém, independentemente de onde o parto se dava, a parturiente estava sempre cercada de outras mulheres, parteiras, parentes e vizinhas. Era um universo estritamente feminino. As mulheres pariam no seio da família, confiando no seu instinto e na ajuda de outras mulheres.
A medicalização do parto
O processo de medicalização do parto começou no século XVII, sob influência da corte francesa. O médico François Mauriceau, da escola obstétrica francesa, foi encarregado pelo Rei Louis XIV de encontrar uma maneira que permitisse o monarca de enxergar melhor o momento do nascimento do bebê. O parto real era, afinal, matéria de importância nacional, e a saúde dos herdeiros poderia garantir a continuidade do reino. Louis XIV teve vinte e dois filhos, e assistiu o parto tanto de seus herdeiros oficiais como de seus bastardos, frutos da união com sua esposa e com suas amantes, que deram à luz deitadas de costas, pernas erguidas.
“Com essa institucionalização do parto, ocorre um afastamento da família e da rede de apoio da mãe no momento do nascimento”
Esse foi um legado maldito para as mulheres, pois essa posição, que ganhou popularidade primeiro entre as aristocratas e depois se espalhou pela sociedade, não favorece o processo do nascimento. Além dessa nova posição, a força da escola obstétrica aos poucos empurrou as parteiras para o segundo plano, trocadas pela figura do médico, normalmente homem. As parteiras continuavam a assistir, mas, quando qualquer intervenção se tornava necessária, os médicos eram chamados. Isso tornou o momento do parto um embate, não sendo incomum ter um médico dando ordens contrárias às sugestões da parteira. Havia também outro problema. Por questões de pudor, médicos muitas vezes drapeavam um lençol sobre o quadril da mulher e apenas guiavam o bebê com as mãos, sem olhar o que estava acontecendo.
Apesar do avanço da profissão médica, adentrando um âmbito antes estritamente feminino, as técnicas não haviam se aprimorado tanto. Ainda se sabia muito pouco sobre a fisiologia da gravidez e a mecânica do parto. Partos eram momentos de grandes riscos para as mães e seus filhos. Havia muitas coisas que poderiam dar errado, e a mortalidade materna seguia alta. As causas mais comuns incluíam infecção, hemorragia e pré-eclâmpsia. O risco ao feto também era elevado, especialmente em partos obstruídos, com bebês que não se encaixavam corretamente, com cordões umbilicais envoltos no pescoço ou que ficavam sem oxigênio se presos no canal vaginal por muito tempo. Todas essas preocupações agora tinham que existir ao lado de ideias e tratamentos trazidos pelos médicos de outras áreas. As práticas que haviam evoluído ao longo dos séculos foram substituídas por novos entendimentos do corpo. Por exemplo: na Europa, um fungo chamado Claviceps purpurea, conhecido como ergot, era usado por parteiras para acelerar o trabalho de parto e para diminuir o sangramento pós-parto, enquanto os médicos introduziram a prática do sangramento para livrar a mulher dos maus humores — uma ideia no mínimo desaconselhada, visto que a hemorragia era uma complicação frequente. Assim, aos poucos, as mulheres foram desapropriadas de seus saberes, e as parteiras foram perdendo seu lugar em prol dos médicos cirurgiões.
No final do século XVI, o médico inglês Peter Chamberlen inventou o primeiro fórceps, que mais tarde foi aprimorado. Isso gerou, de fato, uma mudança no aspecto clínico obstétrico. O fórceps nada mais é que um instrumento criado para extrair bebês, puxando-os pela cabeça através do canal vaginal em partos mais difíceis ou prolongados, sendo utilizado para evitar a mortalidade materna e perinatal — ou seja, em casos extremos. Ele foi um grande avanço, pois substituiu a única outra alternativa nesses casos extremos, a do parto cesariano. A cesárea, que hoje domina o cenário obstétrico no Brasil, em pouco se assemelhava à cirurgia que temos hoje. Era um último recurso, pois a mãe, na maioria das vezes, não sobrevivia. Manuscritos persas e assírios já mencionavam a retirada de bebês pela via abdominal, mas a prática ficou comum no contexto do Império Romano. Existe até uma lenda, um tanto duvidosa, de que a cirurgia assim se chama porque a mãe de Júlio César foi a primeira mulher a ter um parto cesariano. O que sabemos é que havia uma lei em que proibia o enterro de gestantes antes que se retirasse o bebê do ventre. Se este sobrevivesse, seria chamado de cesare, e talvez essa seja a origem do nome. O importante é ressaltar que, nessa época, a cesárea era feita apenas em partos nos quais a mãe já havia morrido, como uma última chance de salvar a vida do feto. Era uma prática rara, pois não rendia bons resultados, tanto que foi apenas na Idade Média que recomeçam os relatos de cesáreas: o primeiro é de 1337, na República Tcheca, e nele conta-se que a Rainha Beatrice de Bourbon desmaiou no final da gravidez. Achando que ela havia morrido, começaram a cirurgia para tentar salvar o bebê, no meio da qual Beatrice acordou. Outro relato é de 1500, na Suíça, onde uma cesárea foi feita não por um médico, mas por um castrador de porcos, que chamou parteiras para tentar salvar a vida de sua mulher. Elas não conseguiram ajudar. Ele então chamou os cirurgiões-barbeiros, que se recusaram a abrir a barriga da grávida. Por fim, no auge do desespero, ele mesmo fez a cirurgia, e a mãe e o bebê sobreviveram. Mas foi apenas com a invenção da anestesia, no século XVIII, que médicos-cirurgiões passaram a tentar a cirurgia em grávidas ainda vivas, com o intuito de salvar ambas as vidas, da mãe e do bebê. Mesmo com a ajuda da anestesia e com os avanços no campo médico (que contava então com um maior entendimento do corpo humano graças às autópsias, que viraram prática mais comum em escolas de medicina), dados mostram, por exemplo, que, entre 1787 e 1876, nenhuma mulher sobreviveu a uma cesárea na cidade de Paris. Era ainda algo muito perigoso. Assim, a invenção do fórceps salvou a vida de muitas mulheres e bebês por evitar a cesárea. No século XIX, a cada mil mulheres, cerca de 275 morriam, uma taxa altíssima.
A invenção do fórceps salvou, portanto, a vida de muitas mulheres e muitos bebês, proporcionando uma alternativa mais segura, mas não sem seus riscos. Além dessa invenção, a medicina passou por vários outros avanços, como o desenvolvimento da teoria dos germes, que mostra que infecções são causadas por bactérias. Médicos e parteiras notaram que mortes por infecção poderiam ser evitadas se as mulheres dessem à luz em ambientes mais estéreis e limpos. Pela primeira vez na humanidade o parto deixou de ser um evento realizado no seio familiar e passou a acontecer cada vez mais em hospitais e centros especializados, as maternidades. Surgiu também o saneamento básico, que melhorou as condições de salubridade. E depois, no século XX, é descoberta a penicilina, que diminuiu em muito as mortes por infecções. Esse conjunto de anestesia, antibiótico e um conjunto de profissionais, obstetras, parteiras e pediatras, reunidos em um único ambiente corta significativamente a mortalidade materna e neonatal. Os hospitais passam a adotar cada vez mais práticas que se tornam rotineiras, como o uso de campos estéreis, a desinfecção da vulva e de instrumentos médicos, o uso de enemas para limpar o cólon antes do parto e roupas especiais e limpas para médicos e enfermeiras.
Esse ideal do parto limpo como sendo o melhor levou a outras práticas com o cuidado dos bebês. Ao nascer, eles são imediatamente separados das mães e levados para um berçário, onde tomam banho. Em conjunto com o parto limpo, surge também a ideia de que o melhor parto é um parto rápido, pois se acreditava que um parto lento aumentava o risco de faltar oxigênio para o bebê. Logo começam, assim, intervenções com ocitocina, ruptura de bolsa, manobras manipuladoras e episiotomia. A mulher perde a autonomia até na decisão da posição de seu corpo, tendo de ficar em posição deitada para facilitar o monitoramento e trabalho dos profissionais. Com cada intervenção, aumenta o número de parâmetros a serem monitorados por máquinas e aparelhos especializados — análises, ecografias, avaliação dos sinais vitais.
Com essa institucionalização do parto, ocorre um afastamento da família e da rede de apoio da mãe no momento do nascimento, pois hospitais e maternidades não foram pensadas para acomodar a parturiente, mas sim para as necessidades médicas dos profissionais da saúde. E por ter de permanecer internada em quartos muitas vezes coletivos, com regras definidas pelas instituições hospitalares, as mulheres tornam-se cada vez mais passivas diante dessas regras e normas, diante da perda da privacidade e do seio familiar.
É nesse momento que se solidifica a figura do médico como protagonista do parto. É ele (na sua grande maioria histórica, foram eles, e não elas) que passa a decidir como e quando a mulher irá parir. É tirada completamente da mulher a capacidade de sentir seu próprio corpo e de deixar os instintos guiarem a natureza. De repente, ela se encontra apática, figurante do seu próprio parto, monitorada por aparelhos incompreensíveis e cercada de médicos preocupados apenas com o quadro clínico. A ela, mãe, agora cabe apenas um papel de fragilidade e de exposição total, longe da família e da comunidade, presa a uma cama, deitada, participante quase inativa.
Nascer no Brasil
O Brasil se destaca no mundo por um fator extraordinário: é o país com a segunda maior taxa de partos cesarianos do mundo, atrás apenas da República Dominicana. O cenário é descrito como uma “epidemia da cesárea” por parte da comunidade médica. Como chegamos nisso?
“O debate em torno da cesárea no Brasil deve incluir também discursos sobre riscos e segurança”
A primeira cesárea registrada no Brasil é creditada ao doutor José Correia Picanço, Barão de Goiana, e foi realizada em Pernambuco, em 1822. Porém, a obstetrícia realmente teve início no país com a criação das escolas de medicina, em 1852. No final do século XIX, as primeiras maternidades começaram a surgir em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e nessa época a cesárea, no Brasil, continuava sendo a exceção, recorrendo-se a ela apenas em casos de obstrução durante o trabalho de parto. O índice de mortalidade materna após uma cesárea continuava muito alto por causa de infecções.
Até então, caso a escolha tivesse de ser feita entre a vida da mãe ou do bebê, a vida do bebê era a que prevalecia. Porém, após uma decisão da Academia Francesa de Medicina, em 1852, que defendia dar prioridade à vida da mãe, muitos médicos adotaram a prática da embriotomia, procedimento extremamente perturbador, em que o feto é cortado em pedaços dentro do ventre para poder ser extraído, esteja ele vivo ou morto. Isso resultava, obviamente, em 100% de óbito para o bebê, e imagina-se o quanto era uma experiência invasiva, violenta e traumatizante para a mãe.
Enquanto o fervor pelo avanço técnico levava os médicos a apoiarem a embriotomia como procedimento, a prática no Brasil foi fortemente condenada pela Igreja Católica, que considera o momento da concepção como o momento que dá início a vida. Portanto, para a instituição, a embriotomia não passava de assassinato. As mulheres grávidas se viram, assim, na encruzilhada dos interesses religiosos e médicos. O corpo da mulher, mais uma vez, é campo para batalhas éticas, ideológicas e legais.
Na primeira metade do século XX, a embriotomia caiu em desuso, e voltou a preferência pela cesárea. Essa mudança se deve a dois fatores: avanços e inovações na técnica da cirurgia, incluindo a posição do corte e os pontos dados na mulher, assim como a chegada da penicilina; e a aprovação do Código Penal, em 1891, e do primeiro Código Civil, em 1916, uma vez que ambos concederam proteções legais às vidas do feto e da gestante.
O século XX também viu um projeto político e social para a construção do cidadão brasileiro. Era um cenário complexo, portanto, em que havia um objetivo básico de fornecer à pátria filhos saudáveis — os futuros trabalhadores que construiriam uma grande nação. O controle do corpo da mulher se tornou, assim, parte desse projeto, e a profissão médica dependia de exercer esse poder total sobre o ato do nascimento — e não apenas no ato, mas na própria definição do que ele deveria ser. Isso não quer dizer que os obstetras não acreditavam estar fazendo o melhor pela parturiente e pelo bebê, mas que sua produção de conhecimento era responsável pelo aumento vertiginoso das intervenções médicas durante o parto no Brasil. Através de análises, medicamentos, procedimentos e comportamentos muitas vezes eficientes, eles contribuiram para a queda da maternidade materna e neonatal, mas geraram, involuntariamente, outros aspectos negativos.
Hoje, no Brasil, acima de 90% das mulheres têm assistência pré-natal, tanto na zona rural quanto na urbana. Mais de 70% das mulheres têm mais de seis consultas pré-natais, um dos indicadores de sucesso para evitar a mortalidade da mãe. O nosso percentual de partos realizado fora de ambientes hospitalares está abaixo dos 2%. Nos anos 70, a taxa de cesáreas no Brasil era em torno dos 15% — a Organização Mundial da Saúde (OMS) define a taxa normal de cesáreas (aqueles partos que realmente necessitam de uma intervenção cirúrgica) em 10-15%. Em 2022, porém, chegamos a 57,7% no país. Por quê? Porque a institucionalização do parto em ambientes hospitalares resultou em um número crescente de intervenções. Mulheres grávidas com um risco habitual, ou seja, sem uma gravidez de risco, estão sendo expostas, sem nenhuma necessidade médica, a intervenções como uso de cateteres, rupturas de membrana, indução ao estourar a bolsa ou falta de movimentação ou troca de posição, o que não favorece o parto. Além disso, deve falar da episiotomia, que é um corte cirúrgico feito no períneo, além do uso de medicamentos para acelerar o parto. Em outras palavras, no Brasil, mulheres de risco habitual e mulheres de alto risco estão recebendo as mesmas intervenções, indiscriminadamente.
Porém, essas cesáreas não são distribuídas de forma igual. A taxa é de 85% no setor privado e apenas 40% no setor público, indicando uma forte predileção pelo parto cesariano entre mulheres com maior grau de escolaridade e de mais alto padrão econômico. Entre mulheres não brancas, a taxa cai tanto para a cesárea em si quanto para o uso de medicamentos que aliviam a dor (por exemplo a anestesia epidural). Esse é um triste fenômeno, às vezes denominado “cor da dor” uma vez que a raça de uma mulher pode implicar diferença nas intervenções que serão oferecidas a ela durante o seu parto. Esses diferentes tratamentos com base em classe e cor, assim como estruturas e práticas patriarcais, contribuem para que as taxas de mortalidade infantil negra continuem mais altas do que a branca. Os problemas são desiguais: enquanto mulheres em melhores condições financeiras podem encontrar resistência para garantir o parto vaginal em uma gravidez de risco habitual, mulheres não brancas, de rendas mais baixas, ainda sofrem para conseguir acesso ao mesmo nível de atendimento.
O debate em torno da cesárea no Brasil deve incluir também discursos sobre riscos e segurança. Ao ver de muitas mulheres (e profissionais obstétricos), a cesárea oferece um risco controlado e controlável — ela rápida, segura e limpa —, enquanto o parto vaginal lhes parece um risco incontrolável e imprevisível. Não apenas o risco é controlável, mas, com uma cesárea eletiva, se pode agendar a data do nascimento, retirando do cenário um elemento de incerteza que pode gerar ansiedade e ajudando no planejamento de licença maternidade, férias, ajuda com filhos mais velhos e assim por diante. Há também o medo da dor do parto, que causa terror em algumas mulheres. Por aspectos como esses a cesárea ficou com fama de ser a opção “mais fácil”, deixando-se de lado que ela é uma cirurgia abdominal séria, com recuperação lenta e muitas vezes dolorosa.
Hoje existem vários movimentos que buscam mudar o cenário do parto no país. Em 1996, Organização Mundial da Saúde publicou o manual Boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento, com várias orientações em torno do parto. Essas orientações são baseadas em evidências científicas de estudos feitos ao redor do mundo. A principal meta do manual é mostrar que o melhor caminho para obter o parto mais saudável é oferecer o menor número de intervenções possíveis compatíveis com a segurança da parturiente e do bebê. Esse movimento em prol da “humanização” do parto entende a gravidez e o parto como eventos fisiológicos naturais que, em 80% dos casos, não necessita de tratamento ou intervenção médica. Logicamente, nos 20% dos casos em que há necessidade de intervenções, estas devem ser realizadas, de forma a manter a mãe e o bebê em maior segurança e conforto possíveis. Em outras palavras, a parte médica deve se basear nas mais fortes evidências e práticas científicas, sem sacrificar o apoio, o acolhimento, a autonomia e o respeito à parturiente, figura central do parto.
Esses são os objetivos do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento instituído pelo Ministério da Saúde, com base nas orientações da OMS e com o entendimento que devemos adotar “medidas e procedimentos sabidamente benéficos para o acompanhamento do parto e do nascimento, evitando práticas intervencionistas desnecessárias, que, embora tradicionalmente realizadas, não beneficiam a mulher nem o recém-nascido, e que com frequência acarretam maiores riscos para ambos”.
O projeto Rede Cegonha, implementado pelo Ministério da Saúde como parte desse movimento de humanização, é hoje uma das principais estratégias do Sistema Único de Saúde, o SUS, para acompanhar a gestante durante a gravidez, o parto e pós-parto, além de prestar assistência a crianças até os dois anos de idade. O país conta com 270 serviços hospitalares habilitados na Rede Cegonha, entre eles 18 Centros de Parto Normal, ou Casas de Parto, em funcionamento. Estas são unidades de saúde destinadas aos partos de risco habitual, fora dos (mas em proximidade de) estabelecimentos hospitalares, que possibilitam a presença de acompanhantes, que oferecem opções como banheiras e massagem para as parturientes, com ambientes em que estas possam se movimentar durante o trabalho de parto, e terapias como a aromaterapia e outros confortos. Existe hoje a meta de construir mais 30 desses centros em 19 estados brasileiros. É um passo na direção certa; porém, ainda temos um longo percurso a traçar.
***
Após perder dois bebês, com nove e doze semanas de gravidez, respectivamente, tive minha primeira filha aos 36 anos de idade, o que é considerada uma gravidez geriátrica. Aos 30 anos de idade, havia sofrido uma trombose venosa na perna, e isso pode ter levado a um problema que me fez perder os bebês. Na terceira gravidez, tomei injeções anticoagulantes que me ajudaram a manter o feto. Moro em Estocolmo, na Suécia, país referência em parto humanizado. Com 40 semanas e três dias de gestação, e sem nada da minha bebê dar o ar da graça, insisti muito com as médicos para ter o parto induzido, contra a indicação da minha parteira, que é quem faz o acompanhamento pré-natal no país. Até então eu havia tido uma gravidez saudável, de risco habitual, porém, pelo fato de ser mais velha, de ter um histórico de perda e de morar em um país com uma cultura totalmente diferente, sem dominar o idioma, me sentia muito insegura e ansiosa. Minha ginecologista no Brasil havia me dito que, se estivesse tendo o parto em São Paulo, teria tido uma cesárea marcada para as 39 semanas de gestação por causa dos fatores que já mencionei. Porém, a parteira que acompanhou minha gravidez aqui parecia despreocupada. A cada consulta, media o batimento cardíaco da neném, avaliava a minha barriga e me perguntava como estava me sentindo. Fiz apenas dois exames de ultrassom. Vinda do sistema brasileiro, me sentia totalmente perdida e desamparada.
Por isso insisti no parto induzido, sem ter maiores informações e com nenhum entendimento sobre quais seriam as intervenções feitas, no meu caso. Entrei no hospital em uma quinta-feira. Durante os quatro dias que se seguiram, em trabalho de parto, recebi hormônios como prostaglandina, via vaginal, e ocitocina intravenosa. Tive intervenções não farmacológicas, como o deslocamento das membranas do útero, em que a parteira manipula as membranas com os dedos, e, no segundo dia, um cateter com um balão foi inflado no colo do útero. Na terceira noite, tive a ruptura da bolsa com o que me parecia uma espada, longa e pontiaguda. Recebi óxido nitroso e morfina para administrar a dor, aos quais tive uma reação negativa já na primeira noite, e passei a vomitar descontroladamente pelos dias seguintes. Fiquei muito enfraquecida e desidratada, e passei a receber soro e glicose intravenosos. Minha dilatação não passava dos sete centímetros. Por fim, no domingo, minha filha nasceu depois de uma cesárea de emergência.
Se pudesse viajar no tempo, voltaria àquela grávida ansiosa, aterrorizada, e diria “calma, seu corpo não está pronto ainda, confie nele”. Todas as intervenções que sofri não ajudaram a minha filha a nascer, e, por fim, por preocupação com a minha saúde, ela teve que sair à força. Passei anos lidando com as consequências. Tive uma recuperação muito dolorosa e difícil, e me sentia um fracasso como mulher. Passei muito tempo, após o parto, tentando aceitar a sensação de vulnerabilidade, de falta de autonomia e de desamparo que tive durante todo ele. Não sabia o que estava sendo feito ao meu corpo e me senti uma participante passiva do nascimento da minha filha. Mesmo com o sistema mais bem equipado para partos humanizados, a minha história foi — talvez, reconheço com desconsolo, em parte por insistência minha — de intervenções que a cada vez mais escalonavam a piora do meu estado fisiológico e psicológico. Por isso, hoje advogo com tanto fervor pela humanização do parto, para que nós, mulheres, possamos voltar a sentir poder e autonomia sobre os nossos corpos, para que todas nós, ao redor do mundo, sejamos tratadas com respeito, mantidas bem informadas sobre os aspectos médicos do parto. Para que possamos, junto à equipe médica, ter uma experiência positiva nesse momento tão fundamental para a humanidade.
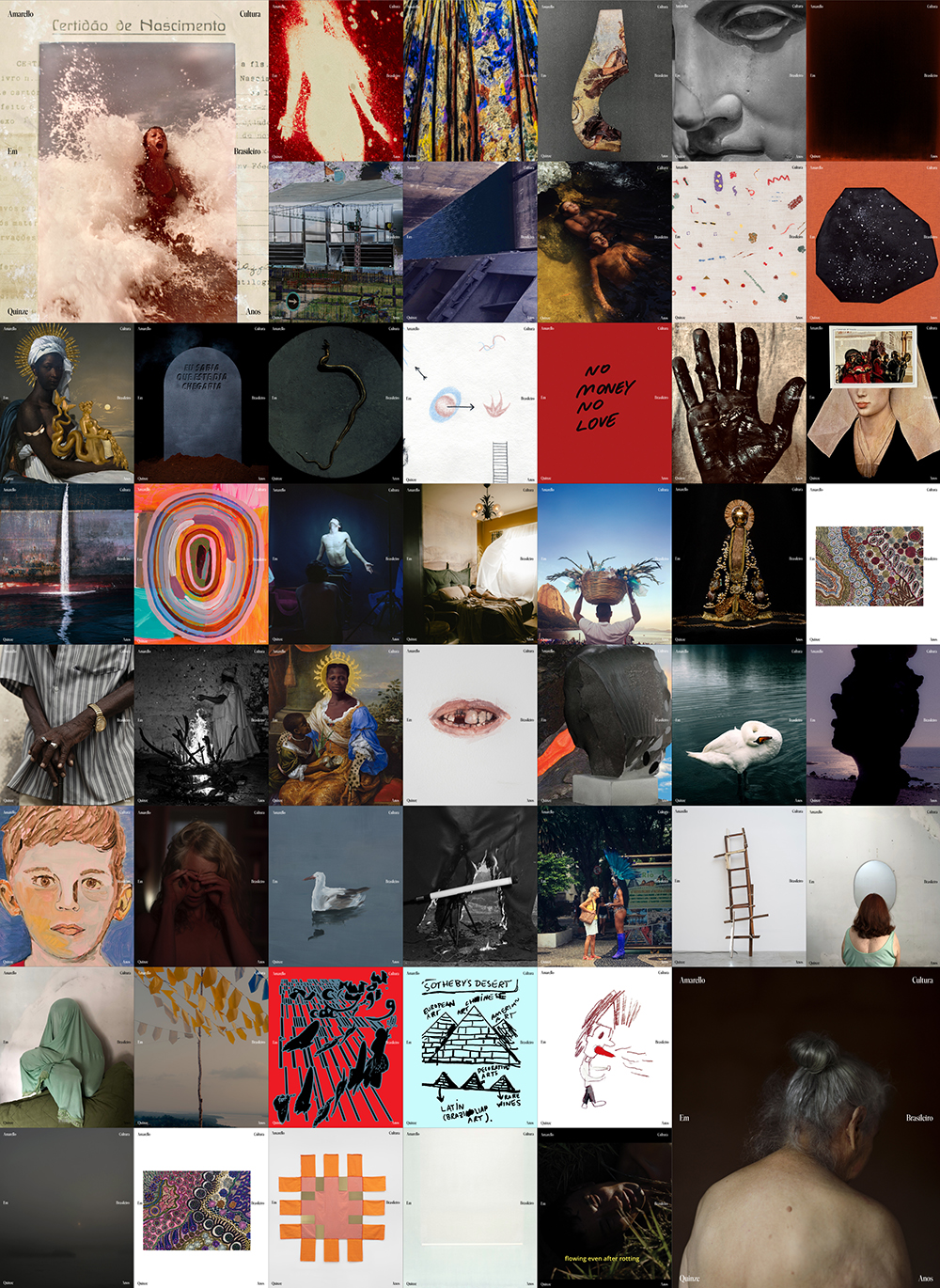
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista