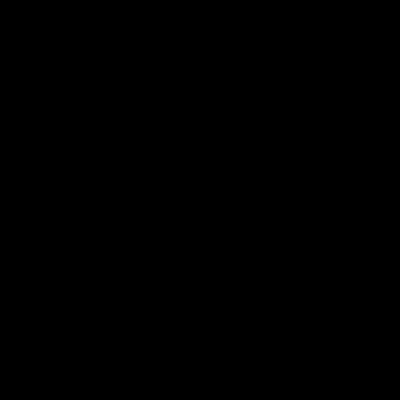No mundo artístico, o debate sobre as diferenças entre plágio e influência é uma constante. A humanidade vem produzindo arte há um bom tempo, então é natural que fórmulas se repitam e semelhanças ocorram aqui e ali, seja em qual for a manifestação analisada.
Quando acusações de plágio acontecem, reputações são abaladas, questionamentos éticos surgem e a obra em questão é submetida a um escrutínio público. O processo é complexo para todas as partes envolvidas. Como, afinal, definir o que é e o que não é plágio? Há formatos que permitem uma inspeção mais objetiva (a progressão similar de acordes similares, as mesmas palavras usadas numa frase, etc.), mas, mesmo nesses casos, é preciso refletir sobre os limites tênues entre a cópia e a influência, além de pensar em como aplicar quaisquer que sejam os parâmetros de maneira equânime — se isso for, de fato, possível. E em um mundo como o nosso, onde as narrativas canônicas costumam vir de um mesmo lugar, seria ingenuidade pensar que é.
Como um ótimo adendo à discussão, chegou ao Brasil, pela editora Fósforo, o livro A Mais Recôndita Memória dos Homens, do escritor senegalês Mohamed Mbougar Sarr. Vencedora do prestigiado prêmio Goncourt, a obra nos convida a ponderar sobre um punhado de questões fundamentais a partir de um ponto de vista histórico, que volta o nosso olhar para trás, mas que, ao mesmo tempo, nos empurra na direção de episódios recentes, como o infelizmente sempre atual silenciamento de vozes africanas e algumas acusações ocorridas no mundo da música.

Em 2018, na sempre movimentada e bela Paris, Diégane Latyr Faye, um jovem escritor do Senegal — autor cujo último romance, tido como um fracasso pelo protagonista, vendeu “setenta e nove exemplares nos primeiros dois meses” —, enfim encontra o livro que sempre procurou, O Labirinto do Inumano. Seu autor, o lendário T.C. Elimane, em resposta a uma escandalosa acusação de plágio que mobilizou a comunidade literária francesa dos anos 1940, desapareceu do mapa. Fascinado pelo silêncio ao qual se resumiu a vida desse mito, Diégane — um claro alter ego do próprio Sarr — inicia então seu percurso para desvendar os enigmas por trás do desaparecido, e tão promissor, autor, que chegou a ser chamado de “Rimbaud negro” em uma resenha pelo jornal L’Humanité.
É importante dizer que, muito embora seja fictício (assim como a resenha do L’Humanité), Elimane é baseado em um autor real: o malinês Yambo Ouloguem (1940-2017), que em 1968 ganhou o prêmio Renaudot com Le devoir de violence (O dever de violência) e, depois de acusações de plágio, sumiu sem deixar vestígios. Por que isso é importante? Ouloguem era um escritor negro, de Mali, e foi escorraçado não só dos círculos acadêmicos da França, mas da vida social como um todo. Esse caso real respinga pelas páginas de Sarr e tudo que seu livro tem a dizer sobre muitas das problemáticas do mundo da cultura.

Num labirinto literário e geográfico empolgante que não deixa escapar nenhuma oportunidade de crítica, o autor de Senegal rebate cada fascínio com uma ressalva e cada pé atrás com um encantamento. É um equilíbrio que se deixa pesar para cá e para lá pela gravidade da História, sem que a verborragia se sobreponha ao prazer da narrativa.
Mohamed Mbougar Sarr mergulha nas profundezas da memória coletiva africana, explorando temas como identidade, história, colonialismo e resistência. O laureado romance oferece uma perspectiva única e poética sobre a experiência africana, trazendo à tona narrativas e vozes que muitas vezes foram marginalizadas e silenciadas (ou até mesmo apagadas). Os ecos de Roberto Bolaño, que também salpicou suas visões de mundo escrevendo sobre perambulações obstinadas em busca de um mistério literário, são claros. Eles são, inclusive, explicitados na epígrafe de A Mais Recôndita Memória dos Homens.
“Por algum tempo, a Crítica acompanha a Obra, depois a Crítica se desvanece e são os leitores que a acompanham. A viagem pode ser comprida ou curta. Depois os leitores morrem um a um, e a Obra segue sozinha, muito embora outra Crítica e outros Leitores pouco a pouco se ajustem à sua singradura. (…) E um dia a Obra morre, como morrem todas as coisas, como se extinguirão o Sol e a Terra, o Sistema Solar e a Galáxia e a mais recôndita memória dos homens.”
— Trecho da epígrafe de A Mais Recôndita Memória dos Homens, extraída de Os Detetives Selvagens, de Roberto Bolaño
O enredo do livro se desenrola em linhas temporais distintas, entrelaçadas com um liga-pontos novelesco de saltar aos olhos: para além da contemporaneidade que acompanha um jovem africano em busca de sua própria voz e de respostas indigestas sobre o mercado literário, a Argentina pós-guerra também serve de cenário, assim como a região do Sahel, onde um soldado africano se vê envolvido em uma trama que envolve o exército colonial francês. Esse tipo de costura, na verdade, incute no leitor uma noção praticamente palpável de que o passado e o presente são tão somente nomes diferentes dados para as mesmas realidades — e isso vale para a Europa, para a América Latina, para a África. Politicamente falando (quiçá, emocionalmente também), há muita força numa contraposição bem feita de épocas, ainda mais quando esta se sustenta sobre bases que fogem das exposições batidas, por vezes desnecessariamente complexas, com as quais estamos acostumados.
Ao incorporar elementos mágicos e mitológicos que alcançam decibéis ainda mais altos por terem o frescor da especificidade, Sarr desafia as convenções narrativas tradicionais de um cânone que, sabemos, é tanto elitista quanto branco, masculinizado e eurocentrista, conseguindo assim explorar as profundezas da psique africana e trazer à tona uma história coletiva complexa e rica. É por essas e outras que A Mais Recôndita Memória dos Homens é uma obra que se conhece e se assume profundamente, sem demonstrar qualquer medo de colocar o dedo em muitas feridas, nem mesmo que isso signifique críticas duras contra o mundo da literatura francófona, que, curiosamente, abraçou a obra.
Não foi um acaso que o trabalho de Sarr ganhou o prestigiado prêmio Goncourt de 2021, chancelando mundialmente um autor senegalês de 31 anos (hoje, com 33 anos) e, pela primeira vez em mais de cem anos de história, fazendo isso com alguém da África subsaariana. É um dos prêmios literários mais importantes do mundo, o que torna tudo ainda mais instigante e digno de comemoração.
Edmond Goncourt (1822-1896), que dá nome à premiação, foi um escritor e crítico literário francês. O primeiro Prêmio Goncourt foi concedido, em 1903 — sete anos após a morte de Edmond. Desde então se tornou um dos prêmios literários mais prestigiados da França e, consequentemente, do mundo, sendo conhecido por impulsionar a carreira de muitos escritores. O Goncourt é concedido anualmente, sempre no início de novembro. O vencedor recebe um prêmio em dinheiro e uma grande quantidade de atenção da mídia, o que muitas vezes leva a um aumento significativo nas vendas e na visibilidade da obra premiada.
Ao longo dos anos, o Prêmio Goncourt tem sido um importante indicador de tendências literárias e tem ajudado a impulsionar muitas carreiras notáveis na França. A história do prêmio é marcada por uma lista de vencedores que inclui alguns dos maiores nomes da literatura francesa e mundial — sem exageros. Dentre os laureados, pode-se mencionar Marcel Proust (1871-1922), que recebeu o prêmio em 1919 por Em Busca do Tempo Perdido, Albert Camus (1913-1960), premiado em 1957 por A Queda, e Marguerite Duras (1914-1996), agraciada em 1984 por O Amante.

Ou seja, ter Mohamed Mbougar Sarr nesse hall impressionante de autores e autoras representa um marco significativo na história do prêmio e da literatura mundial, quebrando barreiras e ampliando a diversidade de vozes reconhecidas e valorizadas. A vitória de Sarr não apenas colocou a África Subsaariana no centro do cenário literário mundial, mas também serviu como um lembrete poderoso de que a literatura é um espaço onde as vozes marginalizadas podem e devem ser ouvidas. Essa conquista histórica abre caminho para que mais autores africanos e de outras partes do mundo tenham suas histórias compartilhadas e celebradas, contribuindo para a diversidade e o enriquecimento do panorama literário global.
É de se pensar também, como o próprio Sarr faz, que receber esse convite pomposo para fazer parte de um clube tão restrito pode ter lá suas razões escusas. Mantenha seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda, talvez? “Não sei exatamente como interpretar”, disse ele em uma entrevista. “Isso significa que o senso de humor deles é melhor do que se acredita? É uma forma de me silenciar ou de me endossar com o prêmio? Mas, no fim, eu realmente espero que a premiação tenha acontecido porque este é, acima de tudo, um bom livro.”
Em outra entrevista, endereçou o tema do plágio, que, aliás, é uma das principais questões do romance. Onde está a linha que demarca o que é plágio e o que é influência, colagem ou o que os acadêmicos chamam de intertextualidade? Sarr afirma que um dos critérios para definir isso é a cor da pele.
“Quando você escreve, diante de toda a biblioteca escrita antes de você pelos grandes autores, você se pergunta: ‘O que eu posso trazer de novo?’ A resposta é simples: ‘Nada.’” Segundo ele, é possível reinventar narrativas por meio de seu estilo pessoal, e isso pode gerar bons livros, mas dificilmente se escapará de tudo o que o cânone já produziu. “E o ponto é, quando você pertence a essa tradição literária, pode brincar com ela, mas quando você é de outro lugar, será que pode fazer isso sem ser acusado de plágio?”

A Mais Recôndita Memória dos Homens faz uma acusação veemente à comunidade literária francesa, e do resto do mundo, dizendo com dedo em riste que narrativas que não pertencem à elite branca vêm sendo roubadas sem quaisquer tipos de consequências. As repercussões, muito pelo contrário, costumam ser positivas, enaltecendo a pessoa plagiadora por uma suposta criatividade. Quem irá questionar aqueles que detêm poder, aqueles que dominam a narrativa padrão? É por isso que Sarr afirma categoricamente que a cor da pele com certeza é um dos critérios que definem o plágio ou o não-plágio. É como o trecho de uma resenha do jornalista fictício Auguste-Raymond Lamiel (um dos muitas contidos no livro), escrevendo para o L’Humanité, que diz: “Toda a história da literatura não é a história de um grande plágio? Que seria de Montaigne sem Plutarco? La Fontaine sem Esopo? Molière sem Plauto? Corneille sem Guillén de Castro?”
A arte é um território fértil para a inspiração mútua, e é comum que obras sejam influenciadas por outras. No entanto, a linha que separa a influência legítima do plágio é tênue e muitas vezes subjetiva. Mohamed Mbougar Sarr, em sua obra, levanta essa discussão ao explorar a mais recôndita memória dos homens, em que a criação artística é enraizada em uma rede de influências que se entrelaçam ao longo do tempo.
“— Só quero escrever um bom livro, Stan, um livro que me dispense de fazer outros, que me livre da literatura, um livro como O labirinto do inumano, entende?
— Entendo, sim. Mas vocês, escritores e intelectuais africanos, bem que poderiam desconfiar de certos reconhecimentos. Mais dia, menos dia, a fim de apaziguar sua consciência, a França burguesa vai consagrar um de vocês”.
— Trecho do diálogo de A Mais Recôndita Memória dos Homens
No final, é bem possível que os Les Dix do Goncourt, como são conhecidos os votantes do prêmio, perpetradores de uma forte herança, tenham tido o bom senso de aceitar que seus herdeiros, ao se apropriarem dessa herança pela qual eles vivem, podem tanto renunciar a ela quanto zombar dela.
Como toda grande obra e autor, nem Mohamed Mbougar Sarr nem A Mais Recôndita Memória dos Homens podem ser facilmente classificadas. E, depois do Goncourt, o vasto labirinto de criador e criatura parece ter ficado ainda mais complexo. Por anos a fio, essas paredes vão mudar ora para lá ora para cá. Ainda assim, seguirão despertando interesse, levando a caminhos que continuarão sendo desvendados. Justiça foi feita.