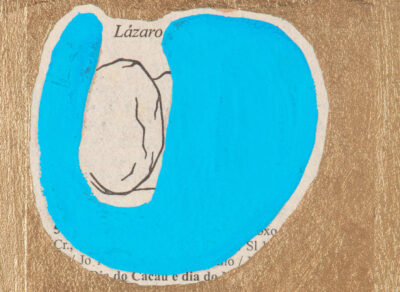Cy Twombly, 1986
Em 2013, após um término de namoro, decidi ler Fragmentos de um discurso amoroso, de Roland Barthes. É um livro interessante, que aborda o tema em ordem alfabética, reunindo escritos em uma colagem textual. Lembro que, a cada página, fui redescobrindo o amor como quem tateia um novo vocabulário.
Essa forma enciclopédica de enunciar, me apaziguou. Pude crer, na época, que era possível traduzir, pesquisar e treinar o sentimento – à moda estruturalista. Mas, durante a leitura, um capítulo me arrebatou. Eu havia chegado na página 94, nomeada como A espera. Li, reli algumas vezes e fechei o livro para reter as páginas.
Nove anos depois, segue sendo o único fragmento que eu não perdi. Não guardo memória alguma das outras partes, já A espera, sei quase de cor.
Começa assim:
“ESPERA. Tumulto de angústia suscitado pela espera do ser amado, no decorrer de mínimos atrasos (encontros, telefonemas, cartas, voltas).”
E termina assim:
“Um mandarim estava apaixonado por uma cortesã. ‘Serei sua’, disse ela, ‘quando você tiver passado cem noites a me esperar sentado num banquinho, no meu jardim, embaixo da minha janela’. Mas, na nonagésima nona noite, o mandarim se levantou, pôs o banquinho embaixo do braço e se foi.”
Esta imagem do mandarim desistindo na véspera do encontro, me levou para um labirinto profundo. Eu me identifiquei ferozmente com o ato, pois me pus a pensar: imagina amar, sem conhecer, uma imagem. Imagina alimentar tal imagem por noventa e nove dias, religiosamente. Agora, imagina que durante todas as noites sob a janela, o mandarim foi esculpindo sua amada com tanto afinco, que a cortesã não conseguiria corresponder à tamanha lapidação.
Percebi que eu só havia amado dessa forma: moldando preciosos ideais que nenhum corpo daria conta de assimilar. A tal projeção, já banalizada nos papos sobre afeto, ficou nítida. A outra pessoa, enquanto disparadora dramática, narra histórias inteiras. Cenas perfeitas de prazer, glória e gozo – onde, sem consentimento (pois a imaginação tudo pode) animamos a figura amada em cenários internos e irreais.
Amar, portanto, parecia ser uma prática individual, de intensa fabulação. A espera se encaixa bem nesta sensação, pois quem espera por alguém, espera só. No capítulo, Barthes cita Winnicott, que diz:
“O ser que espero não é real. Assim como o seio da mãe para o bebê, ‘eu o crio e o recrio sem parar a partir da minha capacidade de amar, a partir da carência que tenho dele’: o outro chega onde eu o espero, onde já o criei. E se ele não vem, alucino: a espera é um delírio.”
Prolongando a sentença: se ele não vem, alucino – se vem, alucino também. Vindo ou não, o ser amado nos põe a delirar. Adentramos uma jornada de desproporções, desfigurações e desencaixes. O amor idealizado é um futuro em ruínas. Antes mesmo de subirmos as paredes, já inalamos a poeira do desabamento.
Seria possível, então, soterrar a idealização ao invés do amor?
Não consigo responder sozinha, mas elaboro desde então. A escuta e a paciência auxiliam no processo: receber a outra pessoa antes de criá-la. Traçar fronteiras claras, priorizando a própria jornada. Dar sem tomar, dar sem cobrar, receber sem culpa. Procurar trocar o que transborda, e não o que nos compõe.
Antes de acolher gente, acolher o medo e a falta de controle: as pessoas são imprevisíveis, os encontros geram atritos, o que vemos é distorcido. Vamos aprendendo por tentativa e erro. Amar os erros é um passo fundamental para amarmos as pessoas.
E, principalmente, lembrar que a idealização não é atitude pessoal, é automatismo coletivo. Aprendemos assim, ensinamos assim. Nossas tramas afetivas são, como grande parte de nossas subjetividades, resultados de um sistema de poder que dita como devemos e por onde podemos seguir. No Brasil, o amor ainda segue a cartilha hegemônica, monogâmica e cristã. Mesmo quando tentamos desconstruir padrões, enfrentamos vícios muito enraizados, ecos culturais, culpas ancestrais.
A imagem da cortesã e do mandarim espelha a estrutura mono, cis, heteronormativa, patriarcal, cristã. Ele espera depois que ela diz: “serei sua”. O pronome possessivo abre a fala da cortesã e ativa a trama. A tomada de posse é gesto da propriedade privada, criou o conceito unidade familiar, permitindo a transmissão de bens para a próxima geração. E, até hoje, o ideal de família segue sendo perseguido como um arquétipo do amor bem sucedido.
Em pesquisas sobre a idealização do amor, cheguei até Geni Nuñez, ativista indígena do povo Guarani, que há mais de 10 anos pesquisa a não-monogamia. Seus estudos traçam – a partir de uma perspectiva decolonial – paralelos entre a forma como lidamos com as relações afetivas e a forma como lidamos com a natureza.
Segundo ela, a ideia de que o ser humano é dono de rios, dos animais e de outras vidas não tem lógica na cultura indígena. Se o rio não é nossa propriedade, uma pessoa também não é.
Geni defende a ideia de que a monocultura é um sistema que não permite a concomitância – ou seja, para existir é preciso que se derrube a floresta – da mesma forma que as relações monogâmicas exigem exclusividade dos afetos: o valor não está no que acontece na relação em si, mas no que deve deixar de acontecer em outras possíveis relações.
Assim como o monoteísmo e a monocultura, a monogamia é fálica e privilegia um topo, dá poder exclusivo e singulariza o ato. Seja no amor, na religião ou no cultivo, o estado mono é um estado morno que exclui diversidades e intensidades.
Neste contexto, podemos aplicar no amor o que aprendemos com a terra. Enquanto plantas diferentes dão saúde ao solo, o plantio de uma coisa só o fragiliza, incitando o uso de pesticidas, agrotóxicos e afins. Isso cria um ciclo de excessos e escudos, onde o próprio sistema depende dos mecanismos de defesa para sobreviver. No amor também: a monogamia ativa mecanismos de defesa e a idealização é um deles.
Geni faz um convite para que a gente possa descolonizar nossos afetos e reflorestá-los: “o reflorestamento do imaginário é um processo de cura das feridas coloniais, esse processo da retomada não só da terra, mas também da nossa alegria.”
Alegria que evoca a autonomia, pois é na busca pela compreensão de si e na percepção apurada dos próprios desejos que aprendemos a cartografar novos caminhos que possibilitam encontros mais férteis. Gerando, assim, estruturas criativas, afetos orgânicos e fluxos naturais. Crescer as raízes, primeiro, e brotar forte depois. Para concluir, mais um pouco de Geni:
“O alimento da monocultura é doce, explosivo, mas empobrecido, raso, vazio.
Há muito mais a se amar e (des)conhecer de si e do outro no mundo.
Que nosso paladar para a vida seja mais exigente que o desejo pelas migalhas do amor romântico.”