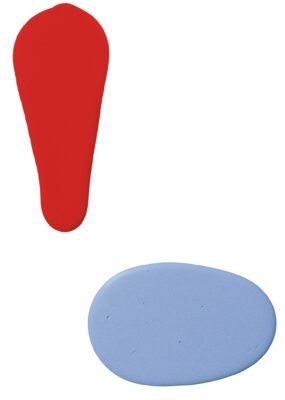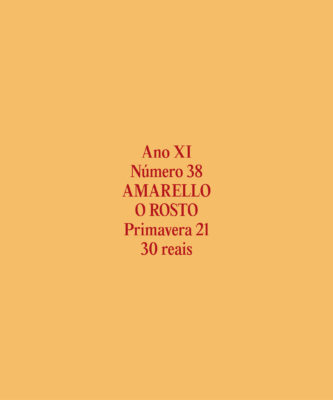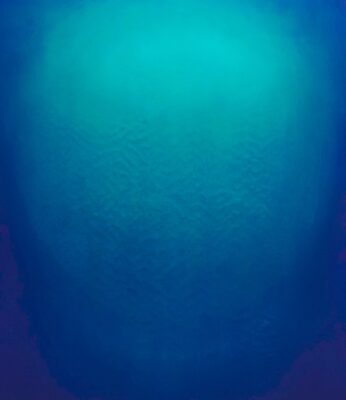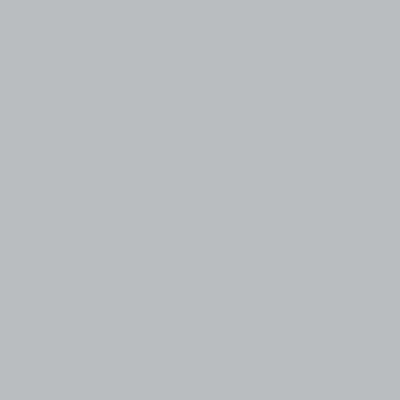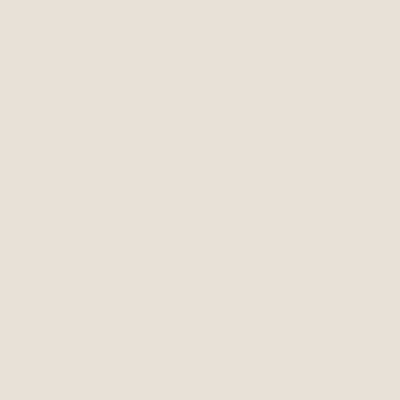É difícil apurar com precisão, no universo das lembranças da infância, a ordem em que se deram determinados acontecimentos. Mas, quando penso em minha primeira experiência cinematográfica marcante, lembro-me imediatamente de , de Wolfgand Petersen; um épico infanto-juvenil, até hoje o filme mais caro produzido na Alemanha, baseado no romance homônimo de Micheal Ende. (Curiosamente, o escritor detestou a obra e entrou com um processo – que perdeu – contra os produtores, conseguindo, porém, ter seu nome retirado dos créditos).
Nunca mais revi o filme, talvez receoso de que perdesse o encanto da época (eu devia ter quatro ou cinco anos). Lembro-me apenas de algumas imagens e sensações; não mais do que isso. Uma delas é de que chorei compulsivamente. A outra é do enorme cachorro voador que levava o garoto protagonista aos mais fantásticos lugares.
provavelmente não se encaixaria no gênero road movie, ou filme de estrada. Nas locadoras, provavelmente o encontraremos na seção infantil, de aventura ou de fantasia (até porque, salvo raras exceções, não existe um espaço dedicado aos road movies). Mas, para mim, ficou a nítida impressão de uma longa viagem. O automóvel seria o cachorro e a estrada, o céu. E grande parte de meu fascínio pela obra reside na memória de um garoto que desbravava, mais que países ou lugares, verdadeiros universos. Talvez venha daí este encantamento com filmes de estrada, de tal modo que meu primeiro longa-metragem, , ajusta-se perfeitamente ao gênero.
Entre meus filmes prediletos, vários são de estrada. , de Antonioni; , de Fellini; , de Wim Wenders; Y tu mamá también, de Cuarón; e , de Cacá Diegues, são algumas das obras seminais de minha (ainda) limitada vivência cinéfila. E então me pego pensando numa explicação para este especial interesse por filmes em que as pessoas se lançam rumo ao desconhecido, embarcando em viagens que as transformarão para sempre.
Existe uma grande discussão sobre se road movies são ou não um gênero cinematográfico. Os teóricos que acreditam que filmes de estrada constituem um gênero defendem que as características fundamentais que os definiriam como tal são o automóvel, a estrada e um indivíduo – normalmente um homem em crise, que busca sobretudo o autoconhecimento (mesmo que de maneira inconsciente). Este debate é bastante emblemático, pois deixa evidente que se tratam de filmes difíceis de catalogar. Veja bem, leitor: nada tenho contra filmes de gênero. Mas a verdade é que tento não rotular minhas experiências, e sinto que as obras que mais me interessam muitas vezes fogem às classificações mais convenientes à sociedade de consumo (e às locadoras).

Com a consolidação do cinema clássico americano (responsável pela formação da indústria cinematográfica), estabeleceu-se um modelo de narrativa predominante. Aperfeiçoado (sem que isto signifique melhores filmes hoje), este padrão rendeu escolas famosas e incontáveis cartilhas sobre como escrever um roteiro. Propondo um resumo grosseiro, predica-se que textos cinematográficos devem ser divididos em três atos, chamados de “a trajetória do herói” (um arquétipo narrativo que, em tese, usa-se desde a Odisséia de Homero). Há uma série de parâmetros a serem seguidos, que não vou explicitar (os interessados podem ler Syd Field ou Robert McKee). Mas, de um modo ou de outro, os legados dessas convenções são uma quantidade razoável de obras-primas e um número infinitamente maior de bobagens, empurradas ao grande público goela-abaixo pelos estúdios norte-americanos, sempre ávidos por um sucesso. E muitas vezes este sem-número de filmes é medíocre justamente porque um grupo de executivos tenta enquadrar histórias nem sempre medíocres num modelo de narrativa que julgam dominar, como se fosse uma receita de bolo.
Você deve estar se perguntando sobre o que tudo isso tem a ver com filmes de estrada. Acontece que road movies raramente podem se limitar a este padrão tradicional, pois os conflitos vividos por seus protagonistas tendem a ser mais internos. Isso liberta as tramas das regras do cinema clássico, da estrutura em três atos e da falsa necessidade de “viradas” que prendam a atenção do espectador. A natureza contemplativa do cinema vem à tona mais facilmente em filmes de estrada, porque as crises de identidade de seus personagens normalmente estão refletidas na crise de identidade do espaço físico que percorrem. Este é o caso de uma ampla gama de road movies, de , de John Ford, a , de Nanni Moretti. Quase sempre esses personagens estão fugindo de alguma coisa ou em busca de algo novo, e muitas vezes esta é também a situação dos lugares por onde viajam.
O Brasil é um país com ampla tradição no gênero. Além do já citado , muitos outros filmes se propuseram a registrar uma identidade nacional em transformação através de personagens em crise, que se lançam em jornadas pelo desconhecido. Walter Salles é possivelmente o cineasta brasileiro que tem se dedicado com mais afinco ao gênero. Não por acaso, foi escolhido por Francis Ford Coppola para levar às telas a versão cinematográfica do clássico beatnik On the road, de Jack Kerouac. Diários de motocicleta, que reconta a trajetória de um jovem Che Guevara pela América Latina, foi um sucesso mundial. Mas foram seus brasileiros – (em parceria com Daniela Thomas) e – os que mais me marcaram.
Estava no começo da faculdade de cinema e morava fora do país quando vim passar férias em São Paulo e assisti a , sozinho, no Lumiére (um dos poucos cinemas de rua que ainda nos restam). Aos dezoito anos, foi uma experiência profundamente reveladora e emotiva. Chorei compulsivamente, junto com Fernanda Montenegro, enquanto a ouvia ler – com a voz em off – a carta de despedida para o pequeno Josué, embalada pela melodia certeira de Antônio Pinto. E durante dias o filme ruminou em mim, pois foi através dele que revelou-se um país que desconhecia. No caso, meu próprio país.
Terra Estrangeira, de 1996, conta a história de Paco (Fernando Alves Pinto), jovem aspirante a ator que decide abandonar o Brasil após a morte de sua mãe, decorrente do confisco à poupança levado a cabo pelo presidente Fernando Collor. Assisti ao filme no Harvard Film Archives, um ano depois de ver Central do Brasil. O tema do exílio me é muito caro, já que possuo raízes nos países do cone sul e, por sete anos, morei no exterior. Assim, como em , chorei ao fim, quando Fernanda Torres e Nando Alves Pinto se abraçam ao som de “Vapor Barato” (na voz de Gal Costa). É interessante que Walter Salles tenha dito que, em sua origem mais remota, a ideia do filme veio da foto de um barco encalhado, imagem que serve de pano de fundo ao abraço em questão. Uma das imagens que me perseguiu durante anos – a de uma ponte a meio construir – acabou servindo de pano de fundo para a cena final de meu primeiro longa-metragem, .
Quando estive em Buenos Aires, pouco tempo antes de iniciar as filmagens de , marquei um encontro com um fotógrafo que me havia sido muito bem recomendado. Curiosamente, Pablo Ramos trabalhara em dois filmes com Walter Salles. Ele chegou à reunião e a primeira coisa que fez foi me dar um DVD de . “Li tudo o que você me mandou sobre seu filme. Você tem de ver este aqui” – disse. Eu ainda não vira o clássico de Jorge Bodanzky e Orlando Senna. Mas já ouvira falar, e soube ali que aquele cara tinha de integrar nossa equipe. (que, em seu idioma original, chama-se Por el camino) foi um projeto delirante que deu certo. Digo delirante porque o filmamos desrespeitando todas as regras do processo de se fazer um filme. Não havia dinheiro. Não havia tempo. O roteiro era precário. Consciente do risco, fui movido não apenas pela vontade, mas pela necessidade mesmo de contar aquela história e, com ela, registrar um microcosmo que me é tão particular.
Havia dois pilares sob a construção narrativa do filme. Um deles era o de retratar uma história de amor pouco convencional, de dois personagens estrangeiros, que se encontram por acaso num país que não é o deles. Interessava-me particularmente que este casal tivesse a minha idade, pouco menos de trinta anos, e que sua crise de identidade tivesse a ver não só com o espaço físico estrangeiro mas, principalmente, com questões fundamentais que normalmente vêm à tona quando nos aproximamos dos trinta. O outro era o de fazer um registro semidocumental do Uruguai, país onde um passado de esplendor, um presente decadente e um futuro promissor convivem de maneira muito particular.
Foram 25 dias de filmagem. O roteiro e o plano de filmagem juntavam-se aos mapas de estradas do Uruguai para apontar caminhos. Mas percebi, na primeira diária, que, pela natureza do filme, teria de me abster da mania controladora com que sempre conduzi meus trabalhos. Ali, não só meus colaboradores dariam sugestões: a estrada e as pessoas que nela apareciam interfeririam a todo instante no que seria captado por nossas duas câmeras. E notei que, se havia alguma chance de fazer uma obra instigante e inovadora, esta residia nas surpresas desse caminho e não apenas naquele texto solto e quase sem diálogos. E assim fomos percorrendo confins remotos (e não tão remotos) deste pequeno país cheio de contrastes geográficos, econômicos, culturais e sociais. Os quatro integrantes da equipe, meu casal de protagonistas e eu nos dividíamos no carro de cena, num de apoio e numa velha caminhonete.
E fui me surpreendendo com o quanto a crise de identidade do casal protagonista se espelhava na crise de identidade do país. Estivemos na varanda do mais alto e idiossincrático prédio de Montevidéu, filmamos num imenso e decadente castelo no meio do nada, habitamos uma bela fazenda que viraria um empreendimento imobiliário. Conversamos com peões, franceses, eremitas, hippies, aristocratas, e com Naomi Campbell. Em , Santiago (Esteban Feune de Colombi) é um argentino que decide ir ao Uruguai conhecer um terreno deixado por seus pais, mortos tragicamente alguns anos antes. Sem perspectivas, em sua chegada encontra Juliette, jovem belga em busca de um amor do passado e de uma nova vida. O que parecia uma simples carona acaba se transformando em uma breve – porém intensa – jornada. Visitando paisagens e pessoas perdidas no tempo, dividem experiências que acabam por aproximá-los, numa relação de crescente afeto e ternura. Em suma, esta é a sinopse do filme. Na prática, algo que me interessa muita nessa narrativa é a possibilidade de duas pessoas se conhecerem e desenvolverem uma relação afetiva exclusivamente por causa das circunstâncias em que se encontram. Ou seja, se estivessem em seu habitat natural, Santiago e Juliette jamais teriam relação alguma. Porque suas nacionalidades, classes sociais, carreiras, etc. se colocariam sempre entre eles. Dentro do universo da viagem, porém, abrem-se ao acaso de tal maneira que a relação floresce; espontaneamente, mas, ao mesmo tempo, dotada de força incomum. Creio que, neste contexto, os personagens se despem das máscaras que usam (todos nós as usamos) no dia a dia e revelam-se mais verdadeiramente, possibilitando o reconhecimento de pensamentos e sensações comuns, o que acaba por uni-los. No caso de , esses pontos de encontro são os responsáveis por uma relação afetiva, mais do que por uma mera atração física.
Pensando novamente no gênero e nos que me marcaram, vejo que poucos estão centrados na relação amorosa entre duas pessoas. Inclusive, a imensa maioria tem como protagonista sempre um homem. Algumas das raras exceções são , de Stanley Donen, e , de Wong Kar Wai, uma história de amor entre dois homens. Acho curioso, pois a estrada abre esta possibilidade. Quiçá, numa análise a posteriori, este seja um dos triunfos de meu filme. Mas não sou eu quem o há de dizer. estreia no segundo semestre e espero que o leitor desta distinta revista possa conferi-lo. Aproveito para sugerir alguns dos de que mais gosto.
Estrangeiros
, de Ridley Scott
, de Jonathan Dayton e Valerie Faris
, de David Lynch
e Alice nas Cidades, de Wim Wenders
e Sideways, de Alexander Payne
, de Stanley Donen
, de Dino Risi
, Arthur Penn
, de Alfonso Cuarón
, de Pablo Trapero
, de Wong Kar Wai
, de Sean Penn
e , de John Ford
, de Dennis Hopper
, de Michelangelo Antonioni
, de Stephan Elliot
, de Sergei Loitzna
, de Nanni Moretti
, de Larry Charles
, de Federico Fellini
, de Gus Van Sant
, de Ethal e Joel Coen
, de Frank Capra
, de Martin Scorsese
, de Edgard Ulmer
, de Gregg Araki
, de Terrence Malick
Brasileiros
, de Andrea Tonacci
, de Orlando Senna e Jorge Bodanzky
a e Central do Brasil, de Walter Salles
, de Cacá Diegues
, de Lírio Ferreira
, de Marcelo Gomes
Viajo porque preciso, volto porque te amo, de Marcelo Gomes e Karim Aïnouz
, de Suzana Amaral
Charly Braun é um cineasta premiado, ator em decadência e brilhante cantor de chuveiro. é o seu primeiro longa-metragem.


Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista