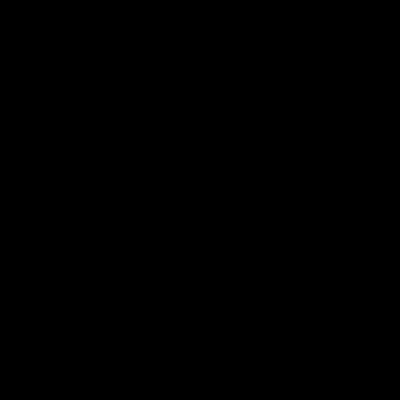O mundo termina como começa
por Juliana Fausto
Mundo é uma daquelas palavras enganadoras. Acreditamos estar de acordo quando dizemos “mundo” ou “fim do mundo”, mas no mais das vezes o que fazemos é entrar em um terreno de equivocações que podem ser fatais. Apenas a história moderna da filosofia ocidental oferece uma miríade de sentidos