
Muitas gerações cresceram sob o lema de que o Brasil é o país do futuro; todas, no “passado” ou no “presente”, enfrentando um mesmo obstáculo: a hipocrisia. Explico: temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo, e não é raro irmos a um médico e ouvirmos a recepcionista perguntar – “Com nota ou sem?”. Não é raro conhecer alguém que “tem que” sonegar. Não é raro saber de uma campanha eleitoral feita com “recursos não contabilizados”. Ou encontrar um camelô vendendo DVD pirata na porta de um cinema (o que, para alguns, também resulta da alta carga tributária). Com o assunto drogas, não poderia ser diferente. E custa vidas.
Nos últimos dois anos estive à frente do documentário , em que pude registrar um pouco do trabalho do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no combate ao consenso da “guerra às drogas”. Viajamos por dezoito cidades, passando por presídios, pelo Capitólio e até por um campo de papoula das FARC. Entrevistamos 168 pessoas, de chefes de estado, como Bill Clinton, até um menino, morador de favela no alto de um morro, que nunca se envolveu com o tráfico mas que ficou paralítico em decorrência de uma bala perdida.
Um episódio, contudo, não me sai da memória: um delegado que veio me dar uma bronca “por estar fazendo um desserviço à sociedade brasileira com o filme”. Afinal, o documentário defende que dependentes sejam tratados como pacientes, e discute uma porta de acesso à regulamentação da maconha. Meses depois, esse mesmo delegado seria preso por revender armas apreendidas a traficantes. Se é inocente, não sei; mas me pareceu mais um a manifestar pura hipocrisia.
Os motivos são vários: como alguém experimentado em combate, sabe quantos jovens morrem e matam com armas de guerra no tráfico de drogas; a maioria composta de afrodescendentes – como uma visita a qualquer cadeia no Brasil (e até nos EUA) pode revelar. Ele sabe também que esses jovens integram uma engrenagem perversa, peões para uma indústria que lucra, e muito. No Rio de Janeiro, existe um depósito com mais de cem mil armas apreendidas, de carabinas da vovó a fuzis e bazucas de guerra, a maior parte usada em disputa territorial entre traficantes. O delegado sabe, pois, que dificilmente alcançaremos o objetivo da ONU: um mundo livre de drogas. Sim, existem usuários e dependentes de todas as classes sociais, cores, preferências sexuais e profissões. Apesar de ser claro que podemos diminuir o dano causado pela droga, é utópico pensar que seja possível erradicar o consumo. No entanto, a opção do delegado, e da sociedade, é pela hipocrisia; afinal, que “se danem” essas vidas perdidas: o importante é manter a moral e os bons costumes em alta. Custe o que custar.
No caso específico da maconha, a hipocrisia é maior. Segundo a revista médica inglesa The Lancet, ela é menos nociva que o álcool e o tabaco – que são regulamentados. Hoje, cada vez mais, é usada como remédio. A heroína e a cocaína já foram legais e utilizadas como tal. Mas, dado o alto grau de compulsão que provocam, foram trocadas por medicamentos mais modernos, sem esses efeitos colaterais perigosos tão apreciados por alguns. Já a maconha vai na contramão. Dezesseis estados americanos já legalizaram sua versão medicinal.
Documentei na Holanda o único centro de produção de maconha medicinal legal da Europa. Tive de assinar um contrato para nunca revelar sua localização e pude até acompanhar a inspeção do governo por qualidade farmacêutica no processo. Entra-se ali só com roupa cirúrgica estéril. A farmacologista me explicou que as aplicações do produto vão desde um simples analgésico até o estímulo ao apetite em doentes terminais ou o combate à esclerose múltipla. Já foi até usado, num passado distante, pela rainha, de modo a enfrentar cólicas menstruais, ou por George Washington, para amenizar a dor de dente. A lista de doenças contra as quais pode ser utilizado é imensa. E, para livrar o doente do risco causado por fumar, existia até um aparelhinho, o Volcano, que emitia um vapor-d’água muito quente, que passava pela maconha e produzia um vapor cannabico.
No Brasil, acompanhei a disputa de dois grandes médicos pelo direito ou não de estudar a maconha medicinal. Para um deles, grande bobagem; para o outro, proibição inquisitorial que impedia o avanço científico. Um médico, hoje, que queria estudá-la no país será preso e possivelmente terá a reputação abalada; isso, mesmo que esteja examinado uma forma de livrar as pessoas da terrível dependência do crack – como é o caso de um renomado especialista brasileiro que teve suas pesquisas impedidas.
Em Los Angeles, pude registrar uma paciente que conseguiu reduzir, de oito compridos para um, a dose de um potente e perigoso remédio para dor ao combiná-lo com maconha medicinal. Outro, com câncer, recuperou o sono e sentenciou: “Não quero que o governo decida como vou aliviar minha dor”. Mas o que era apenas uma solução para dar acesso à maconha medicinal acabou se tornando mais.
O sistema funciona assim: um médico precisa receitá-la. De posse da receita, é emitida uma carteirinha que permite portar o produto. Com a carteirinha, o paciente vai até um dispensary e pode comprar sua maconha em paz, escolhendo inclusive a variedade mais adequada a sua necessidade. O tipo “sativa” dá disposição e energia. O “indica”, sono e preguiça. E todos dão fome.
Não é necessário ser brasileiro para imaginar o que aconteceu. Uma legião de médicos charlatões apareceu, um mar de carteirinhas foi emitido e muita gente que desejava apenas “fazer a cabeça” sem ser incomodado pela polícia encontrou ali seu refúgio. A sociedade americana, óbvio, sabe disso. Hipocrisia ou pragmatismo? Será que a maconha medicinal se tornou a medida socialmente aceitável para contornar o moralismo e dar um primeiro passo rumo ao fim da guerra às drogas? Não sei, mas já começo a pensar que talvez nem toda a hipocrisia seja necessariamente hipócrita.
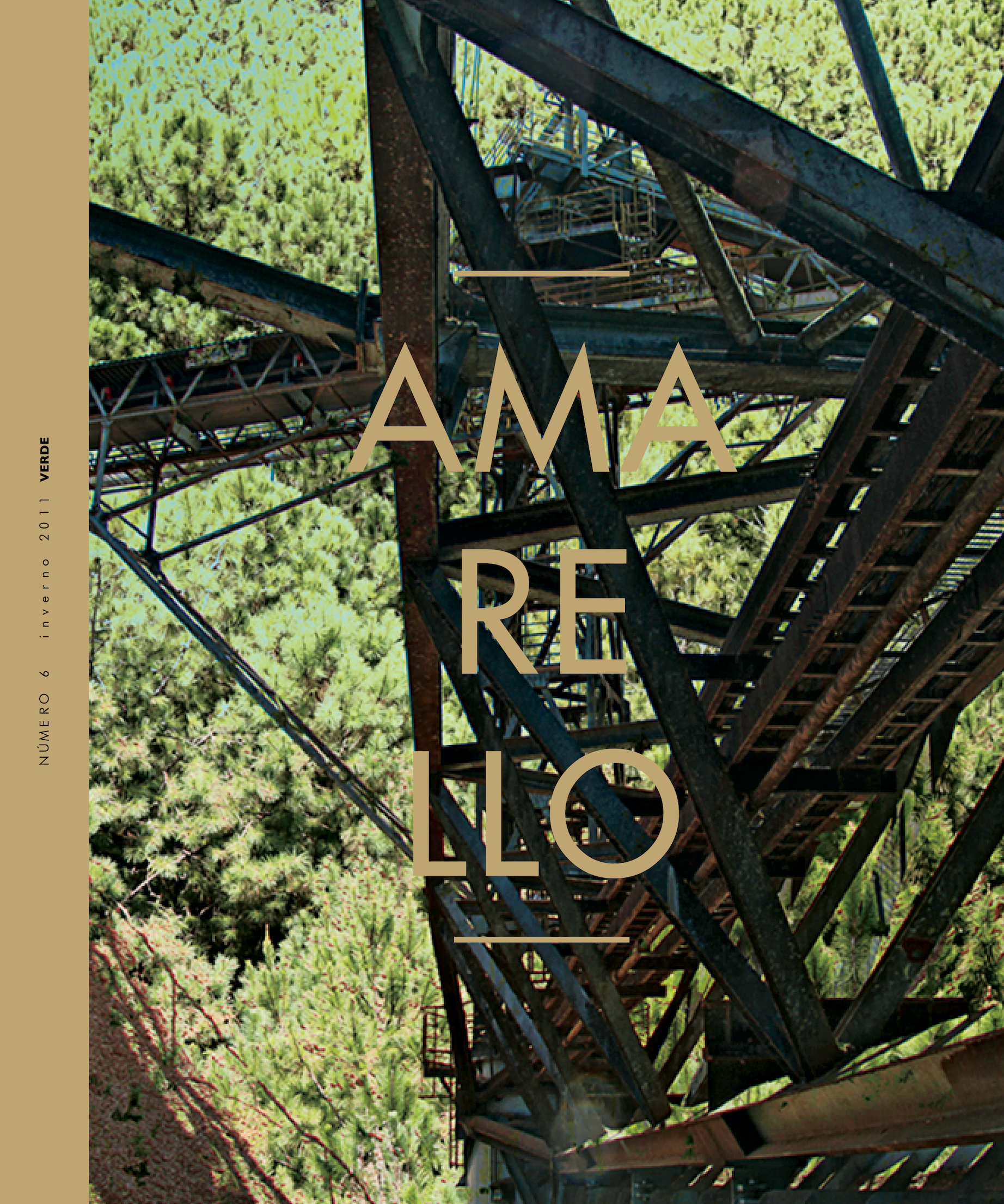
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista











