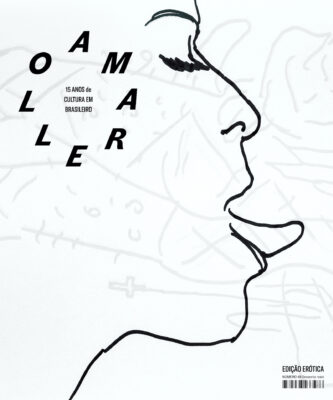Entre cerca de seis bilhões de pessoas no planeta hoje, provavelmente o contingente mais miserável está no continente africano. São 53 países, cuja grande maioria vive no limbo das condições sociais e humanas. A África é um tratamento de choque para entendermos que os dramas mundiais jamais tiveram ou terão fim. Viajar por lá nos mostra que não é fácil entender a humanidade, e às vezes sequer se identificar com ela. Identifico-me, sim, é com aqueles que, por opção de vida, viajam pela África e pelo mundo de forma infindável e inquieta, atrás das grandes respostas da vida. Admiro e já pertenci a dois grupos bem opostos de viajantes, que no fim das contas – talvez pelo fato de a Terra ser redonda – chegam sempre ao mesmo lugar.
O primeiro grupo é o dos viajantes humanitários. São incansáveis em seus esforços, e encontram na África terreno fértil para se desenvolverem. Como todos sabem, durante alguns séculos e até recentemente, o colonialismo europeu tirou bom proveito dos africanos. O único país ali que jamais foi colônia é a Etiópia. Não obstante, graças àquelas famosas imagens que circulam o mundo desde a década de 1980, das milhares de crianças etíopes que viraram símbolo dos dramas de toda a humanidade – aquelas nuas em pele e osso, barrigas de vermes e moscas pousando em seus rostos –, é fácil encontrar típicos jovens idealistas europeus nos voos para Addis Abeba, sua capital. Muita gente se pergunta o que uma única pessoa acha que pode fazer num cenário social tão trágico e enorme quanto o da ainda faminta África Subsaariana. Tenho minhas respostas na ponta da língua, mas todas soam sempre mais românticas, piegas e inocentes do que a explicação simplória que ouvi de um etíope em Aksum: “Antes de nos salvar, os estrangeiros que vêm como voluntários para cá estão interessados em salvar a si próprios.”
Isso não poderia ser mais verdadeiro. Embora não diminua o louvor ou a nobreza desse grupo, é um tanto óbvio que ninguém vai à África fazer meses de ação humanitária sem ter em si mesmo algo que possa ser preenchido através dessa iniciativa. E é bom que seja assim. Adam Smith, o pai da ciência econômica, disse que não é pela benevolência do padeiro que recebemos o pão nosso de cada dia, e sim pela necessidade dele em vendê-lo. Mesmo no caso de ações de caridade, poderíamos dizer que pessoas de espírito nobre têm uma incontrolável necessidade pessoal de fazê-las.
Nesse sentido, pensar primeiro no que têm a dar ao próximo, e em sua função no mundo, é a forma que os viajantes humanitários encontraram para salvar a si próprios. Ou talvez seja melhor dizer, encontrar a si próprios. Dizem que todo viajante procura alguma coisa, mas que, na verdade, o que busca de fato é a si mesmo. Alguns, no entanto, fazem jornadas tão geograficamente cansativas quanto as do viajante humanitário, mas seguindo a bússola inversa. Representam o segundo grupo de viajantes, os que têm motivações opostas às dos viajantes humanitários, e que são conhecidos apenas por viajantes por natureza.
Nesse grupo, a forma de atingir e ajudar o próximo se dá de modo mais indireto, mas não menos impactante. Seu impacto na vida de terceiros é mais consequência do que causa de seus atos. É o grupo que vive radicalmente em nome do dogma universal da liberdade. Surfistas profissionais que viajam o mundo atrás das ondas. Aeronautas que acabaram na aviação pela segurança de um mundo corporativo cuja rotina ao menos implica em circular pelo planeta. Pesquisadores que praticam ciências de fronteira, cujo trabalho é ir além da norma. Pequenos e grandes aventureiros no comércio internacional. Não é preciso ser psicólogo para saber que essa turma escolheu o que faz em parte graças à paixão pela liberdade ou, às vezes na prática, à paixão pela falsa sensação de mais liberdade.
Liberdade aí entendida como um termo abrangente e vago, que todos têm, adivinhe, liberdade própria para redefinir. Liberdade de ir e vir? Liberdade civil? Liberdade política? Liberdade sexual? Liberdade de expressão? Todos têm seu tipo de liberdade predileta, embora frequentemente as predileções fiquem só na retórica e não no exercer da liberdade.
O Iluminismo ensinou que “não é possível um mundo de N liberdades”. Para atingirmos uma vida mais fácil e proveitosa a todos, assinamos um Contrato Social no qual abrimos mão de algumas liberdades em troca de segurança, de acesso ao que os outros têm a produzir melhor que nós mesmos e a outras benesses. Mesmo assim, a liberdade é uma das pernas do tripé ideológico da Revolução Francesa, pois parecia claro que abrir mão de algumas liberdades nos garantiriam outras maiores ainda. Ainda parece, ao menos em nossa ótica ocidental. Mas pergunte a um cidadão iraquiano hoje o quanto, na prática, ele ganhou ou perdeu, em termos de liberdades individuais, após a invasão militar dos norte-americanos (em 2003), que prometia libertá-los.
“Não posso mais sequer circular pela cidade onde nasci sem medo de ser preso, sequestrado ou assassinado.” – disse-me um conhecido pintor e artista plástico de Bagdá, em 2009. “Não tenho mais paz quando minhas filhas vão à escola. Mas vocês devem achar que minha vida melhorou muito, pois agora posso votar, certo?” – completou.
As liberdades mais importantes deveriam ser sempre aquelas que nos causem maior prejuízo existencial, caso impedidos de exercê-las. Liberdade para circular pelo planeta (seja do ponto de vista da liberdade financeira, da liberdade civil ou da liberdade política) tornou-se liberdade inegociável para mim. Mas liberdade demais confunde, atrapalha, paralisa. Tive tanta liberdade para circular pelo planeta que já me confundo até sobre em qual dos dois grupos de viajantes preferiria estar hoje: os que viajam preocupados com o mundo e acabam mudando a si próprios ou os que viajam procurando a si próprios e acabam influenciando os outros.
É como a criança que não sabe se gostaria de se tornar o Homem de Ferro ou o Homem-Aranha. Fica em segundo plano o fato de que não faz muita diferença. Seu trabalho o define antes que você pare para definir você. E você tem liberdade para definir seu trabalho de acordo com o que o move, que, no meu caso, é a própria liberdade em me mover.
Michelangelo dizia que todo pintor pinta a si mesmo. Não importa quantas almas um viajante humanitário almeje salvar na África, sua natureza põe sempre a si mesmo na frente. Termino de escrever este texto momentos antes de pousar em Johannesburg, na África do Sul, para mais uma viagem de trabalho. Meu último país no continente foi o Egito, no ano passado, por conta das tensões civis posteriores à Primavera Árabe. Dessa vez vim para surfar, pois, como dizia o grande artista da Renascença, nossas obras refletem inevitavelmente nossa personalidade. Minha personalidade é típica de mais um típico escravo da liberdade.
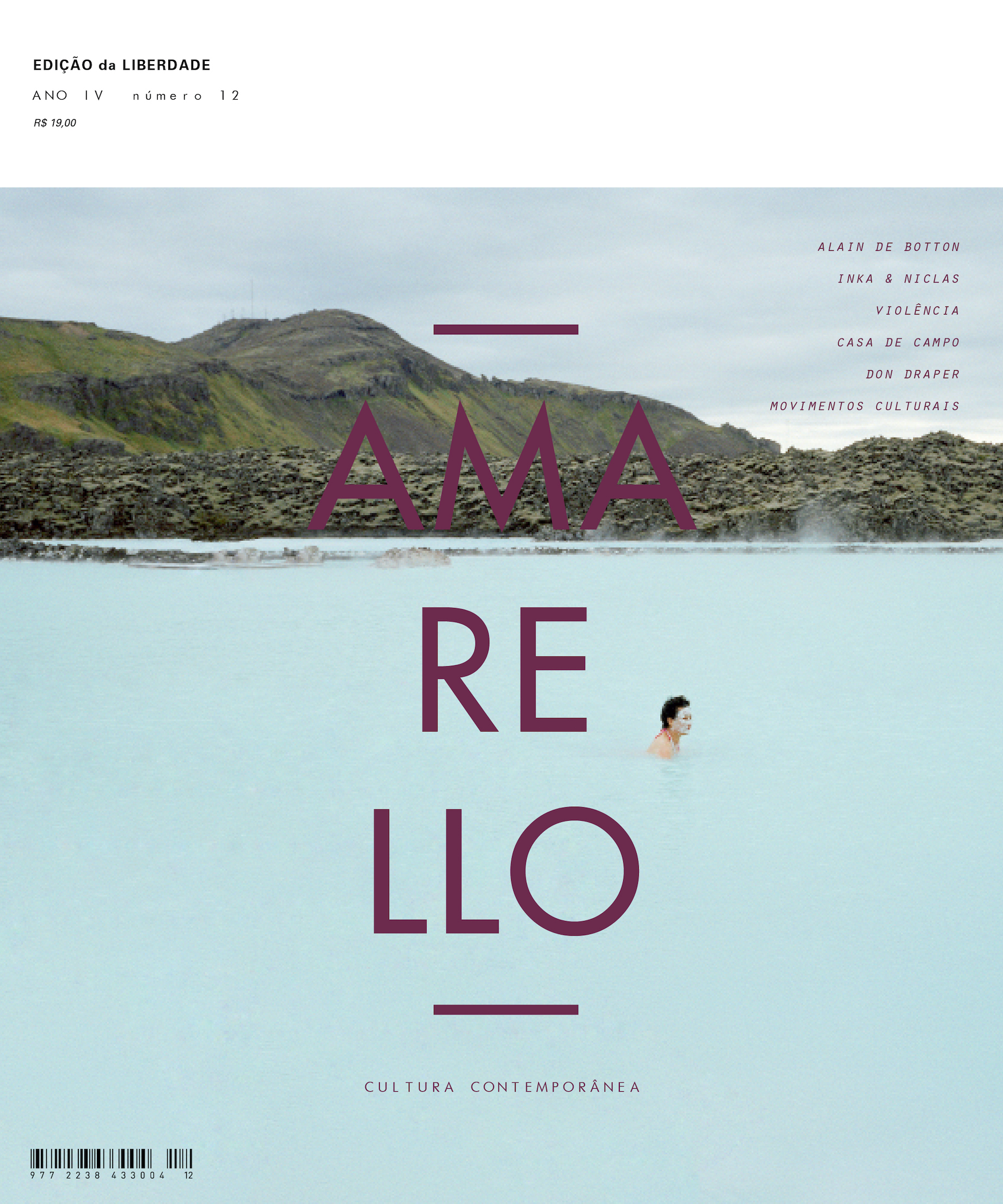
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista