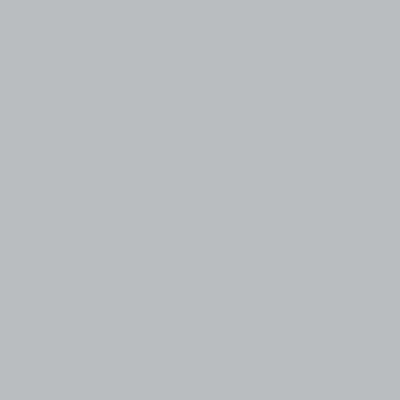Como você começou a se interessar pelo mar?
Quando eu tinha 12, 13 anos me incomodava muito meus pais falarem oito idiomas e nunca terem ensinado picas para a gente. Meu pai era do Líbano e minha mãe, da Suécia. Quando resolvi aprender francês, acabei falando muito melhor do que meu pai, e era a língua nativa dele.
Quando comecei a estudar literatura francesa descobri uma coleção sobre relatos de viagens no mar – da Arthaud – que era o máximo. Porque se você lê sobre futebol, por exemplo, existem poucos caras que escrevem bem a respeito, se você lê sobre relatos de viagens aeronáuticas, aviação, não existe um livro, de fato, que tenha valor literário. Agora, quando você começa a ler os relatos dramáticos da exploração da Antártica, são impressionantes: o Cherry-Garrard escrevia um puta texto. Ele era vizinho do Bernard Shaw, fazia embates literários com ele. E o Scott, que foi para o Polo Sul pela cobiça de mostrar a superioridade da raça britânica – razão muito imbecil – sabia escrever de uma maneira tão dramática que ele virou a grande vítima da Antártica para o mundo durante cem anos. Já o Nansen ou o Roald Amundsen são tão secos, tão enxutos, tão concisos na forma de escrever, que exatamente por isso, pelos textos terem zero emoção, escreveram relatos arrepiantes. Eles criaram emoção pela ausência de emoção.
Foi assim que eu descobri o mar, pelos livros – e pelos relatos do Bernard Moitessier, que era um “semipirata” francês, que morava na Nouvelle-Calédonie e entrou em uma prova a vela só para ganhar um premiozinho em dinheiro, num barquinho que ele mesmo fez com um poste roubado de telégrafo, e que acabou ganhando a primeira regata de volta ao mundo. Quando ele voltou para o Atlântico depois de fazer a volta sozinho, ele nem sabia que estava vencendo. Foi quando dobrou o cabo Horn [o ponto mais meridional da América do Sul] e, em vez de subir o Atlântico, ele falou “putz, ir pra Londres… lá só tem tempo ruim e mulher feia” [risos] “só pensam em dinheiro, Blue Ensign, iate clubes luxuosos…” e resolveu continuar. Assim, ele atravessou o Índico e o Pacífico pela segunda vez sozinho e foi parar no atol de Motu Tane, na Polinésia Francesa, onde ficou até morrer, e escreveu um livro, que foi talvez uma das mais fortes influências filosóficas na França: La Longue Route (o longo caminho). Ele não fala sobre a regata, sobre aventura, sobre as tempestades, como consertou ou resolveu aquilo ou isso. Nada. Ele não fala da aventura, mas da experiência humana de estar sozinho, e bem, no mar.
Exupéry, por exemplo, dizia que aventura para ele não era enfrentar desafios, mas simplesmente chegar de um ponto a outro – como atravessar os andes com seu avião para levar os correios. o que é aventura para você?
Pois é, não gosto muito de ficção. Eu me apaixonei por Júlio Verne e, depois, me desapaixonei – porque, se é para inventar, podemos inventar melhor. A vida real é incrível, muito mais louca do que a ficção.
Para mim, a aventura é o caminho. O objetivo é secundário; eu gosto da jornada. A jornada é do cacete. Porque você vive a ansiedade. Passei por isso agora: fiz a travessia mais arriscada da minha vida entre sexta- feira e domingo.
Todo ano a gente gosta de fazer uns barquinhos malucos de caiçara. Há dois anos eu fiz uma canoa em Guaraqueçaba (PA), que tem as canoas mais bonitas do Brasil, e vim navegando com ela até o Rio. Um puta risco de morrer. Mas a viagem é mais bonita do que a soma do Pantanal com a Amazônia, por exemplo. Você sai do Paraná e entra pela Baia dos Pinheiros, que dá no Canal do Varadouro [litoral do Paraná], que está meio abandonado desde 1930.
No sábado, era fim do dia quando entramos na barra, e, para sair, a ressaca era tão grande que, se voltássemos, iríamos morrer. A maré estava baixa, e era um turbilhão de ondas de cinco, seis metros de altura; no final, eu não consegui mais achar uma mancha de água escura, e tivemos que furar as ondas de frente. Quando chegamos à crista da última onda, meus colegas, que deveriam estar um pouquinho adiantados, estavam para trás, e de lado, lá embaixo. Quando eu olhei para baixo, não entendi o que eles estavam fazendo de lado, pensei que iam morrer. O cara que estava comigo é um super navegador, o Júlio Lucchesi, e falou: “Eles vão morrer, nós vamos ter que buscá-los”. E aí que eu percebi a loucura – já tínhamos quase passado e, se eles capotassem ali, teríamos que voltar para buscar dois corpos, e provavelmente morreríamos também. Então a onda passou, e descemos, olhamos por trás dela, esperando vê-los, e nada. Eu nunca tive tanta certeza de ter visto dois caras morrerem. Na quarta onda, veio uma megaonda de novo, só que veio bem antes de arrebentar, e era tão alta que, quando chegamos ao topo dela – eu estava com um binóculo –, olhei de novo e, lá no meio do caldeirão de arrebentação, vi a bandeirinha deles. O que aconteceu? Acabou o diesel deles na última onda, e eles perderam a velocidade, viraram de lado, começaram a brigar – porque iam morrer –, e um deles puxou o leme, virou e conseguiu surfar na onda, voltando para trás de novo!
Mas você voltou para buscá-los?
Sabe quando é uma mistura de medo com raiva? Eu falei: “Merda! Eu não quero voltar para buscar dois cretinos que merecem morrer!” – eu não sabia tinha ocorrido uma pane. Eu achei que eles estavam brincando!
O motor é pequenininho. Eles tinham que ter colocado diesel antes de entrar na barra.
Tinham tomado umas caipirinhas, uns Underberg, e esqueceram. Fiquei quase meia hora esperando. Se tivesse uma AK-47, eu acabava com eles [risos]. Nossa, que raiva! Quando passa, dá aquele alívio. Como eu contei para o Luís, meu amigo: já peguei mar com onda de vinte e seis, vinte e sete metros no Oceano Índico, mas eu estava preparado para isso, estava com um barco que consegue passar dia e noite mergulhando e saindo de onda.
Nunca na minha vida eu me senti numa situação de tão alto risco como essa. Nunca, eu falei para ele. Ele falou: “Conseguimos! Foi legal!”. Não foi legal. Puta medo, puta risco à toa.
O que você acha que a gente tem para aprender com o mar?
Tudo. Ele é o elemento que domina o nosso planeta. Eu tinha muito medo do mar quando era pequeno, porque eu tomei um tombo uma vez, e bebi água, comi areia e não gostei. Mas, depois, eu fui percebendo que o tempo que você passa no mar é um período de contínuo aprendizado, em todos os sentidos. Você vive em um meio imprevisível, muito forte, onde existe muita vida, o que é muito gratificante. Eu sempre gosto de brincar que é difícil encontrar gente morando em barco, trabalhando no mar, que seja chata. O mar é um processo de eliminação dos chatos, arrogantes, prepotentes e corruptos. Você não engana ninguém quando está no mar. Mesmo quando você não está sozinho, mas está muito isolado, é um isolamento tão contundente que ninguém esconde a sua verdadeira índole, ninguém.
Uma vez, uma turma saiu com meu barco, para nos encontrarmos em Portugal. Na turma, tinha um cara bad boy, metido a machão, outro levemente gay, outro puro comunista socialista contra-não-sei-o-que, um médico maluco de pedra, que eu adorava, e o amigo desse médico maluco, que veio da Paraíba e é matador profissional. Quer dizer, quando eu soube quem eram os tripulantes, falei: “Meu Deus, não tem chance de chegarem todos vivos!”, e fiquei muito impressionado quando vi os caras se abraçando em Lisboa e comemorando uma viagem maravilhosa!
De alguma maneira, eles se entenderam. A grande habilidade de conviver é descobrir qual é o talento de cada um. O cara que é malandro não vai conseguir te enganar porque uma hora vai se revelar, mas, de repente, como malandro, ele pode ajudar. O matador cozinhava magnificamente! É muito legal a vida num ambiente que, de certa maneira, despe quem você é.
Você tem preferência entre viajar acompanhado ou sozinho?
É difícil explicar isso, mas, quando você está sozinho, você valoriza as pessoas que conhece e que não vê, das quais você se serve. Ou seja, os seus provedores. Quando você está isolado, principalmente numa viagem longa ou num lugar muito distante, onde o próximo contato vai demorar muito para acontecer, você enxerga os seus provedores, porque você é obrigado a assumir a função deles. Então é você que vai fazer a sua energia elétrica, é você que vai consertar o que quebrar, você vai cozinhar, vai cuidar do banheiro, vai deslocar o barco até um outro continente, e, ao contrário do que parece, você não sente o peso de estar só. Você sente a pressão de ter que substituir tantas pessoas que gera uma espécie de afeto oportunista [risos].
O tempo é valioso e escasso. Você não pode dormir mais do que cinquenta minutos, por exemplo. Tudo o que você quer na vida é dormir. Você não quer ter um amigo legal e forte do lado para te ajudar. Você quer poder dormir três horas. O grande medo são as coisas que podem quebrar, que podem dar errado e param de funcionar. O tempo acaba passando muito rápido, e sobra muito pouco tempo para tudo; você chega no fim do dia: “Meu Deus do céu! Ainda não fui checar o eixo, a bomba de boreste, tem alguma coisa que está entupida, se encher de água não consigo esvaziar e vou deixar pra amanhã, e amanhã não vai dar tempo, tem que fazer isso e isso…”. É muito interessante, porque existe uma pressão do isolamento, como se fosse ficar sozinho em um hotel abandonado, mas não é. Você está num ambiente que exige intervenção o tempo inteiro.
Então, ao contrário do que muitos imaginam, não existe marasmo quando se está no barco.
Eu não tinha experiência de navegar solitário quando fui para a Antártica pela primeira vez. Tinha experiência num barquinho a remo, que é diferente. Nele, eu era o motor, o que é muito conveniente, porque você pode parar e dormir trinta horas se quiser. Tinha mais tempo. Quando você está num veleiro, o veleiro não para, dia e noite. Muita gente na época falava: “Poxa vida, você vai ficar quinze meses sozinho na Antártica? O que você vai fazer para matar o tempo?”, e eu falei: “Não sei, tô levando alguns jogos, coisas para criar, vou aprender uma língua nova…” – não deu tempo de ler um livro.
Quando você está em alto mar você ainda sente que está isolado do mundo ou você acha que agora a tecnologia atrapalha isso?
O legal da Antártica hoje é que já tem como ter internet e estar conectado. Mas é um saco estar conectado. Uma das coisas que me dá prazer de ir para a Antártica é poder desconectar. E a experiência de desconexão está ficando cada vez mais rara. É um negócio muito louco. Tem gente que se sente num precipício na hora que se desconecta; eu acho isso hilário. Para quê você precisa mandar um e-mail para avisar que já cruzou a linha de convergência? Ninguém vai poder te salvar se alguma coisa acontecer.
Existe uma parte favorita do seu trabalho, de todo esse processo?
Existe uma parte muito angustiante, porém uma parte de celebração, que é quando você começa fisicamente uma viagem. Mas, para mim, o ápice é quando passa da metade de uma volta ao mundo, ou de uma travessia, por exemplo. Porque aí você já sabe que, pelo menos estatisticamente, está em condição de chegar até a outra metade. E tem uma fase que não é muito legal, que é quando você tem certeza que vai chegar e vai dar certo, mas aí começa a enfrentar o que eu detesto, que é o mundo real, burocrático: visto para países, vigília, revistas a barco, etc…
Para a Antártica, por exemplo, não dá mais para ir sozinho, porque a lei exige vigília de 24 horas. Os Estados Unidos são muito burocráticos. Na Europa tem o problema de migração, então somos revistados, a cada doze horas vem um helicóptero, uma lancha, patrulha… Essa é a parte que eu não gosto. Outra coisa que me incomodava muito era depender de patrocínio. Foi assim que surgiu a ideia de construir barcos e, consequentemente, fazer uma marina. Essa era uma das utopias que eu tinha, eu pensava: “Meu pai largou um monte de terra para a gente lá [em Paraty], não é possível que a gente não ache um jeito econômico de tirar dinheiro dessa terra sem desgastá-la”. E hoje eu tenho uma fazenda de engenho que é linda de morrer, tem uma casa bonita, mas não tem mais nada, não produz nada, e daqui a mil e quinhentos anos vai estar do mesmo jeito. A gente só tem o serviço de guarda de barcos na água. Em terra, a gente não tem nada.
Onde você se sentiu mais local e integrado com o lugar?
Nossa, que pergunta interessante. [pausa] O lugar onde eu quis ser mais integrado foi as Ilhas Feroe. Um lugar que me marcou profundamente e que eu nunca mais visitei, e gostaria de visitar alguma hora. É um arquipélago escandinavo que fica próximo à Islândia e foi ocupado pelos Vikings no ano 826, e eles estão lá desde então. É uma das comunidades mais prósperas do mundo. E também é uma das culturas mais interessantes em relação a trabalho, tradição e modernidade. Todas as ações sociais são comandadas por mulheres. Até a paquera! Quem vai atrás são as meninas, e não os caras. Um lugar onde se trabalha até uma idade muito elevada, onde ninguém tem alguém para fazer o seu trabalho – quer dizer, não existe funcionários lá, todo mundo faz tudo.
Eu tenho ascendência escandinava e sei que os suecos são muito caretas e arrogantes, os dinamarqueses são muito bêbados, e os noruegueses são meio fechados e caipiras. Mas o pessoal das Ilhas Feroe lembra muito o pessoal do Brasil; são muito expansivos. As pessoas [dessa ilha] são as mais bonitas que eu vi na minha vida. Homens e mulheres – você pega as dez loiras mais espetaculares do Brasil; qualquer caminhoneira das Ilhas Feroe dá de dez. Conheci vários professores lá, por isso que eu acabei voltando. Eu fiquei mais ou menos dois períodos de quase um mês.
O que mais me impressionou é que a razão da prosperidade deles é a metodologia de ensino, que não mudou, desde o tempo dos nórdicos. Eles não têm aula de matemática, física, química. Eles ensinam, na grade curricular dos alunos, a construção de um barco viking ou de uma casinha viking e, no processo de construção do barco e da casinha, ensinam filosofia, matemática, física, química. Tudo aplicado.
Tenho um amigo lá, que na época tinha 21 anos, e se casou com uma menina de 19. Eles ganharam uma licença de trabalho de noventa dias para construir, eles mesmos, a sua casa própria. Pegaram um terreno, fizeram a terraplanagem, a fundação e construíram a casa onde eles vão morar o resto da vida. É uma terra onde as pessoas trabalham muito, se divertem muito, vivem intensamente e têm uma ligação muito forte com o mar. Tudo para eles vem do mar. Eles não têm produto próprio. Mas é um arquipélago muito interessante, porque eles são muito prósperos, e todo mundo se ajuda.
Li que você é fã da simplicidade e eficiência do design sueco. No brasil, apesar de muito diferente, também existe uma simplicidade no design, muita das vezes não valorizada por nós. Qual você acha que é o grande legado do design brasileiro para o mundo?
Não cabe mais, nos dias de hoje, você criar uma marca bonita e sonora, sem que ela tenha um valor autêntico por trás. Nesse aspecto, o Brasil tem uma autenticidade extraordinária. Por exemplo, no jeito de se mover sobre a água. Somos o único país que tem vários tipos de barcos regionais que ainda – por milagre – estão vivos. Os remos, outro exemplo, olha que loucura [aponta para vários remos pendurados na parede]. Existem mais de mil tipos diferentes, e cada detalhe tem uma razão de ser. Por que aquela pala é totalmente redonda, por que aquela outra tem uma ponta, aquela tem dois espetos, o remo de Paraty tem uma quilha no meio… existe uma razão funcional ligada ao uso de cada um. É um exercício de design sensacional. Eu vejo com muita preocupação o mundo globalizado. Temos que buscar nossas origens nas nossas raízes.
Não existe mais nenhum segredo. Os americanos desenham os produtos – barcos incríveis –, e os chineses fabricam. Se não começarmos a entender o design como um patrimônio intelectual, como um valor econômico para o futuro, estamos absolutamente fragilizados, à mercê. Nós não temos a cultura da eficiência, e, para conquistar essa cultura da precisão, da pontualidade, vai levar várias gerações.
No Brasil, existem mais de mil tipos de remos, e mais de trezentos tipos de barcos. Nos Estados Unidos não existe trezentos. O Reino Unido tinha tipos interessantes, a Escandinávia também, e sumiram, porque hoje as soluções tecnológicas vão se pasteurizando, ninguém usa um carro de oitenta, cem anos atrás, mas os barcos, ainda usamos uns de quatrocentos, quinhentos anos atrás. O barquinho que quase me matou é de um feitio de muitos séculos atrás. Na Amazônia existem barcos lindos. Mas o que acontece hoje? Os barcos de alumínio chegaram, e, de repente, o design local sumiu. Evaporou. A gente simplesmente não empreendeu um movimento de valorização do nosso patrimônio criativo. E isso vale para muitas outras coisas. Para a música, a indústria automobilística, a comida.
Você cita Vida e morte da cidade, da Jane Jacobs, como uma grande influência pessoal. Como você tem visto as evoluções do ponto de vista de urbanismo – mais especificamente da mobilidade urbana – na cidade de são Paulo?
O Robert Moses [engenheiro norte-americano que moldou as grandes cidades no século XX e apresentou um projeto para a construção do metrô de São Paulo] e o La Guardia, quando começaram a avançar e cortar Nova York, destruíram bairros que tinham vida própria, e, na mesma época, Jane Jacobs estava questionando esse gigantismo das vias expressas e começando a mostrar a importância de criar vida autêntica nos bairros e nas comunidades. É um assunto que eu gosto muito. Eu questiono muito o modelo de urbanismo que temos hoje. A favela é um modelo caótico, mas tem uma certa coerência, porque você mistura a moradia. A maior parte dos problemas sociais que temos hoje está ligada a uma falta completa de uma política urbanística ou de uma preocupação de como as cidades devem acontecer, ou como devem crescer. Eu entendo a cidade como um organismo vivo que uma hora amadurece e não pode continuar crescendo. Estamos vivendo um momento – é polêmico falar isso, 90% dos urbanistas não concordam, mas eu acho que São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Rio, por exemplo, são cidades que têm que começar a diminuir. Tem que começar a construir qualidade, não mais tamanho; não se pode mais continuar verticalizando. Estamos vivendo em um caos; o metrô já não é mais solução, e sim um problema. O que que adianta aumentar a malha do metrô se ela passa pelos mesmos gargalos? Você não consegue entrar na Sé às 6:30 da manhã com o pé no chão. Você é levado para algum vagão que você nem sabe qual é.
Quem que você citaria como as suas maiores fontes de inspiração, além de todos esses que você já falou?
Eu gosto de me inspirar em quem depende do que faz para sobreviver. Um monte de gente louca, que não estudou. É claro que eu gosto de estudar os ícones em cada área – em urbanismo, nas artes –, mas quando você encontra caras que nem os de Camocim [cidade litorânea no Ceará], que fazem esses barcos e ficam quinze dias no mar sem luz, sem um instrumento… É o tipo de inspiração que eu gosto de procurar. Acho legal entender o conhecimento acadêmico formal, artístico consagrado e, também, acho legal me inspirar nessas pessoas extraordinariamente simples e não instruídas, que têm uma sabedoria que é muito difícil de ser reconhecida. Isso vai acabar. A tendência no mundo de hoje, se a gente vai incorporando o conforto da vida urbana e vai dependendo cada vez mais de um saber fazer não autêntico para sobreviver, esse conhecimento vai morrendo. É uma forma de indigência.
Em que projetos está trabalhando no momento?
Estou trabalhando no conceito dos flutuantes que estou construindo com minha equipe. Fomos muito felizes tecnicamente com eles, e queremos ver se, um dia, conseguimos expandir isso para fazer bairros flutuantes, ou eventualmente comunidades flutuantes. O Brasil é um dos raros países que têm regiões que têm vocação para isso. O Pantanal, por exemplo. É muito mais sustentável, é de muito menor impacto você fazer as habitações sobre a água em vez de sobre a terra. No rio Negro você tem variações de 22, 23 metros de nível de água; é uma insanidade fazer cidade sobre a terra com esgoto correndo e gastar fortunas para canalizar quando você pode fazer tudo isso num nível só, in loco, embaixo da própria casa. Nós temos a tecnologia hoje, ela está no Brasil. Temos a solução, mas não conseguimos fazer as ideias. Existem vários lugares no mundo que têm cidades flutuantes. Vancouver e Seattle têm bairros inteiros flutuantes. Era um pessoal que tinha menos recurso e, então, fez cidades sobre toras de madeira, aí criou-se uma regulamentação técnica para isso.
O que você gostaria de fazer que você ainda não fez?
Ah, tudo, né? [risos] As coisas mudaram. Ir para a Antártica hoje não é tão legal como já foi; você tem que se tornar um operador turístico internacional, tem que fazer cadastro na International Association of Antarctic Tour Operator – eu falo que eu não quero operar turismo na Antártica, eu só quero ir para lá porque eu gosto. Mas sem ser membro OEA, não se pode ir mais. Então eu vou descobrir outros lugares, outros países, sei lá. Mas também me divirto muito indo para Guaraqueçaba.
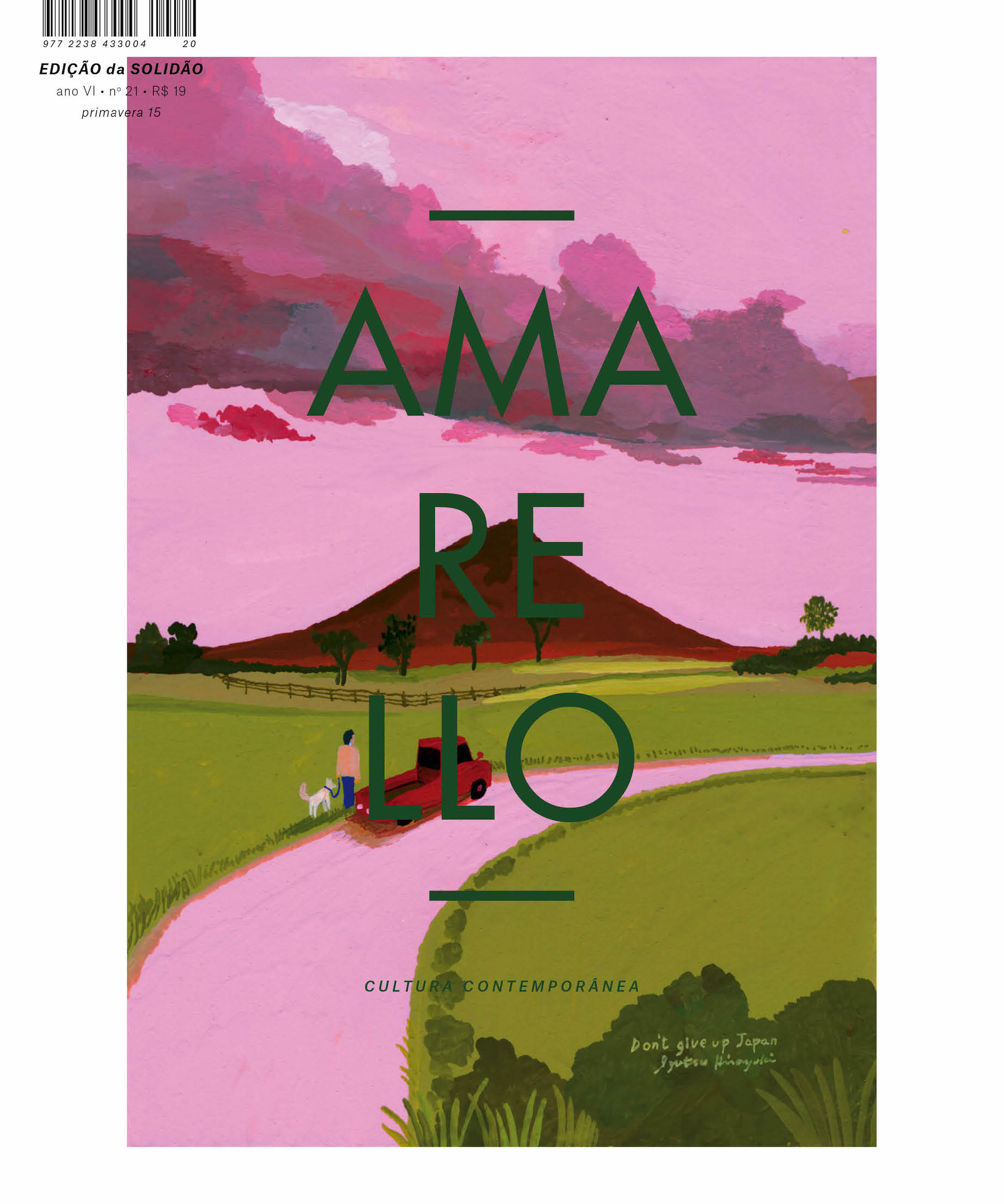
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista