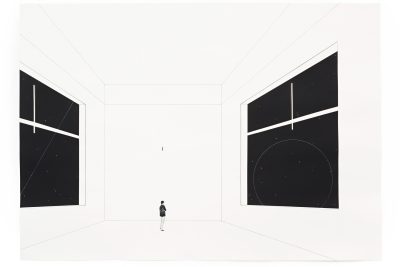Encontro de águas
Aceitei o convite como quem aceita uma intimação. Tem coisas na vida que a gente não pode dizer “não”. Primeiro, porque não quer. Segundo, porque algo no convite soa como um chamado: “vem comigo, no caminho eu explico”- disse o amigo que, me conhecendo como a palma de sua mão, estendeu-a para mim em oferta de salvação.

Há dois anos dando apenas voltas no quarteirão e me esquivando de encontros, eu tinha me tornado, com a experiência da pandemia, aquela espécie de peixe que fica imóvel no aquário e você não sabe se ele está vivo, ou se é apenas um melancólico enfeite. A memória do medo profundo e a ansiedade súbita – parceiras novas que adquiri após ter contraído a Covid 19 antes da chegada da vacina – haviam se tornado fiéis companheiras num dia a dia pautado pela aridez de um país brutalizado. E eu havia secado.
Foi nesse contexto que surgiu a mão para me resgatar antes que eu morresse desidratada, inerte, dentro do aquário doméstico: a mão de Ronaldo Fraga, um artista que transborda amor pelo Brasil. Na tatuagem que nasce no dorso da mão de Ronaldo e sobe pelo braço estão palavras escritas por Mario de Andrade. São trechos de cartas para Drummond em que Mário afirma seu gosto pela vida e sua devoção pelo país. O escritor, que, no final da década de 1920, viajou para o Norte e Nordeste e em seguida publicou O Turista Aprendiz, teve um papel transformador na existência do poeta mineiro. Mário é também uma das maiores fontes de inspiração para esse outro mineiro, o estilista, que nos ensina que amar verdadeiramente a vida nunca sai de moda. “Carlos, devote-se ao Brasil, junto comigo. Apesar de todo o ceticismo, apesar de todo o pessimismo”, escreveu Mário. Essas palavras ecoaram em mim, através de Ronaldo. E, então, parti para o Sertão.
Com essa sede, cheguei à Paraíba, para a Expedição Cariri Ronaldo Fraga, um projeto que junta a experiência de arte e vida do timoneiro Ronaldo, com o talento gastronômico e inventivo de seu companheiro, Hoslany Fernandes, e o conhecimento local aliado à formação em turismo dos irmãos Thiago e Pablo Buriti, criadores da agência Que Visu.

O roteiro parte de João Pessoa e deixa o litoral em direção ao Cariri, palavra que se refere à etnia indígena que viveu no interior do Nordeste. E agora sou eu que lhe estendo a mão, convidando você a me acompanhar na travessia das minhas memórias em direção a um encontro de águas que permeiam essa navegação – do mar rumo ao sertão.
Sair da minha caverna e dar de cara com o azul esverdeado fosforescente do mar da Paraíba fez-me lembrar o quanto nossas lágrimas são salgadas e por quê, quando sentimos uma emoção que vem lá do fundo, dizemos que nossos olhos “marejam”. Uma vez escrevi um poema assim: “Quando a gente chora, o mar de dentro vira mar de fora?”. Ali, acolhida pelo conforto de um mar morninho aconteceu o primeiro encontro entre minhas águas de dentro e as imensas, de fora. E começou a nascer uma fronteira permeável nesse contorno chamado corpo.
Pois foi com o corpo ainda coberto de sal que fui conhecer o trabalho das Sereias da Penha, na Praia da Penha, e acompanhar um pouco do ofício de um grupo de mulheres – e também seus filhos e filhas – que transformam escamas de peixe em arte. Escamas que eram descartadas pelos pescadores, consideradas lixo, hoje têm outro destino: melhorar a vida de muitas famílias e mostrar pra quem não acredita, que peixes como Camurupim, Pescada, Cioba e Budião podem virar flores e ornamentos. As escamas ficam lindas também quando tingidas com chá de casca de cebola, café, beterraba e até feijão. “Tudo o que serve para o lixo, serve para a poesia”, ensinou-me o poeta Manoel de Barros. As Sereias da Penha, nome criado por Ronaldo, que trouxe também o fio de cobre e o crochê para as criações, fazem poesia. Saí de lá com um buquê de rosinhas minúsculas que trouxe comigo para nunca esquecer essas delicadezas. E de tanto marejar, meus olhos já nem ardiam mais.
Rumo ao Sertão. Em pouco tempo, vira-se a chave já na estrada. O mar vira memória. Azul, agora, só o céu carregado de nuvens gorduchas como algodão. Céu que encosta no chão, cheio de espaços vazios, de casas sem vizinhos. Ronaldo pede que reparemos na palheta de cores. O marrom adentra aos poucos a paisagem, na terra e na vegetação, substituindo a ausência do verde das folhas. Se o sertão vai virar mar, ou o mar virar sertão, como canta a canção, já não sei. Sei que a água desapareceu da vista. Mas há de estar em algum lugar.
Na Pedra do Ingá, monumento arqueológico situado num terreno rochoso onde paramos para ver inscrições rupestres, havia um rastro de água. Pequenas pocinhas escondidas no fundo de alguns buracos no meio das pedras debaixo do primeiro sol inclemente em um lugar que parece o solo da lua. Da escrita fenícia aos extraterrestres, muitas são as hipóteses dos autores dos símbolos encontrados na pedra situada numa região que foi habitada pelos indígenas Potiguaras. E, diante da crise climática, não há como não fazer um espelhamento, ainda que imaginado, com as “pedras da fome” reveladas recentemente em rios da Europa. Avisos do passado escritos em rochas no leito dos rios que só são visíveis quando os níveis de água estão extremamente baixos. “Se você me vir, chore”, diz uma das inscrições, como um presságio das dificuldades geradas pela seca. Coisas que quem habita o Cariri conhece bem. E pode ensinar pro mundo que precisa conhecer.
O sal do meu corpo agora já não vinha de olhos marejados, mas de suor abundante. Água de dentro. O verde que tinha sumido da paisagem migrou, junto com outras cores vivas, para as paredes das pequenas casas que parecem de brinquedo quando olhamos pelo lado de fora. Foi, então, que comecei a conhecer as mulheres desse sertão e a entender que “sede” é uma palavra em que cabe muita coisa dentro, além de água.
No Memorial do Cuscuz, leia-se a casa de Dona Lia, tem mesa farta. Tem as panelas mais prateadas do mundo, o fogão à lenha mais limpo e a pedra de moer milho que era da bisavó. Pesa que só. Mas Dona Lia tem braço, sorriso tão farto quanto a mesa posta e a tal da sede, que faz a pedra girar. Tem sombra, tem rede, tem suco, tem casa melhorada e enfeitada para receber gente amada que vem de fora, porque quem vem com Ronaldo é gente que já passa a ser amada nas casas desse sertão. Quando ele leva pela mão, o afeto já vem garantido, por ele ter um jeito de olhar o outro com amor. Assim foi na casa de Dona Lia e também na de Dona Lúcia, do tear. Ela, que manuseia o tear de madeira herdado pela mãe, criou sete filhos – e o marido, hoje cego – com suas linhas e tramas. E me disse, como mulher que sabe das coisas: “tenha seu ofício”. Foi o ofício dela que a salvou na pandemia. Dona Lúcia me confessou ter muita pena de quem estava fechado em apartamentos enquanto ela podia olhar aquele mundão sem fim. Essa pessoa de quem ela tinha pena era eu. Mas não falei nada. Comi as fatias de melancia deliciosas e frescas que me escorreram pelos cotovelos, como braços que choram. E comecei a sentir mais profundamente a umidade do sertão.
Chegando em Cabaceiras, cidadezinha em que foi rodado o filme “O Auto da Compadecida”, na Hollywood Nordestina, o sol era impiedoso. Mas eu, tomada por euforia e teimosia, resolvi andar mesmo assim, fascinada pelo lugar. Andei, andei, torrei, torrei e, estranhamente, não havia ninguém na cidade inteira. Só consegui ouvir uma musica vindo de dentro de uma casa fechada. Onde estavam as pessoas? Certamente, fugindo do sol que eu achava poder enfrentar. Ia desfalecer quando vi uma árvore vermelha. Miragem? Não, um flamboyant. E eis que surge, próximo a ele, uma mulher que, percebendo meu desfalecimento, me oferece um banho. Miragem? Não. Havia um balde perto e, não querendo incomodar, disse que poderia lavar o rosto ali mesmo. Ao que ela respondeu: “de jeito nenhum, essa água quente vai lhe ofender”. Sim, ela usou a palavra “ofender”. Entrei numa portinha e abri um minúsculo chuveiro de água fresca na minha cabeça, de roupa e tudo. Contei até dez pra economizar e desliguei. Adriana era o nome dela. Agradeci infinitamente. Ela entendia de sede. E de mulheres. E isso é tudo que sei.
A essa altura, o Cariri já tinha virado minha cabeça e, mesmo com sede, de alguma forma eu já me sentia diferente. Algo na minha secura estava se transformando em vontade. E se transformou de vez ao conhecer a Josi, Josivane Caiano, afilhada e guardiã do legado de Dona Zabé da Loca, “pifeira” que se tornou conhecida por sua música e por ter passado vinte e cinco anos vivendo debaixo de uma pedra. Josi, hoje empreendedora cultural e líder da maior associação rural do Cariri paraibano, o assentamento Santa Catarina, onde vivem mais de três mil pessoas, alfabetizou-se aos 27 anos, andando sozinha, a pé, no escuro, enfrentando dois quilômetros para ir e outros dois pra voltar, para cursar o EJA. Quando aprendeu a ler, separou-se do marido. Entendedoras entenderão. Ela nos apresenta o universo de Dona Zabé e, por fim, leva-nos para o restaurante que construiu, literalmente, com suas próprias mãos: uma casa de taipa, onde tudo, absolutamente tudo, tem beleza e cuidado. Flores em latas de óleo um pouco enferrujadas enfeitam as mesas com poesia. E há farta comida, feita com o alimento produzido na região. Com o dinheiro arrecadado, Josi estava comprando caixas d’água para armazenar o bem mais escasso. Ao partir, abracei-a, agradecida pela partilha de tanta fé no Brasil, que precisa ser amado e tem tanto a ensinar sobre o amor.
No topo do Lajedo de Pai Mateus, uma formação rochosa com imensos pedregulhos que parecem que vão rolar a qualquer momento, senti apenas o vento e a minha solidão. Avistei uma espécie de piscina ao redor da subida e aprendi que é um reservatório feito para armazenar a água da chuva que desce pelas pedras. Ali os animais eram felizes, refrescando-se numa pocinha d´água. Naquele local sagrado, habitado um dia por um homem escravizado que fugiu, e era conhecido como um curandeiro muito procurado pelas pessoas para a cura de suas doenças, faltaram-me palavras. Eu já era toda sertão. Já tinha pernas arranhadas, porque o sertão ensina os iniciantes de todas as maneiras. E, se minhas pernas fugiam dos espinhos, foi fechando os olhos e passando as mãos devagarzinho pelos espinhos do xique-xique que ouvi correr um riacho. Ou uma chuva fina num telhado, pois é fato, um carinho no espinho faz ele chorar mansinho. Não sai água, só som. Mas o sertão também é imaginação. E seco é quem não a tem.
E foi já tomada pela imaginação que cheguei ao ponto final do percurso: a Fazenda Carnaúba, terra de Ariano Suassuna, em Taperoá. Lugar mágico, onde os primos Manu, filho de Ariano, e Dantas Vilar, filho de Manoel Vilar, abastecem-nos com tantas histórias que fica impossível traçar um início, um meio ou um fim. Conhecer o quarto de Ariano na fazenda e ouvir Manu e Dantinhas falarem sobre o Movimento Armorial faz a gente sentir que o tempo no sertão gira em outra toada. A fazenda é hoje referência na produção de laticínios de cabra no semiárido nordestino, com queijos premiados no Brasil e no mundo. E a história fica ainda melhor quando descobrimos que tudo começou na década de 70, quando Ariano e Manelito – como era conhecido – compraram 200 cabras com o dinheiro que Ariano recebeu de um prêmio pelo romance “A Pedra do Reino”. Na saída da fazenda vi a placa da pluviometria com a frase: “O Nordeste seco das águas desarrumadas”. Em 2021, apenas dezessete dias com chuva na região.
A volta pela estrada de terra, rodeada de vegetação cinzenta quase branca, por onde existe sempre uma cabra vagando perdida pelos gravetos ou crianças brincando com pneus velhos, tornou-se alaranjada, azul marinho e, então, negra. Repleta de estrelas. E repleta de emoção, entre a fadiga e a euforia, eu trazia no peito os afluentes dessas muitas vidas que vi de passagem, da aparente secura que é na verdade fartura, e que tanto me umedeceu. Só na estrada, de mãos dadas com Ronaldo, que dormia, finalmente transbordei. E entendi os mandacarus que, espinhentos por fora, guardam tanta água escondida dentro. Chorei silenciosamente todo o caminho de volta. Eu era outra, sendo a mesma, resgatada. Renascida. Se “o sertão é dentro da gente”, como diz Guimarães Rosa, o encontro das águas também há de ser lá.