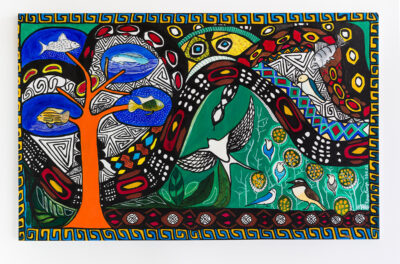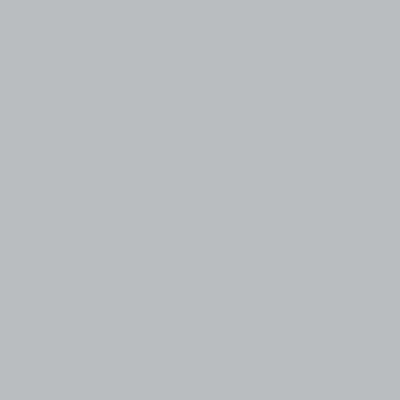Estou no aeroporto, em Auckland, indo para Queenstown, são oito da manhã e o weather channel do iPod marca sete graus. Em maori, Nova Zelândia quer dizer “a terra da grande nuvem branca” — o que é bonito, pois é como se “nuvem” fosse um elemento que pertencesse à terra.
Achei que conseguiria te escrever antes, mas só agora abri o computador, na sala de embarque lotada, que talvez não seja o lugar mais apropriado para pensar sobre as relações entre solidão e arte.
Porque é essa a minha tarefa agora: escrever um texto sobre a importância (ou não) de se apartar do mundo para produzir algo, um romance, por exemplo.
Trouxe comigo um livro, Kassel no invita a la logica, do catalão Enrique Vila-Matas. Acabei de passar da página duzentos. Você iria gostar. O protagonista é um escritor que é convidado a ir à Documenta, em Kassel, com uma missão: passar as manhãs, ao longo de três semanas, num restaurante chinês da cidade, e ali, na frente de todos, escrever uma ficção, de preferência interagindo com eventuais curiosos.
Ao entrar no Dschingis Khan (é o nome do restaurante), ele vê seu posto: uma mesa redonda num canto triste do estabelecimento chinês. Nela, há um “horrendo vaso de flores” e um “cartaz amarelo gasto e envelhecido” em que se lê: writer in residence. Sua vontade, claro, é de sumir.
Avançamos sobre esta que é uma das fronteiras últimas do privado (a escrita, a realização de uma obra)? A experiência contemporânea permite que fiquemos sozinhos? Tudo é feito para ser mostrado? O eixo da intimidade se deslocou irremediavelmente? Foram perguntas que fui me fazendo ao longo da leitura, de olho no texto que deveria escrever, sobre solidão e arte, arte e solidão. O personagem de Vila-Matas lembra de Kafka, que, em uma carta à noiva Felice Bauer, escreve: “A melhor vida para mim consistiria em ficar confinado com uma lâmpada e com o necessário para escrever no lugar mais profundo de um amplo porão fechado”. Em outra carta, de 1913, o tcheco expressava o seu medo de que Bauer, quando se casassem, espiasse tudo o que ele escrevia. Diz a lenda que, de fato, Felice havia comentado carinhosamente por escrito o seu desejo de, no futuro, sentar-se ao lado do noivo enquanto este escrevia.
Entre 1910 e 1923, Kafka escreveu um diário. Quarenta anos mais tarde, o polonês Witold Gombrowicz também escreveu um diário. Mas, enquanto Kafka relatava para si, e somente para si, suas noites de raios e trovões, Gombrowicz sabia que seu diário seria lido, escrevia para isso. A espontaneidade passava a ser um efeito. A partir de Gombrowicz, o diário — ou a correspondência (como em Querida família, as cartas que Manuel Puig enviou da Europa a seus pais, entre 1956 e 62) — torna-se um gênero, artificial, construído. Moral da história: Gombrowicz estaria mais à vontade escrevendo à vista de todos nos fundos de um restaurante chinês em Kassel do que Kafka.
O interessante é que, apesar do tom irônico, ao narrar as peripécias do escritor residente no restaurante chinês, Vila-Matas não é pessimista. Em suma: não acredita que o mundo de Gombrowicz seja pior do que o de Kafka. O que o catalão vai fazer é justamente o contrário: uma defesa da vanguarda, do contemporâneo, do novo. E é bonito ver isso vindo de um escritor, ver seu interesse em narrar histórias, sim, mas não opor isso à invenção e ao empenho em buscar o novo.
Bom, já falei demais. Vou tentar escrever alguma coisa sobre isso, agora, antes que tudo se dissipe, como uma grande nuvem branca. Você sabia, aliás, que existe uma “Sociedade de Admiração das Nuvens”? Foi criada na Inglaterra, mas há muitos membros neozelandeses. Vou tentar encontrar algum deles por aqui. Na carta de princípios da sociedade, eles dizem que se comprometem a combater a “mentalidade do céu azul onde quer que ela exista”, porque a vida seria tediosa sem as nuvens.
Acho que isso pode ser um bom guia por aqui — ou para uma ida a Kassel.
Até muito breve,
E.
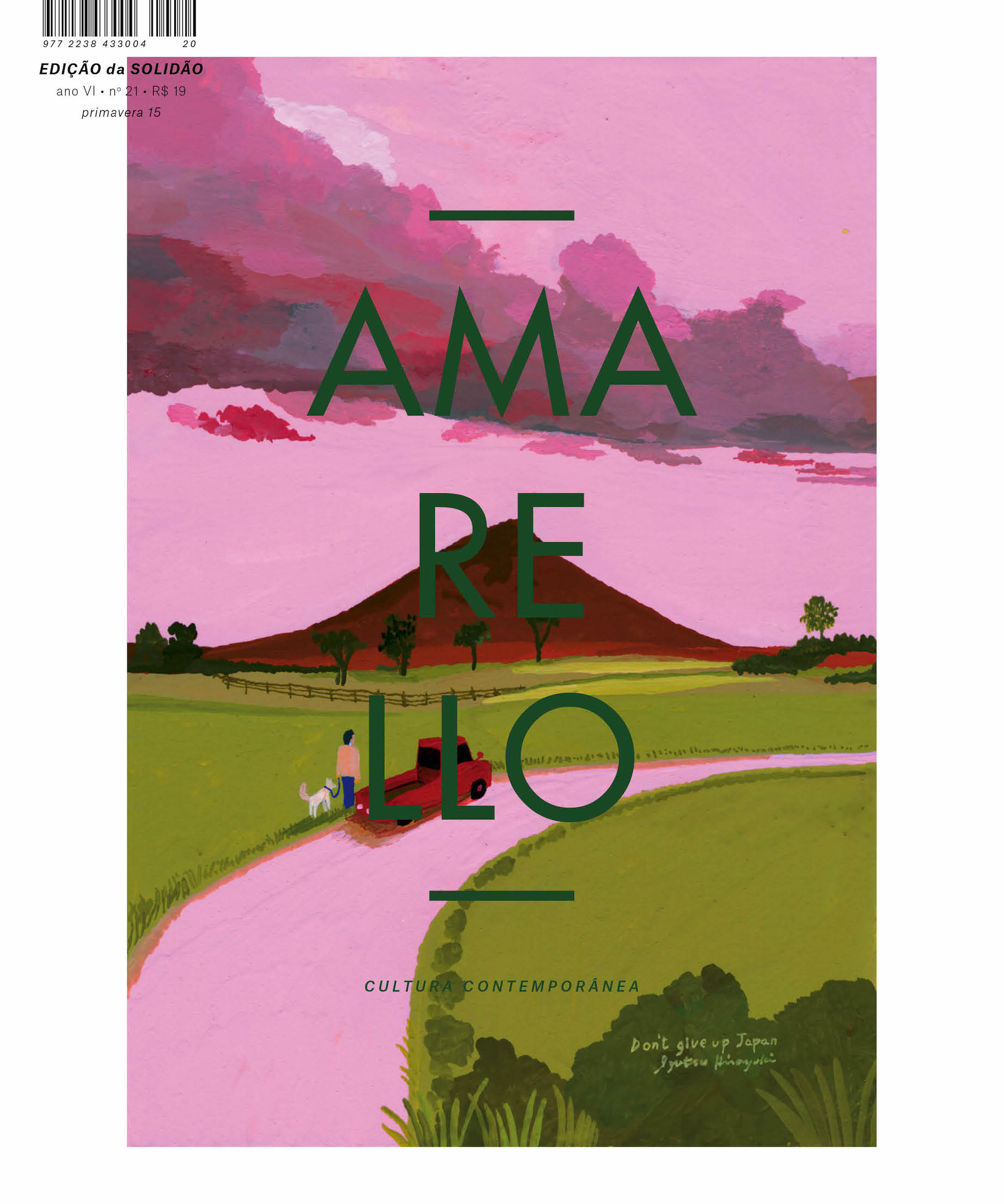
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista